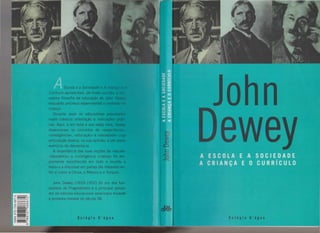
Dewey, John - A escola e a sociedade; A criança e o currículo
- 1. l l " l = ·=CJ[O=t-- co=CO •--CD co ====cof2-o N-,....,,....=CJ °'=miiiiiiiiiiii""'- z !!!!!!!!!! O> m=co (/)~f... ---CJ) Escola e a Sociedade e A cri n Currículo apresentam, de modo sucinto, vadora filosofia da educação de John O w enquanto processo experimental e centr d criança. Durante anos os educadores procur r m neste clássico orientação e indicações pr ti cas. Aqui, e em toda a sua vasta obra, D w y desenvolveu os conceitos de «experiên la , «inteligência», «educação» e «sociedade• CUJ articulação levaria, na sua opinião, a um pleno exercício da democracia. A importância das suas noções de «escola -laboratório» e «inteligência criativa» foi am piamente reconhecida em todo o mundo e levou-o a discursar em países tão distantes en- tre si como a China, o México e a Turquia. John Dewey (1859-1952) foi um dos fun- dadores do Pragmatismo e o principal pensa- dor da reforma educacional americana durante a primeira metade do século XX. Relógio D'água Relógio D'água
- 2. '1Dfie SCHOOL lll1Ú SOCIETY BEIN&THREELECTUBES .!:YJOHN DEWEY PROFESSOR 01 PEDAGOGYIN THE UNIVERSITY OF CHICAGO JUPPL.EMENTED BY A STATEMENT OF THE UNIVERSITY ELEMENTARYSCHOOL @ EB A Escola e a Sociedade e A Criança e o Currículo ..j'
- 3. Rua Sylvio Rebelo, n.º 15 1000-282 Lisboa Telef.: 21 8474450 Fax: 21 8470775 Internet: www.relogiodagua.pt e-mail: relogiodagua@relogiodagua.pt Título: A Escola e a Sociedade e A Criança e o Currículo Título original: The School and Society (1900) and The Child and the Curriculum (1902) Autor: John Dewey Tradução de Paulo Faria (Notas do Autor e dos capítulos «A Escola e o Progresso Social» e «A Escola e a Vida da Criança»); Maria João Alvarez (restantes capítulos de A Escola e a Sociedade) e de Isabel Sá (A Criança e o Currículo). Capa: Fernando Mateus sobre fotos do autor ©Relógio D'Água Editores, Fevereiro de 2002 Composição e paginação: Relógio D'Água Editores Impressão: Rolo & Filhos, Artes Gráficas, Lda. Depósito Legal n.º: 176884/02 John Dewey A Escola e a Sociedade e A Criança e o Currículo Tradução de Paulo Faria, Maria João Alvarez e Isabel Sá Ensino
- 4. Índice Lista de ilustrações 9 A ESCOLA E A SOCIEDADE Nota do Autor 13 Nota do Autor à Segunda Edição 15 1. A Escola e o Progresso Social 17 II. A Escola e a Vida da Criança 37 III. O Desperdício na Educação 59 IV. A Psicologia da Educação Elementar 83 V. Os Princípios da Educação de Froebel 101 VI. A Psicologia das Ocupações 115 VII. O Desenvolvimento da Atenção 121 VIII. O Objectivo da História na Educação Elementar 131 PÓS-ESCRITO: TRÊS ANOS DE ESCOLA ELEMENTAR UNIVERSITÁRIA 139 A CRIANÇA E O CURRÍCULO 155
- 5. Lista de ilustrações Fig. 1: Desenho duma caverna e árvores Fig. 2: Desenho duma floresta Fig. 3: Desenho duma rapariga a fiar Fig. 4: Desenho de duas mãos a fiar Quadro 1 Quadro II Quadro III Quadro IV 45 47 49 50 61 66 71 75
- 6. A ESCOLA E A SOCIEDADE
- 7. Nota do Autor Uma segunda publicação proporciona-me a agradável opor- tunidade de recordar que este pequeno livro é fruto do concurso dos pensamentos e afinidades de muitas pessoas. O muito que a sua feitura deve à Sr.ª Emmons Blaine é em parte indicado na dedicatória. O Sr. e a Sr.ª George Herbert Mead, meus excelen- tes amigos, deram mostras dum interesse, duma infatigável atenção aos pormenores e dum gosto artístico que, na minha au- sência, lhes permitiram reformular comentários coloquiais, vertendo-os numa linguagem escrita adequada, e, em seguida, acompanhar a impressão do texto, com o excelente resultado aqui patente - uma espécie de autoria repartida, que eu acon- selho vivamente aos que têm a sorte de possuir amigos assim. Ser-me-ia necessário um parágrafo bem extenso para indicar os nomes de todos os amigos cuja oportuna e duradoura gene- rosidade tomou possível o funcionamento da escola* que inspi- rou e definiu as ideias contidas nestas páginas. Estes amigos, es- tou certo, seriam os primeiros a reconhecer a pertinência duma menção especial dos nomes da Sr.ª Charles R. Crane e da Sr.ª William R. Linn. * Os três primeiros capítulos deste volume constituíam, originalmente, o texto de outras tantas conferências, proferidas na Escola Elementar da Universidade de Chi- cago, em Abril de 1899, diante dum público de pais e outros interessados. (N. E. O.)
- 8. 14 John Dewey A própria escola, com o trabalho educativo nela desenvolvido, é um empreendimento conjunto. Muitos foram os que se empe- nharam em construi-la. Em toda a sua tessitura, é notório o cunho da inteligência lúcida e experimentada da minha mulher. A sabe- doria, tacto e dedicação dos professores levou a que os seus de- sígnios originais, necessariamente amorfos, dessem lugar a um todo coeso, onde forma e substância se articulam, com vida e movimento próprios. Qualquer que seja o sucesso das ideias apresentadas neste livro, perdurará em mim a satisfação resul- tante da cooperação dos diversos pensamentos e actos de nume- rosas pessoas que tentaram enriquecer a vida das crianças. Nota do Autor à Segunda Edição A presente edição inclui algumas ligeiras revisões verbais das três conferências que constituem a primeira parte deste livro. A segunda parte, aqui incluída pela primeira vez, contém material extraído, com algumas alterações, das contribuições do autor para os Registos da Escola Elementar, há muito esgotados. Ao autor talvez seja permitido expressar a sua satisfação pe- lo facto de a perspectiva educacional apresentada neste livro não ser hoje tão inovadora como o era há quinze anos; e o seu desejo de acreditar que a experiência educacional de que este li- vro é um produto teve alguma influência nesta mudança. NovAIORQUE Julho de 1915 J.D.
- 9. 1 A ESCOLA E O PROGRESSO SOCIAL Temos tendência para encarar a escola segundo uma perspec- tiva individualista, pondo a tónica na relação entre professor e aluno, ou entre professor e pai. Aquilo que mais nos interessa são, naturalmente, os progressos feitos pela criança individual que conhecemos, o seu desenvolvimento físico normal, a sua evolução no que toca à capacidade de ler, escrever e contar, o aumento dos seus conhecimentos de geografia e história, as suas melhorias em termos de conduta, hábitos de higiene, ordem e zelo - é com base nesses padrões que avaliamos o trabalho da escola. E é justo que assim seja. Todavia, é conveniente que am- pliemos o alcance desta perspectiva. Aquilo que o pai mais dili- gente e sensato deseja para o seu próprio filho, a comunidade deverá desejá-lo para todas as crianças que crescem no seu seio. Qualquer outro ideal para as nossas escolas é limitado e perni- cioso; posto em prática, destruirá a nossa democracia. Tudo o que a sociedade alcançou para seu benefício é posto, por inter- médio da escola, ao dispor dos seus futuros membros, bem co- mo todas as suas utopias, que ela espera realizar através das no- vas possibilidades assim abertas ao seu futuro corpo. Aqui, o in- dividualismo e o socialismo estão em harmonia. Só permitindo
- 10. 18 John Dewey o pleno desenvolvimento de todos os indivíduos que a com- põem poderá a sociedade eventualmente manter-se fiel à suara- zão de ser. E, ao impor a si própria este rumo, nada conta tanto como a escola, pois, como disse Horace Mann: «Onde quer que haja coisas a crescer, um formador vale por mil reformadores.» Sempre que temos em mente a discussão dum novo movi- mento educativo, é especialmente necessário que adaptemos o ponto de vista mais amplo, ou social. Doutra forma, as mudan- ças na instituição e nas tradições escolares serão encaradas como invenções arbitrárias de determinados professores, no pior dos casos modas transitórias e, no melhor, simples melhoramentos de certos pormenores - e é este o plano em que, demasiadas ve- zes, são colocadas as mudanças na escola. É algo de tão pouco racional como conceber a locomotiva ou o telégrafo como dis- positivos ao serviço de um punhado de pessoas. As modificações em curso nos métodos e programas educativos são em igual me- dida um produto das mudanças na situação social e um esforço para satisfazer as necessidades da nova sociedade que está a formar-se, à imagem do que sucede com as alterações a que as- sistimos nos campos da indústria e do comércio. É, pois, para isto que eu chamo especialmente a vossa aten- ção: o esforço para conceber aquilo que pode ser designado de forma algo simplista como a «Nova Educação», à luz das muta- ções mais amplas que se verificam na sociedade. Poderemos re- lacionar esta «Nova Educação» com a marcha geral dos aconte- cimentos? Se pudermos fazê-lo, ela perderá o seu carácter iso- lado; deixará de ser um assunto que brota apenas das mentes de- masiado fantasistas de pedagogos lidando com determinados alunos. Surgirá como parte integrante da evolução social no seu todo e, pelo menos nos seus traços mais gerais, como algo de inevitável. Indaguemos portanto quais os aspectos principais do movimento social e em seguida viremo-nos para a escola, ten- tando descobrir que testemunho ela nos dá do esforço para acompanhar essas tendências. E, dado que é impossível abordar A Escola e a Sociedade 19 este tema em toda a sua extensão, limitar-me-ei em grande me- dida neste capítulo a um aspecto típico do movimento da esco- la moderna - aquilo que costuma ser designado por treino ma- nual - esperando, caso a relação entre essa faceta e as condi- ções sociais em mutação se tome evidente, que estejais prontos a reconhecer que o mesmo sucede no respeitante a outras ino- vações educativas. Não me sinto obrigado a abordar em pormenor as mudanças sociais em questão. Aquelas que irei mencionar são tratadas de modo tão genérico que podem ser lidas quase na diagonal. A mu- dança que primeiro nos ocorre, aquela que ofusca e até condi- ciona todas as outras, é a revolução industrial - a aplicação prá- tica dos conhecimentos científicos, traduzida nas grandes inven- ções que têm vindo a utilizar as forças da natureza numa escala tão vasta como pouco dispendiosa: o crescimento dum mercado de dimensões mundiais como objectivo da produção, de vastos centros de manufactura para alimentar esse mercado, de meios de comunicação e distribuição baratos e rápidos entre todas as suas partes. Mesmo se remontarmos aos seus primórdios mais longínquos, este processo não conta muito mais de cem anos; muitos dos seus aspectos mais relevantes foram testemunhados pelas pessoas que ainda hoje vivem. Custa a crer que, em toda a história da humanidade, tenha havido uma revolução tão rápida, tão extensa e tão completa. Em consequência disto, a face da Terra está a ser alterada, mesmo no que toca à sua configuração física; as fronteiras políticas são apagadas e deslocadas, como se realmente não passassem de linhas num mapa de papel; a popu- lação concentra-se apressadamente em cidades, vinda dos quatro cantos do Planeta; os hábitos de vida são alterados com uma presteza e profundidade assustadoras; a busca das leis da nature- za é infinitamente estimulada e facilitada, e a respectiva aplica- ção à vida quotidiana toma-se não apenas possível, mas comer- cialmente indispensável. Até mesmo as nossas ideias e propen- sões morais e religiosas, que são as mais conservadoras, dado
- 11. 20 John Dewey que mais arreigadas da nossa natureza, acabam por ser profun- damente afectadas. Pensar que esta revolução não afectará a edu- cação senão dum modo formal e superficial é inconcebível. O sistema de produção fabril foi precedido pelo sistema de produção doméstica e comunitária. Aqueles que vivem no pre- sente têm apenas de recuar uma, duas ou, no máximo, três ge- rações para encontrar uma época em que o lar era praticamente o centro no qual se desenvolviam, ou em volta do qual estavam reunidas todas as formas típicas de ocupação industrial. As rou- pas que as pessoas usavam eram, na sua maior parte, feitas em casa; em geral, os membros do agregado familiar estavam igual- mente familiarizados com a tosquia das ovelhas, a cardação e a fiação da lã e o manejo do tear. Em vez de carregarem num bo- tão e inundarem a casa com luz eléctrica, todo o processo de ob- ter iluminação implicava uma sucessão laboriosa de tarefas, desde abater o animal e derreter a gordura até fabricar os pavios e as velas. As provisões de farinha, madeira, mantimentos, ma- teriais de construção, mobílias, até mesmo de objectos de metal, tais como pregos, dobradiças, martelos, etc., eram produzidas na vizinhança imediata dos lares, em oficinas que estavam cons- tantemente abertas à inspecção e funcionavam muitas vezes co- mo centros de congregação da comunidade. O processo indus- trial estava patente na sua totalidade, desde a produção das matérias-primas na quinta até que os artigos acabados eram pos- tos a uso. Além disso, praticamente todos os membros da famí- lia executavam uma dada parcela do trabalho. As crianças, à medida que adquiriam força e destreza, eram gradualmente ini- ciadas nos mistérios dos diversos processos. Tratava-se de ques- tões que lhes diziam respeito imediata e pessoalmente, impli- cando da sua parte uma participação efectiva. Não podemos menosprezar os factores de disciplina e forma- ção do carácter que este estilo de vida fomentava: promoção de hábitos de ordem e trabalho sistemático, bem como da ideia de responsabilidade, da obrigação de fazer algo, de produzir algo A. Escola e a Sociedade 21 no mundo. Havia sempre alguma coisa que precisava realmen- te de ser feita e uma necessidade real de que cada um dos mem- hros do agregado familiar executasse a parte que lhe cabia de forma rigorosa e em colaboração com os outros. Personalidades que se tornavam eficazes através da acção eram forjadas e pos- tas à prova em plena acção. Repito: não podemos menosprezar a importância, para fins educacionais, do conhecimento porme- norizado e íntimo da natureza, adquirido graças ao contacto di- recto com materiais e objectos reais, com os processos efectivos da sua manipulação e com o conhecimento das respectivas ne- cessidades e utilizações sociais. Tudo isto envolvia um exerci- tar contínuo da observação, do engenho, da imaginação cons- trutiva, do raciocínio lógico e da percepção da realidade adqui- rida através do contacto directo com os factos. As forças educa- tivas presentes na fiação e na tecelagem domésticas, na serra- ção, no moinho de cereais, na tanoaria e na forja de ferreiro ope- ravam continuamente. Um conjunto de lições práticas, qualquer que ele seja, prepa- rado com o fito de fornecer informação, nem por sombras po- derá servir de substituto ao conhecimento das plantas e animais da quinta e do jardim, adquirido por quem vive realmente no meio deles e deles tem de cuidar. Nenhuma forma de exercício dos órgãos sensoriais na escola, concebido como mero exercí- cio, pode competir sequer com a subtileza e plenitude da vida sensorial que advém da intimidade e interesse diário nas ocupa- ções familiares. A memória verbal pode ser exercitada cumprin- do determinadas tarefas e uma certa disciplina das faculdades intelectuais pode ser adquirida estudando lições de ciência e matemática; no entanto, bem vistas as coisas, tudo isto é um pouco vago e obscuro, comparado com o treino da atenção e do raciocínio que se adquire quando se é obrigado a fazer as coisas sob o impulso duma motivação concreta e tendo em vista um re- sultado igualmente concreto. Hoje em dia, a concentração da in- dústria e a divisão do trabalho praticamente eliminaram as ocu-
- 12. 22 John Dewey pações domésticas e comunitárias - pelo menos para fins edu- cativos. Mas é inútil chorarmos o desaparecimento dos bons ve- lhos tempos em que as crianças denotavam modéstia, reverên- cia e uma obediência implícita; os meros lamentos e exortações não os trarão de volta. O que ocorreu foi uma mudança radical das condições de vida, e só uma mudança igualmente radical no campo da educação produzirá resultados palpáveis. Devemos reconhecer as compensações que os novos tempos acarretaram - um aumento da tolerância e da liberalidade dos juízos so- ciais, um melhor conhecimento da natureza humana, uma maior sagacidade na leitura dos traços do carácter e na interpretação das situações sociais, uma adaptação mais atenta às diferentes personalidades que se nos deparam, o contacto com actividades comerciais mais vastas. Estas considerações têm grande impor- tância para as crianças que nascem e crescem nas cidades de ho- je. Todavia, enfrentamos um grave problema: o que fazer para, conservando estas vantagens, introduzir na escola algo que re- presente o outro lado da vida - ocupações que impliquem res- ponsabilidades pessoais precisas e que exercitem a criança no contacto com as realidades físicas da vida? Ao analisarmos a escola, verificamos que uma das tendências mais marcantes do presente é a introdução do chamado treino manual, dos trabalhos oficinais e das artes domésticas - costu- ra e culinária. Isto não foi feito «de propósito», com a plena consciência de que a escola deve agora proporcionar essa forma de adestra- mento que outrora competia ao lar, mas sim por instinto, depois de várias experiências terem revelado que esse tipo de ensino cativa imenso os alunos e dá-lhes algo que não poderiam obter de nenhuma outra forma. A consciência da sua verdadeira im- portância é ainda tão débil que o trabalho é muitas vezes feito dum modo hesitante, confuso e desconexo. As razões apontadas para justificá-lo são penosamente inadequadas ou mesmo mani- festamente erradas. AEscola e a Sociedade 23 Se nos dispuséssemos a interrogar os próprios indivíduos que se mostram mais favoráveis à introdução deste trabalho no nos- so sistema escolar, imagino que, na generalidade dos casos, as principais razões apontadas seriam o facto de essas tarefas pren- derem o interesse e a atenção espontânea das crianças. Mantêm- -nas atentas e activas, em vez de passivas e receptivas; fazem- -nas sentir-se mais úteis, mais capazes e, portanto, mais inclina- das a mostrarem-se prestáveis em casa; preparam-nas, até certo ponto, para os deveres práticos que irão enfrentar na vida adul- ta - as raparigas para serem donas de casa eficientes, quando não verdadeiras cozinheiras e costureiras; os rapazes (bastando para isso que o nosso sistema educativo estivesse conveniente- mente organizado em escolas profissionais) para as suas futuras vocações. Eu não subestimo a valia destas razões. Acerca das que respeitam à mudança de postura das crianças, terei algo a dizer no capítulo seguinte, ao falar directamente das relações entre a escola e a criança. Todavia, este ponto de vista é, na sua globalidade, desnecessariamente redutor. Devemos conceber os trabalhos em madeira e em metal, a tecelagem, a costura e a cu- 1inária como métodos de vida e de aprendizagem, e não como disciplinas escolares distintas. Devemos concebê-los em todo o seu significado social, como exemplos dos processos por meio dos quais a sociedade perdu- ra, como ferramentas para familiarizar a criança com algumas das necessidades primordiais da vida comunitária e como méto- dos que a crescente perspicácia e engenho do homem encontra- ram para satisfazer essas necessidades; em suma, como instru- mentos graças aos quais a própria escola será convertida num genuíno centro de vida comunitária activa, ao invés dum lugar isolado onde se aprendem as lições. Uma sociedade é um conjunto de pessoas unidas por estarem a trabalhar de acordo com linhas comuns, animadas dum espíri- to comum e com referência a objectivos comuns. As necessida- des e objectivos comuns exigem um crescente intercâmbio de
- 13. 24 John Dewey ideias e uma crescente unidade de sentimentos solidários. Ara- zão de fundo que impede a escola dos nossos dias de se organi- zar como uma unidade social natural é exactamente a ausência desta componente de actividade comum e produtiva. No re- creio, durante as brincadeiras e desportos, a organização social ocorre espontânea e inevitavelmente. Há algo para fazer, uma actividade para executar, exigindo uma divisão natural do tra- balho, a selecção de líderes e subordinados, a cooperação e emulação mútuas. Na sala de aula faltam o motivo e o cimento da organização social. Do ponto de vista ético, a trágica debili- dade da escola de hoje reside na sua ambição de preparar os fu- turos membros do tecido social num meio em que as condições do espírito social faltam visivelmente. A diferença que emerge quando as ocupações passam a cons- tituir os centros articuladores da "'.ida escolar não é fácil de des- crever por meio de palavras; trata-se duma diferença de motiva- ções, de espírito e de atmosfera. Quando entramos numa cozi- nha onde um grupo buliçoso de crianças participa activamente na preparação de comida, a diferença psicológica, a mudança duma receptividade contida, mais ou menos passiva e inerte, pa- ra uma atitude enérgica, alegre e expansiva, tudo isto é tão ób- vio que chega a meter-se-nos pelos olhos dentro. Aliás, aqueles que têm da escola uma imagem rigidamente definida não dei- xarão de sentir-se chocados pela mudança. Mas a mudança na postura social é igualmente marcada. A mera absorção de factos e verdades é um processo tão exclusivamente individual que tende, muito naturalmente, a transformar-se em egoísmo. Não há qualquer motivação social óbvia para a aquisição de meros conhecimentos, não há qualquer proveito social claro no suces- so daí resultante. Na verdade, esse sucesso quase só pode ser medido em termos competitivos, no pior sentido da palavra - uma comparação de resultados na recitação ou no questionário, para avaliar qual a criança que conseguiu superar as outras no armazenamento, na acumulação do máximo de informação pos- A Escola e a Sociedade 25 sível. Esta atmosfera prevalece de tal forma nas escolas que o facto de uma criança ajudar outra nas suas tarefas passou a ser considerado um delito. Quando o trabalho escolar consiste ape- nas em decorar as lições, a assistência mútua, em vez de ser a forma mais natural de cooperação e associação, toma-se um es- forço clandestino para aliviar o parceiro dos deveres que lhe in- cumbem. Quando está em curso um trabalho activo, tudo isto muda. Ajudar os outros, em vez de ser uma forma de caridade que empobrece o destinatário, é apenas e só um auxílio para li- bertar as faculdades e incentivar aquele que é ajudado. Um es- pírito de livre comunicação, de troca de ideias, sugestões, resul- tados de experiências anteriores bem ou mal sucedidas, toma-se a nota dominante das aulas. A emulação, quando surge, diz res- peito à comparação entre indivíduos não no tocante à quantida- de de informação pessoalmente absorvida, mas com referência à qualidade do trabalho produzido - o genuíno padrão comu- nitário de valor. Dum modo informal, mas nem por isso menos nítido, a vida escolar organiza-se em bases sociais. É no âmbito desta organização que encontraremos o princípio da disciplina ou da ordem escolares. Obviamente, a ordem é ape- nas algo que se refere a um fim. Se o fim que temos em vista é pôr quarenta ou cinquenta crianças a decorar determinadas lições que depois serão recitadas a um professor, o tipo de disciplina imposta deverá assegurar esse resultado. Mas se o fim em vista é o desenvolvimento dum espírito de cooperação social e de vi- da comunitária, a disciplina deve emergir desse objectivo e a ele ser relativa. Durante um processo construtivo, há um determina- do género de ordem que está quase ausente; reina uma certa de- sordem em qualquer oficina em plena laboração; não há silêncio; as pessoas não estão empenhadas em manter certas posturas físi- cas fixas; não cruzam os braços; não seguram livros desta ou da- quela maneira. Executam tarefas variadas, e assiste-se à confu- são, à azáfama, que resultam da actividade. No entanto, desta ocupação, desta execução de tarefas com o objectivo de produ-
- 14. 26 John Dewey zir resultados, sendo essa execução social e cooperativa, de tudo isto emerge uma disciplina com características muito próprias. Toda a nossa concepção de disciplina escolar se altera quando al- cançamos este ponto de vista. Nos momentos críticos, todos compreendemos que a única disciplina que nos fortalece, o úni- co treino que se converte em intuição, é aquele que adquirimos no decurso da própria vida. Quando se diz que aprendemos com a experiência, e com os livros ou conselhos dos outros somente na medida em que estes se relacionam com a experiência, não se trata de meras frases feitas. Mas a escola alheou-se, isolou-se de tal forma das condições e motivações correntes da vida que o lu- gar para onde enviamos as crianças com o fito de lhes incutir a disciplina é o lugar do mundo onde é mais difícil adquirir expe- riência - a mãe de toda a disciplina digna desse nome. Só as pessoas dominadas por uma imagem limitada e rígida da disci- plina escolar tradicional correm o risco de menosprezar essa dis- ciplina mais profunda e infinitamente mais ampla que se adqui- re ao participar num trabalho construtivo, ao contribuir para um resultado que, embora social na sua essência, não deixa de ser óbvio e tangível na sua forma - forma essa com base na qual se podem exigir responsabilidades e estabelecer juízos rigorosos. A coisa mais importante a reter, pois, no que diz respeito à in- trodução na escola de diversas formas de ocupação activa, é que, através destas, toda a essência da escola é renovada. A institui- ção escolar tem assim a possibilidade de associar-se à vida, de tomar-se uma segunda morada da criança, onde ela aprende através da experiência directa, em vez de ser apenas um local onde decora lições, tendo em vista, numa perspectiva algo abs- tracta e remota, uma hipotética vivência futura. Isto é, a escola tem a oportunidade de se converter numa comunidade em mi- niatura, uma sociedade embrionária. Este é o facto fundamental, e dele emerge a instrução enquanto processo contínuo e ordeiro. Sob o regime industrial atrás descrito, a criança, afinal de con- tas, participava no trabalho, mas o objectivo primordial não era A Escola e a Sociedade 27 essa participação, mas o produto. Os resultados educativos que se alcançavam eram reais, ainda que fortuitos e secundários. Os trabalhos típicos executados na escola, porém, estão livres de to- da e qualquer exigência de ordem económica. O objectivo não é o valor económico dos produtos, mas o desenvolvimento da pu- jança e da capacidade de organização social. É esta emancipação cm relação à componente utilitária restrita, esta abertura às pos- sibilidades do espírito humano, que transforma estas actividades práticas na escola em congéneres da arte e pontos de partida pa- ra o estudo da ciência e da história. A unidade de todas as ciências encontra-se na geografia. A importância da geografia reside no facto de apresentar a Terra como sede permanente das ocuRações do homem. Sem a sua re- lação com a actividade humana, o mundo seria um mundo di- minuído. A indústria e os empreendimentos humanos, quando desenquadrados das suas raízes na Terra, perdem significado e deixam de suscitar emoções. A Terra é a fonte última de todo o alimento do homem. É o seu abrigo e protecção a cada momen- to, a matéria-prima de todas as suas actividades e a morada pa- ra cuja humanização e idealização concorrem todos os seus fei- tos. É o grande campo de cultivo, a grande mina, a grande fon- te energética de calor, luz e electricidade; é a grande paisagem onde alternam os oceanos, os rios, as montanhas e as planícies, de que toda a nossa agricultura e actividade mineira e explora- ção florestal, todas as nossas entidades de fabrico e distribuição, não constituem senão elementos e factores parciais. É através de ocupações determinadas por este meio ambiente que a humani- dade tem feito os seus progressos históricos e políticos. É atra- vés dessas ocupações que a interpretação intelectual e emocio- nal da natureza tem vindo a ser desenvolvida. É através daquilo que fazemos no mundo e com o mundo que lemos o seu signi- ficado e avaliamos o seu valor. Em termos educativos, isto significa que, na instituição esco- lar, estas ocupações não devem reduzir-se a meros expedientes
- 15. 28 John Dewey práticos ou formas de ocupação rotineira que visem a aquisição duma mestria técnica no campo da culinária, da costura ou da tecelagem, mas deverão ser, isso sim, centros activos de desco- berta científica sobre os materiais e processos naturais, pontos de partida donde as crianças serão levadas a compreender o de- senvolvimento histórico do homem. A verdadeira importância de tudo isto pode ser ilustrada de forma mais eloquente se, ao invés de recorrermos a considerações genéricas, lançarmos mão de um exemplo concreto extraído do trabalho escolar. Nada parece tão bizarro aos olhos do visitante médio, atento e interessado, do que ver rapazes de dez, doze e treze anos a executarem, em conjunto com raparigas da mesma idade, traba- lhos de costura e tecelagem. Se encararmos isto como uma pre- paração dos rapazes para coserem botões e fazerem remendos, chegamos a uma concepção restrita e utilitária - com base na qual dificilmente se justificará valorizar este tipo de trabalho na escola. Porém, se encararmos estas tarefas numa outra perspec- tiva, verificamos que elas funcionam como um ponto de partida que permite à criança reconstituir e analisar o progresso da hu- manidade ao longo da história, instruindo-a, além disso, sobre os materiais usados e os princípios mecânicos envolvidos. Estas actividades são pretextos para recapitular o desenvolvimento histórico do homem. Por exemplo, as crianças recebem em pri- meiro lugar a matéria-prima - as fibras de linho, os frutos do algodoeiro, a lã tal como é extraída do corpo da ovelha (se pu- dermos levá-las ao local onde as ovelhas são tosquiadas, tanto melhor). Em seguida, é feito um estudo destes materiais, do ponto de vista da respectiva adaptação aos usos a que se desti- nam. Por exemplo, a fibra do algodão é comparada com a fibra da lã. Eu não sabia, até as crianças mo terem dito, que o motivo para o desenvolvimento tardio da indústria algodoeira, quando comparada com a manufactura de tecidos de lã, era o facto de a fibra do algodão ser tão difícil de separar manualmente das se- mentes. Um grupo de crianças, trabalhando durante trinta mi- A Escola e a Sociedade 29 nutos a separar as fibras de algodão da cápsula e das sementes, conseguiu extrair menos de trinta gramas. Foi-lhes fácil calcu- lar que uma pessoa, usando as mãos, não conseguiria descaro- Hr mais do que meio quilo por dia, e compreenderam assim por que motivo os seus antepassados preferiam as roupas de lã às de algodão. Entre outros factores que afectam a utilidade relativa destes dois tipos de materiais, elas descobriram que as fibras de algodão são mais curtas do que as de lã, medindo as primeiras, digamos, um centímetro, ao passo que estas últimas atingem os oito centímetros de comprimento; e ainda que as fibras de algo- dão são macias e não se enriçam umas nas outras, enquanto a lã possui uma certa aspereza que emaranha as fibras, facilitando assim a fiação. As crianças compreenderam isto por si próprias, cm contacto com os materiais concretos, ajudadas por pergun- tas e sugestões do professor. Em seguida, executaram as tarefas necessárias para transfor- mar as fibras em tecidos. Reinventaram o primeiro utensílio pa- ra cardar a lã - um par de pranchas com pregos afiados para desenredá-la. Num regresso às origens, conceberam o método mais simples de fiar a lã - uma pedra ou um outro peso perfu- rado, através do qual a lã passa, e que, ao ser torcido, vai pu- xando as fibras; e um pião que, posto a girar no chão, permite que as crianças segurem a lã nas mãos até esta ser gradualmen- te puxada e enrolada à volta dele. Feito isto, as crianças são fa- miliarizadas com a invenção seguinte (numa ordem cronológi- ca) e trabalham-na experimentalmente, para assim se apercebe- rem da sua necessidade e investigarem os seus efeitos, não ape- nas sobre essa indústria em particular, mas também sobre as for- mas de vida social - o que lhes permite passar em revista todo o processo evolutivo que culmina no tear industrial do presente, bem como tudo o que se relaciona com a aplicação da ciência no uso das fontes de energia actualmente disponíveis. Não pre- ciso sequer de mencionar os conhecimentos científicos que isto envolve - a análise das fibras, de aspectos geográficos, das
- 16. 30 John Dewey condições necessárias para o cultivo das matérias-primas, dos grandes centros de manufactura e distribuição, do funciona- mento da maquinaria de produção; a vertente histórica deste es- tudo é também evidente - a influência que estas invenções exerceram sobre a humanidade. Podemos centrar a história de toda a humanidade no modo como evoluiu ao longo dos tempos o processo de transformação em roupa das fibras de linho, de al- godão e de lã. Não quero com isto dizer que essa seja a única, ou a melhor, abordagem. Mas é verdade que, deste modo, abrem-se certas perspectivas muito concretas e muito importan- tes para a análise da história da nossa raça - e as crianças são iniciadas no conhecimento de influências muito mais fulcrais e dominadoras do que ao estudarem os registos políticos e crono- lógicos em que geralmente se baseia o ensino da história. Ora, o que se aplica a este exemplo das fibras usadas no fa- brico de tecidos (e, como é óbvio, referi somente uma ou duas fases elementares desse processo) aplica-se também, com os de- vidos ajustes, a todos os materiais usados em todas as outras ocupações humanas e aos métodos nelas empregados. A tarefa prática fornece à criança uma motivação genuína; dá-lhe a ex- periência directa das coisas; põe-na em contacto com as reali- dades. Faz tudo isto e mais ainda, pois, ao ser traduzida nos seus valores históricos e sociais e equivalências científicas, é total- mente liberalizada. À medida que as faculdades mentais e os co- nhecimentos da criança vão aumentando, a tarefa prática deixa de ser apenas e só um passatempo agradável e converte-se cada vez mais num meio, um instrumento, um órgão de compreensão - e é portanto transformada. Isto, por seu turno, influencia o ensino da ciência. Nas condi- ções actuais, qualquer actividade, para ser coroada de sucesso, tem de ser dirigida, numa qualquer das suas fases, pelo perito científico - ou seja, qualquer actividade é um caso de ciência aplicada. Esta ligação deveria determinar o estatuto das activi- dades práticas na educação. É que os chamados trabalhos ma- AEscola e a Sociedade 31 nuais ou industriais escolares não se limitam a permitir a intro- dução da ciência que os ilumina, que os toma pertinentes, pre- nhes de significado, em suma, que os faz ultrapassar o estatuto Jc meros exercícios para as mãos e os olhos; para além disso, a compreensão científica assim adquirida toma-se um instrumen- to indispensável de participação livre e activa na vida social mo- derna. Num dos seus textos, Platão fala do escravo como sendo a pessoa que, nas suas acções, não expressa as próprias ideias, mas sim as doutrem. Hoje em dia, dum modo ainda mais pre- mente do que na época de Platão, cabe-nos assegurar que o mé- todo, a finalidade e a compreensão existam na consciência da- quele que executa o trabalho, que a actividade de cada um sig- nifique algo aos olhos do próprio. Quando as tarefas práticas são encaradas desta forma ampla e generosa, não posso senão ficar estupefacto ante a objecção, tantas vezes formulada, de que tais ocupações não têm lugar na escola, pois são tendencialmente materialistas, utilitárias ou até típicas das classes subalternas. Parece-me por vezes que aque- les que fazem estas objecções devem viver num mundo bem di- ferente do nosso. O mundo em que grande parte de nós vive é um mundo no qual toda a gente tem uma vocação e uma ocupa- ção, isto é, um trabalho a executar. Uns são dirigentes e outros são subordinados. Tanto para uns como para outros, porém, a coisa mais importante é que cada indivíduo tenha tido acesso à educação que lhe permite destrinçar, no seu trabalho quotidia- no, tudo o que possui um significado humano mais abrangente. Quantos empregados não passam hoje de meros apêndices das máquinas que operam! Isto poderá dever-se em parte à própria máquina ou ao regime que coloca tanta ênfase nos produtos da máquina; mas deve-se certamente, em grande medida, ao facto de o trabalhador não ter tido oportunidade de desenvolver a sua imaginação e a compreensão solidária dos valores sociais e científicos inerentes ao seu trabalho. Hoje em dia, durante o pe- ríodo escolar, os impulsos que estão na base do sistema indus-
- 17. 32 John Dewey triai são ou negligenciados na prática ou positivamente distorci- dos. Enquanto os instintos de construção e produção não forem enquadrados de forma sistemática durante a infância e juventu- de, enquanto esses instintos não forem canalizados em termos sociais, enriquecidos pela interpretação histórica, controlados e iluminados por métodos científicos, enquanto nada disto for fei- to, não estaremos em condições sequer de localizar a origem dos nossos males económicos, quanto mais de lidar com eles eficazmente. Se recuarmos alguns séculos, encontramos um monopólio efectivo do saber. O termo detentores do saber é, de facto, bas- tante feliz. A instrução era uma questão de classe, um resultado inevitável das condições sociais. Não existiam quaisquer meios que facultassem às massas o acesso aos recursos intelectuais. Estes encontravam-se acumulados e escondidos em manuscri- tos, dos quais, na melhor das hipóteses, existiam apenas alguns exemplares, e era necessária uma longa e laboriosa preparação para fazer fosse o que fosse com eles. O resultado inevitável destas circunstâncias foi a formação duma casta de sacerdotes do saber, que guardava o tesouro da verdade e o distribuía par- cimoniosamente entre as massas, sob severas restrições. Porém, como consequência directa da revolução industrial de que te- mos vindo a falar, tudo isto se alterou. A tipografia foi inventa- da; o seu uso tomou-se comercialmente rentável. Livros, revis- tas e jornais multiplicaram-se e tomaram-se mais baratos. A lo- comotiva e o telégrafo trouxeram consigo a intercomunicação frequente, rápida e barata através dos correios e da electricida- de. Viajar passou a ser mais fácil; a liberdade de movimentos, com a concomitante troca de ideias, aumentou enormemente. O resultado foi uma revolução intelectual. O saber foi posto em circulação. Embora ainda haja, e provavelmente haverá sempre, uma classe restrita que tem entre mãos a tarefa especial de in- vestigar, está doravante fora de questão a existência duma clas- se distintamente instruída. É um anacronismo. O conhecimento A Escola e a Sociedade 33 deixou de ser um sólido imóvel - liquefez-se. E move-se acti- vamente em todos os fluxos que percorrem a sociedade. É fácil de entender que esta revolução, no que toca aos ele- mentos do saber, acarreta uma mudança acentuada na postura do indivíduo. Os estímulos de tipo intelectual chovem sobre nós através dos mais diversos canais. A vida meramente intelectual, a vida de estudo e aprendizagem, passa pois a ser avaliada du- ma forma bem diferente. Académico e escolástico, ao invés de títulos honrosos, são cada vez mais epítetos depreciativos. Tudo isto, no entanto, implica necessariamente uma mudança na postura da escola, mudança essa cuja força estamos ainda lon- ge de conceber. Os nossos métodos escolares e, em grande me- dida, os nossos programas de estudos, são heranças do período cm que era de importância fulcral a aprendizagem e o domínio de certos símbolos, que facultavam a única via de acesso ao sa- ber. Na maioria dos casos, os ideais desse período vigoram ain- da, mesmo quando os métodos de ensino foram aparentemente alterados. Ouvimos por vezes censurar a introdução do treino manual e do ensino da arte e da ciência nas escolas primárias, e mesmo nas secundárias, com base no argumento de que essas matérias estimulam a produção de especialistas - destoando do nosso quadro actual duma cultura vasta e liberal. Esta objecção é ridícula, e o eco que tantas vezes encontra toma-a trágica. A educação do presente, essa sim, é altamente especializada, desi- gual e restrita. É uma educação dominada quase inteiramente pe- la concepção medieval do saber e que, em grande parte, faz ape- lo somente ao lado intelectual das nossas naturezas, ao nosso de- sejo de aprender, de acumular informação e de dominar os sím- bolos do saber; e não aos nossos impulsos e tendências para fa- zer, para executar, para criar, para produzir, seja com um fim uti- litário ou artístico. O próprio facto de se considerar que os tra- balhos manuais, a arte e as ciências são demasiado técnicos e promovem uma especialização redutora é, por si só, o mais es- clarecedor testemunho dos objectivos altamente especializados
- 18. 34 John Dewey que presidem à educação do presente. Só o facto de a educação estar virtualmente identificada com desígnios exclusivamente in- !' telectuais, com a aprendizagem pela aprendizagem, só isso ex- plica que todos estes materiais e métodos não sejam bem-vindos, , não sejam acolhidos com a maior das hospitalidades. Enquanto a formação para o ofício de ensinar é encarada co- mo o protótipo da cultura, ou duma educação liberal, a formação dum mecânico, dum músico, dum advogado, dum médico, dum lavrador, dum comerciante ou dum administrador de caminhos- -de-ferro é encarada como puramente técnica e profissional. O resultado é o que vemos por toda a parte à nossa volta - a divi- são entre pessoas «Cultas» e «trabalhadores», a separação entre a teoria e a prática. Menos de um por cento de toda a população escolar alcança aquilo a que se convencionou chamar o ensino superior; só cinco por cento ingressam no ensino liceal; ao pas- so que muito mais de metade abandona o sistema ao completar o quinto ano do ensino primário, ou mesmo antes disso. A ver- dade nua e crua é que, na grande maioria dos seres humanos, os interesses distintamente intelectuais não são dominantes. O que predomina são os chamados impulsos ou inclinações práticas. Em muitos daqueles cujos interesses intelectuais são por nature- za fortes, as condições sociais impedem a sua concretização ade- quada. Consequentemente, a maior parte dos alunos abandona a escola assim que adquire os rudimentos do saber, assim que do- mina os símbolos da leitura, da escrita e do cálculo o suficiente para ajudá-los a ganhar a vida. Embora os nossos responsáveis educativos falem da cultura, do desenvolvimento da personali- dade, etc., como objectivos finais da educação, a grande maioria daqueles que recebem a sua instrução na escola encaram-na ape- nas como uma ferramenta estritamente prática que lhes permite ganhar o sustento de cada dia dum modo um pouco menos pe- noso. Se pudéssemos conceber os objectivos finais do nosso sis- tema educativo duma forma menos limitada, se conseguíssemos introduzir nos processos lectivos as actividades que cativam t l·:srnla e a Sociedade 35 11q11eles cujo interesse dominante é fazer e executar, veríamos a 1•srola exercer sobre quem a frequenta uma sedução mais vital, 111ais prolongada, imbuída duma maior componente cultural. A que se deve, porém, esta minha exposição tão pormenori- 1.ada? É fácil de ver que a nossa vida social sofreu uma mudan- 'ª tão completa quanto radical. Se queremos que a educação tuinistrada nas nossas escolas tenha alguma influência na vida tk todos os dias, ela deverá passar por uma transformação ip,ualmente completa. Esta transformação não surgirá subita- mente, não será executada do dia para a noite, de forma inten- cional. Ela está já em curso. As modificações do nosso sistema l'Scolar, que parecem muitas vezes (mesmo aos olhos dos mais activamente empenhados nelas, já para não falar dos seus es- pectadores) não passar de meras mudanças de pormenor, são na realidade indícios e provas de evolução. A introdução de ocupa- ções activas, do estudo da natureza, dos rudimentos da ciência, <la arte, da história; a relegação do meramente simbólico e for- mal para uma posição secundária; a mudança na atmosfera mo- ral da escola, na relação entre alunos e professores - na disci- plina; a introdução de factores mais activos, expressivos e de autonomia - tudo isto não são meros acidentes, são exigências duma evolução social mais vasta. Falta apenas organizar todos estes factores, avaliá-los na plenitude do seu significado e fazer com que as ideias e ideais envolvidos assumam um controlo pleno e intransigente do nosso sistema escolar. Fazer. isto signi- fica transformar cada uma das nossas escolas numa comunida- de embrionária, sede de ocupações que reflitam a vida da socie- dade no seu todo, impregnada do espírito da arte, da história e da ciência. Quando a escola for capaz de iniciar e exercitar ca- da um dos novos membros da sociedade na participação numa comunidade tão reduzida, impregnando-os dum espírito de al- truísmo e fornecendo-lhes os instrumentos duma autonomia efectiva, teremos a melhor garantia de que a sociedade no seu todo é digna, admirável e harmoniosa.
- 19. II A ESCOLA E A VIDA DA CRIANÇA No capítulo anterior tentei descrever a relação entre a escola e a vida da comunidade no seu todo, e sublinhei a premência de certas mudanças nos métodos e materiais usados no trabalho es- colar, por forma a adaptá-los melhor às exigências sociais dos nossos dias. Aqui, pretendo abordar o assunto segundo a perspectiva cém- trária, analisando a relação entre a vida e o desenvolvimento da criança na escola, por um lado, e a própria escola, por outro. Dado que é difícil relacionar princípios gerais com coisas tão manifestamente concretas como crianças pequenas, tomei a li- berdade de introduzir numerosos exemplos ilustrativos extraí- dos do trabalho na Escola Elementar da Universidade de Chica- go, para que, em certa medida, o leitor possa aperceber-se da forma como as ideias apresentadas resultam na prática. Há alguns anos, percorri as lojas de material escolar desta ci- dade, tentando encontrar secretárias e cadeiras que me pareces- sem satisfazer perfeitamente as necessidades das crianças sob todos os pontos de vista - artístico, higiénico e educativo. Ti- vemos grandes dificuldades em encontrar aquilo que procurá- vamos, até que um comerciante, mais inteligente do que os res-
- 20. 38 John Dewey tantes, teceu o seguinte comentário: «Receio bem não ter o que vocês desejam. Vocês querem carteiras onde as crianças possam trabalhar; todas estas são para ouvir.» Isto resume toda a histó- ria da educação tradicional. Assim como o biólogo pode, a par- tir de um ou dois ossos, reconstruir todo o corpo do animal, tam- bém nós, se imaginarmos a sala de aulas usual, com as suas fi- las de carteiras inestéticas dispostas numa ordem geométrica, bem encostadas umas às outras para reduzir ao máximo o espa- ço disponível, quase todas do mesmo tamanho, em cujo tampo cabem apenas os livros, o lápis e o papel, e se a isto acrescen- tarmos uma mesa, algumas cadeiras, as paredes nuas e possi- velmente alguns quadros, seremos capazes de reconstituir o úni- co género de actividade educativa que poderá ter lugar num sí- tio assim. Tudo foi concebido para pôr as crianças «a ouvir» - porquanto, em última análise, estudar as lições a partir dum li- vro é apenas uma outra maneira de ouvir, que assinala a depen- dência duma mente em relação à outra. A atitude de ouvir sig- nifica, comparativamente falando, passividade, absorção; signi- fica que há um certo número de materiais já prontos, que foram preparados pelo reitor da escola, pelo conselho directivo ou pe- lo professor, e cujo conteúdo a criança deve assimilar da forma mais perfeita possível, no menor espaço de tempo possível. Na sala de aulas tradicional há muito poucas oportunidades para a criança trabalhar. Escasseiam as oficinas, os laboratórios, os materiais, as ferramentas com que a criança poderia cons- truir, criar e investigar activamente, e até mesmo o espaço ne- cessário para fazê-lo. Às coisas que têm a ver com estes pro- cessos nem sequer é reconhecido um lugar de pleno direito no fenómeno educativo. São aquilo a que os responsáveis educati- vos que escrevem editoriais nos jornais diários chamam geral- mente «modernices» e «floreados». Uma senhora contou-me ontem que visitara diferentes escolas, tentando encontrar uma onde a actividade por parte das crianças precedesse a exposição de informações por parte do professor, ou onde as crianças ti- A Escola e a Sociedade 39 vessem algum motivo para solicitar essas informações. Disse- -me ela que visitou vinte e quatro escolas diferentes até conse- guir encontrar uma que se ajustasse a este quadro. Posso acres- centar que a escola em causa não se situava nesta cidade. Outra coisa que é sugerida por estas salas de aula, com as suas carteiras em posições fixas, é que tudo foi disposto para li- dar com o maior número possível de crianças, ou seja, para li- dar com as crianças em massa, como um agregado de unidades, implicando, uma vez mais, que elas sejam tratadas enquanto su- jeitos passivos. Assim que agem, as crianças individualizam-se; deixam de ser uma massa e convertem-se nos seres profunda- mente singulares que se nos deparam fora da escola, em casa, no seio da família, no recreio e nas ruas do bairro onde vivem. A uniformidade de métodos e programas de estudo é explicá- vel nos mesmos termos. Se tudo foi concebido partindo do prin- cípio de que à criança cabe apenas «ouvir», pode haver unifor- midade de materiais e de métodos. O ouvido, bem como o livro que reflecte o ouvido, constituem os meios iguais para todos. As oportunidades para proceder a ajustamentos de acordo com adi- versidade de capacidades e solicitações reduzem-se quase a ze- ro. Há uma certa porção - uma quantidade fixa - de resulta- dos e desempenhos predefinidos que devem ser adquiridos por todas as crianças num dado período de tempo. É em resposta a esta exigência que o programa de estudos tem vindo a ser deli- neado, desde a escola primária até à universidade. No mundo em que vivemos, a quantidade de conhecimentos desejáveis é finita, o mesmo acontecendo com a quantidade de desempenhos técnicos necessários. Segue-se o problema matemático de divi- dir tais quantidades pelos seis, doze ou dezasseis anos de vida escolar. Se em cada ano for fornecida às crianças a fracção ade- quada do total, ao terminarem a escolaridade elas dominarão o todo. Desde que avancemos o suficiente durante esta hora ou dia ou semana ou ano, no fim tudo se encaixa com uma perfei- ta uniformidade - contanto que as crianças não tenham esque-
- 21. 40 John Dewey cido aquilo que aprenderam anteriormente. O resultado de tudo isto é a afirmação que um responsável educativo francês profe- riu orgulhosamente diante de Matthew Arnold, e que este cita, segundo a qual, a uma dada hora do dia - onze horas, por exemplo - tantos milhares de crianças estavam a estudar uma determinada lição de geografia; e numa das nossas cidades do Oeste, o presidente da câmara costumava gabar-se do mesmo aos sucessivos visitantes que recebia. Eu talvez tenha exagerado um pouco, por forma a salientar bem os aspectos típicos da velha educação: o seu incentivo à passividade, a sua massificação mecânica das crianças, a sua uniformidade de programas e métodos de estudo. Aquilo que a caracteriza pode ser resumido se dissermos que o seu centro de gravidade é exterior à criança. Situa-se no professor, no manual, em qualquer parte e em toda a parte excepto nos instintos e nas actividades imediatas da própria criança. Quando assim é, pou- co há a dizer sobre a vida da criança. Muito haveria a dizer so- bre os estudos da criança, mas a escola não é um local onde ela viva. A mudança que tem vindo a ser introduzida na educação é uma transferência do centro de gravidade. É uma mudança, uma revolução, não muito diferente da que Copérnico iniciou ao transferir o centro astronómico da Terra para o Sol. No caso em análise, a criança converte-se no Sol em volta do qual gravitam os instrumentos da educação; ela é o centro em torno do qual es- tes se organizam. Se tomarmos o exemplo dum lar ideal, onde o pai é suficien- temente inteligente para reconhecer o que é melhor para a crian- ça e tem possibilidade de proporcionar-lho, veremos que a criança aprende através do intercâmbio social no seio da estru- tura familiar. Certos aspectos das conversas entre os membros da família têm para ela interesse e valor: são feitas afirmações, surgem dúvidas, discutem-se assuntos, e a criança aprende con- tinuamente. Ela relata as suas experiências, as suas concepções erróneas são corrigidas. Uma vez mais, a criança participa nas / Escola e a Sociedade 41 ocupações domésticas, adquirindo assim hábitos de diligência, or<lem e respeito pelas ideias e direitos dos outros, bem como o h:íbito fundamental de subordinar as suas actividades aos inte- resses gerais do agregado familiar. A participação nestas tarefas domésticas converte-se numa oportunidade de adquirir conheci- mentos. O lar ideal teria naturalmente uma oficina, onde a crian- 'ª poderia dar largas aos seus instintos construtivos. Teria um pequeno laboratório, onde as suas investigações seriam execu- lu<las sob a supervisão dos pais. A vida da criança estender-se- -ia fora de portas, para o jardim, os campos e florestas circun- dantes. Ela teria direito às suas excursões, aos longos passeios l'tn que se conversa serenamente, permitindo que o vasto mun- do exterior lhe abrisse as suas portas. Pois bem, se organizarmos e generalizarmos tudo isto, tere- mos a escola ideal. Não há nisto mistério algum, nem se trata duma maravilhosa descoberta das teorias pedagógicas ou edu- cativas. É apenas uma questão de fazer sistematicamente e du- ma forma ampla, inteligente e competente aquilo que, por várias razões, na maioria dos lares só pode ser feito duma maneira comparativamente mais pobre e ocasional. Antes de mais, o lar ideal tem de ser ampliado. A criança deve contactar com um maior número de adultos e de crianças, para que a sua vida so- cial seja o mais livre e rica possível. Além disso, as ocupações e relações do ambiente doméstico não são especificamente se- leccionadas em função do crescimento da criança; o seu objec- tivo principal é outro, e aquilo que a criança delas obtém surge por acréscimo. Daí a necessidade duma escola. Nesta escola, a vida da criança transforma-se no objectivo dominante. Todos os meios necessários para favorecer o seu desenvolvimento se cen- tram aqui. Aprender? Certamente, mas antes de mais viver, e aprender através e em interacção com esta vivência. Quando a vida da criança passa a ser centrada e organizada deste modo, <leixamos de vê-la acima de tudo como um ente que ouve; a nos- sa perspectiva inverte-se radicalmente.
- 22. 42 John Dewey A afirmação, tantas vezes proferida, de que educar significa «extrair» é excelente, se pretendermos apenas estabelecer o contraste com o processo de encher um recipiente. Porém, afi- nal de contas, é difícil relacionar a ideia de extracção com a pos- tura habitual duma criança de três, quatro, sete ou oito anos de idade. À partida, ela transborda já com actividades de todos os tipos. Não se trata dum ser em estado de completa latência, que o adulto tem de abordar com grande cuidado e perícia, para as- sim extrair gradualmente o germe oculto da actividade. A crian- ça é por natureza intensamente activa, e o cerne do processo educativo reside em gerir essas actividades e dar-lhes um rumo definido. Ao serem orientadas e postas ao serviço dum fim or- ganizado, tais actividades tendem a produzir resultados válidos, em vez de se dispersarem ou reduzirem à expressão de meros impulsos. Se tivermos isto bem presente, a objecção que parece predo- minar no espírito de muitas pessoas em relação àquilo que se costuma designar por nova educação, mais do que resolvida, é dissolvida - desaparece. Uma dúvida muitas vezes formulada é a seguinte: se partirmos das ideias, impulsos e interesses da criança, sendo estes tão incipientes, tão aleatórios e dispersos, tão pouco refinados ou espiritualizados, como é que ela adqui- rirá a necessária disciplina, cultura e informação? Se não nos restasse outro caminho excepto o de excitar e satisfazer esses impulsos da criança, a dúvida seria pertinente. Teríamos de es- colher entre duas opções: ignorar e reprimir essas iniciativas ou condescender com elas. Mas se possuirmos equipamentos e ma- . teriais devidamente organizados, passamos a dispor duma ter- ceira alternativa. Podemos dirigir as actividades da criança, exercitando-a de acordo com determinados vectores, e conduzindo-a assim a objectivos que são o corolário lógico da via escolhida. «Se os desejos fossem cavalos, os mendigos nunca andavam a pé.» Dado que o não são, dado que satisfazer realmente um A Escola e a Sociedade 43 impulso ou interesse implica pô-lo em prática, e pô-lo em práti- ca envolve deparar com obstáculos, familiarizar-se com mate- riais, dar mostras de engenho, paciência, persistência e vivaci- dade, isso envolve necessariamente o exercício da disciplina - a canalização das energias - e fornece conhecimentos. Tome- mos o exemplo da criança pequena que quer construir uma cai- xa. Se ela se limitar à imaginação ou desejo, certamente não ad- quirirá qualquer disciplina. Mas quando ela tenta concretizar o seu impulso, vê-se obrigada a definir bem a sua ideia, a transformá-la num plano, escolher o tipo adequado de madeira, a medir as diversas peças, a dar-lhes as proporções necessárias, etc. Isto envolve preparar os materiais, serrar, aplainar e lixar, por forma a que todos os cantos e arestas se ajustem. O conhe- cimento das ferramentas e dos processos é inevitável. Se a criança concretiza o seu instinto e fabrica a caixa, há bastas oportunidades de adquirir disciplina e perseverança, de apren- der a ultrapassar os obstáculos por meio do esforço, bem como <le assimilar imensa informação. Da mesma forma, indubitavelmente, a criança pequena que manifesta vontade de cozinhar não faz a mais pequena ideia do que isso significa ou custa, ou do que isso exige. Trata-se ape- nas dum desejo de «remexer nas panelas», talvez de imitar as actividades dos adultos. E é sem dúvida possível descermos a esse nível e limitarmo-nos a satisfazer esse interesse. Mas tam- bém neste caso, se o impulso for exercido, utilizado, choca com a dura realidade das condições difíceis, às quais tem de adaptar- -se; pelo que voltam a entrar em cena os factores de disciplina e saber. Recentemente, uma das crianças, mostrando-se impa- ciente por ser obrigada a descobrir as coisas através dum longo método de experimentação, disse: «Por que é que havemos de ter tanto trabalho? Vamos antes seguir uma receita dum livro de culinária.» O professor perguntou às crianças donde viera a re- ceita, e a conversa subsequente demonstrou que, se elas se li- mitassem a segui-la, não compreenderiam as razões para aquilo
- 23. 44 John Dewey que estavam a fazer. Posto isto, elas exprimiram o desejo de prosseguir o trabalho experimental. A análise deste trabalho, aliás, permite ilustrar o que está aqui em causa. Nesse dia, a ta- refa das crianças consistia no estudo da cozedura dos ovos, en- tendida como uma transição da cozedura dos vegetais para a da carne. Por forma a adquirirem uma base comparativa, elas co- meçaram por resumir os elementos nutritivos constituintes dos vegetais e estabeleceram uma comparação preliminar com os nutrientes da carne. Isto permitiu-lhes descobrir que as fibras le- nhosas ou celulose dos vegetais correspondiam ao tecido con- juntivo da carne, ambos conferindo forma e estrutura ao todo. Descobriram também que o amido e os produtos amiláceos eram característicos dos vegetais, que os sais minerais estavam presentes em ambos, e que o mesmo sucedia com a gordura - em pequena quantidade nos alimentos vegetais e em grande quantidade nos de origem animal. Feito isto, estavam prepara- das para empreender o estudo da albumina como elemento ca- racterístico dos alimentos de origem animal, correspondente ao amido nos vegetais, e estavam prontas a analisar as condições necessárias ao tratamento adequado dessa substância - usando os ovos como material para as experiências. A primeira experiência consistiu em aquecer água a diversas temperaturas, fazendo-a atingir o ponto em que começa suces- sivamente a escaldar, a borbulhar e a ferver em cachão, e averi- guar o efeito dos vários níveis de temperatura sobre a clara do ovo. Feito isso, as crianças mostravam-se capazes não apenas de cozer ovos, mas também de compreender o princípio envolvido na cozedura dos ovos. Este incidente particular encerra um en- sinamento universal, que eu desejo não perder de vista. Nada há de educativo no facto de a criança desejar cozer um ovo, colocá- -lo na água durante três minutos e retirá-lo quando assim lho or- denam. Porém, se a criança analisa o seu próprio impulso, ten- do para isso de reconhecer os factos, os materiais e as condições implicadas, e, em seguida, usa esse reconhecimento para regu- A Escola e a Sociedade 45 lar o impulso inicial, então sim, estamos em presença dum pro- cesso educativo. É esta a diferença, que desejo sublinhar, entre excitar ou satisfazer um interesse e canalizá-lo numa dada di- recção, propiciando a sua análise. Outro instinto da criança é o uso de lápis e papel. Todas as crianças gostam de se exprimir por intermédio de formas e co- res. Se nos limitarmos a satisfazer este interesse, deixando que a criança prossiga indefinidamente, toda a evolução que se ve- rificar será acidental. No entanto, se deixarmos que a criança comece por exprimir o seu impulso, e depois, por meio de críti- cas, perguntas e sugestões, a fizermos tomar consciência daqui- lo que fez e daquilo que precisa de fazer, o resultado será bem diferente. Aqui, por exemplo (Fig. 1), vemos o trabalho duma criança de sete anos. Não é um trabalho de nível médio, é o me- lhor dos trabalhos feitos pelas crianças mais novas, mas ilustra Fig. 1: Desenho duma caverna e árvores
- 24. 46 John Dewey o princípio que tenho vindo a referir. Elas tinham estado a falar sobre as condições de vida primitivas, quando as pessoas habi- tavam em cavernas. As ideias da criança sobre o assunto foram expressas assim: a caverna recorta-se nitidamente na encosta, duma forma impossível. Surge também a árvore convencional da infância - uma linha vertical com ramos horizontais de am- bos os lados. Se à criança fosse permitido continuar a repetires- te género de desenho dia após dia, ela estaria somente a saciar o seu desejo, ao invés de exercitá-lo. Em vez disso, o professor pediu à criança que observasse atentamente as árvores, que comparasse as que via com a que desenhara, que analisasse de forma mais atenta e consciente as condições do seu trabalho. Em seguida, ela desenhou várias árvores a partir da observação. Finalmente, voltou a desenhar, com base num misto de obser- vação, memória e imaginação. Uma vez mais, elaborou uma ilus- tração livre, exprimindo os seus pensamentos imaginativos, ain- da que restringidos pelo estudo atento de árvores reais. O resul- tado foi uma cena representando um trecho de floresta (Fig. 2); a despeito das suas limitações, o desenho parece-me exprimir tan- ' ta poesia como o trabalho dum adulto, sem que por isso as árvo- res representadas deixem de ser, nas suas proporções, árvores i possíveis, e não meros símbolos. Se estabelecermos uma classificação algo sumária dos impul- sos que a escola suscita, poderemos agrupá-los em quatro cate- gorias. Há o instinto social das crianças, que se manifesta nas 1 conversas, na interacção pessoal e na comunicação. Todos sa- · bemos o quanto uma criança de quatro ou cinco anos é egocên- trica. Sempre que um novo assunto é abordado, a criança, quan- do diz alguma coisa, é algo do género: «Eu já vi isso», ou «Ü meu pai ou a minha mãe disseram-me isso». O seu horizonte não é amplo; uma experiência tem de afectá-la de forma ime- diata, caso contrário ela não se mostra suficientemente interes- sada em compará-la e relacioná-la com as experiências doutras pessoas. E contudo, desta forma, o interesse egoísta e limitado A Escola e a Sociedade 47 Fig. 2: Desenho duma floresta das crianças pequenas é passível de se expandir indefinidamen- te. O instinto da linguagem é a forma mais simples de expres- são social da criança. Por conseguinte, é um importante recurso educativo, talvez o mais importante de todos. Em segundo lugar, há o instinto de fazer - o impulso cons- trutivo. O impulso da criança para fazer coisas começa por exprimir-se através das brincadeiras, dos movimentos, dos ges- tos e do faz de conta, e toma-se depois mais definido, tradu- zindo-se na modelagem de materiais para lhes dar formas tan- gíveis e uma corporização permanente. A criança não tem um grande instinto de investigação abstracta. O instinto de investi- gação parece emergir da combinação entre o impulso construti- vo e o de conversação. Nada distingue a ciência experimental para crianças pequenas do trabalho feito numa carpintaria. O género de pesquisas que elas são capazes de efectuar no campo
- 25. 48 John Dewey da física ou da química não tem como objectivo fazer generali- zações técnicas, nem mesmo atingir verdades abstractas. As crianças gostam simplesmente de mexer em coisas e de ver o que acontece. Mas o educador pode tirar proveito deste impul- so, pode canalizá-lo de forma a que produza resultados válidos, em vez de permitir que evolua de forma aleatória. Da mesma forma, o impulso expressivo das crianças, o ins- tinto artístico, emerge dos instintos comunicativo e construtivo. É o seu refinamento e a sua manifestação plena. Tomemos a construção adequada, façamos dela um objecto íntegro, livre e flexível, atribuamos-lhe uma motivação social, algo para dizer, e eis que temos uma obra de arte. Podemos ilustrar isto recor- rendo a um exemplo relacionado com o trabalho têxtil - coser e tecer. As crianças montaram um tear primitivo na oficina; aqui, o instinto construtivo foi estimulado. Depois, sentiram vontade de fazer algo com o tear, de criar algo. Tratava-se dum tear semelhante aos dos índios, pelo que o professor lhes mos- trou cobertores fabricados por estes. Cada criança fez um dese- nho baseado nos padrões dos cobertores navajos, dentre os quais foi escolhido o que parecia mais adequado ao trabalho em causa. Os recursos técnicos eram limitados, mas coube aos pró- prios alunos seleccionar as cores e a forma final do produto. O exame do trabalho das crianças de doze anos revela que o fabri- co do cobertor exigiu delas muita paciência, meticulosidade e perseverança. Para além de exibirem uma grande disciplina e o domínio de conhecimentos históricos e dos fundamentos da concepção técnica, elas revelaram ainda uma certa dose de es- pírito artístico, isto é, a capacidade de transmitir correctamente uma ideia. Eis um outro exemplo da ligação entre o lado artístico e o la- do construtivo: as crianças estavam a estudar as técnicas primi- tivas de fiação e cardação quando uma delas, de doze anos de idade, fez um desenho representando uma das suas companhei- ras de classe a fiar (Fig. 3). Além disso, incluo aqui um outro A Escola e a Sociedade 49 Fig. 3: Desenho duma rapariga a fiar trabalho cujo nível qualitativo é bastante superior à média. Trata-se duma ilustração de duas mãos que puxam a lã, preparando-a para ser fiada (Fig. 4). Este desenho foi feito por uma criança de onze anos de idade. Todavia, na generalidade dos casos, e especialmente nas crianças mais pequenas, o im- pulso artístico relaciona-se principalmente com o instinto social - o desejo de relatar, de representar. Ora, tendo em mente este interesse quádruplo - o interesse na conversação, ou comunicação; na investigação, ou descaber-
- 26. 50 John Dewey Fig. 4: Desenho de duas mãos a fiar ta das coisas; na construção, ou em fazer coisas; e o interesse na expressão artística - podemos dizer que se trata dos recursos , naturais, do capital não investido, de cujo exercício depende o crescimento activo da criança. Passarei em seguida a dar ao lei- tor um ou dois exemplos, o primeiro dos quais retirado do tra- balho de crianças com sete anos de idade. De certa forma, este servirá para ilustrar o desejo dominante que as crianças sentem de falar, particularmente sobre as pessoas suas conhecidas e as coisas que com elas se relacionam. Ao observarmos as crianças pequenas, verificamos que o mundo das coisas lhes interessa es- sencialmente na medida em que afecta as pessoas, enquanto ce- nário e ambiente das preocupações humanas. Muitos antropólo- gos referiram que há uma certa identidade entre os interesses da criança e os do homem primitivo. Verifica-se uma espécie de re- tomo natural da mente infantil às actividades típicas dos povos A Escola e a Sociedade 51 primitivos; pensemos na cabana que o rapaz gosta de construir no quintal, enquanto brinca às caçadas com arcos, flechas, lan- ças, e assim por diante. Uma vez mais, surge a interrogação: O que fazer deste interesse - devemos ignorá-lo ou somente excitá-lo e exauri-lo? Ou devemos apossar-nos dele e orientá-lo para algo de mais evoluído, algo de melhor? Parte do trabalho que foi planeado na nossa escola para as crianças de sete anos tem em vista esta última finalidade - ou seja, utilizar esse in- teresse por forma a convertê-lo num meio de perspectivar o pro- gresso da raça humana. As crianças começam por imaginar que as condições de vida actuais desapareciam, deixando-as em contacto directo com a natureza. Isso leva-as a regressar ao pas- sado, ao modo de vida dos povos de caçadores, que habitavam cm cavernas ou no alto das árvores e subsistiam penosamente à custa da caça e da pesca. Elas imaginam, tanto quanto possível, as diversas condições físicas adequadas a esse género de exis- tência; por exemplo, uma ladeira arborizada, próxima duma zo- na montanhosa, junto da qual corresse um rio rico em peixe. De- pois, sempre servindo-se da imaginação, elas progridem do es- tádio das sociedades caçadoras para o estádio semi agrícola, e do estádio nómada para o estádio agrícola sedentário. O aspec- to que eu pretendo salientar é que, deste modo, surgem abun- dantes oportunidades para um estudo efectivo, para investiga- ções que resultam na aquisição de informação. Assim, enquan- to o instinto, antes de mais, faz apelo ao lado social, se recor- rermos a este método, o interesse da criança nas pessoas e nas suas acções pode ser estendido ao mundo mais vasto da reali- dade. Por exemplo, as crianças tinham algumas ideias sobre as armas primitivas, sobre as pontas de flecha de pedra, etc. Isso serviu de pretexto para testar diversos materiais no respeitante à sua resistência, forma, textura, etc., o que redundou numa lição de mineralogia, à medida que elas examinavam as diferentes ro- chas para descobrir qual a mais apropriada ao fim em vista. A discussão em tomo da Idade do Ferro levou as crianças a senti-
- 27. 52 John Dewey rem necessidade de construir um forno de fundição de grandes dimensões, feito de barro. Uma vez que as suas primeiras tenta- tivas não foram bem sucedidas, pois a adequação entre a aber- tura da fornalha e a respectiva chaminé, em termos de tamanho e posição, não era a melhor, foi preciso instrui-las sobre os prin- cípios da combustão e do funcionamento dum forno e a nature- za dos combustíveis. Todavia, esses conhecimentos não lhes fo- ram fornecidos dum modo lapidar; primeiro, os alunos sentiram a falta deles, e depois alcançaram-nos experimentalmente. Em seguida, as crianças escolheram um metal, como o cobre, e exe- 1 cutaram uma série de experiências, fundindo-o e moldando-o para fabricar objectos; e as mesmas experiências foram repeti- ' das com chumbo e outros metais. Este trabalho funcionou igual- , mente como um curso intensivo de geografia, porquanto as ! crianças tiveram de imaginar e compreender a panóplia de con- dições físicas indispensáveis para as diversas formas de vida so- cial implicadas. Quais seriam as condições físicas adequadas à vida de pastoreio? E aos primórdios da agricultura? E à pesca? Quais seriam os métodos naturais de troca entre estes povos? Tendo analisado estes aspectos através da conversação, elas representaram-nos depois por meio de mapas e modelos feitos com areia. Deste modo, familiarizaram-se com os diversos tipos de configuração da paisagem, e, ao mesmo tempo, encararam- -nos no contexto da sua relação com as actividades humanas, convertendo-os em algo mais do que meros factos externos, fundindo-os e mesclando-os, isso sim, com as concepções so- ciais respeitantes à vida e ao progresso da humanidade. O re- sultado, no meu entender, justifica plenamente a convicção de que as crianças, durante um ano de trabalho deste tipo (não ul- trapassando as cinco horas semanais), adquirem um corpo infi- nitamente maior de conhecimentos no campo das ciências, da geografia e da antropologia do que em resultado dos métodos tradicionais, cujo objectivo declarado é informar, e onde lhes é pedido simplesmente que aprendam factos contidos em lições A Escola e a Sociedade 53 padronizadas. Quanto à disciplina, elas adquirem assim um maior treino da atenção, uma maior capacidade de interpreta- ção, de extrair inferências, de observação detalhada e reflexão contínua, do que se lhes for exigida a resolução de problemas arbitrários, cujo único fito é exercitar essa mesma disciplina. Chegado a este ponto, gostaria de tecer alguns comentários sobre a recitação. Todos sabemos no que esta tem consistido - uma ocasião em que a criança demonstra, diante do professor e dos colegas, a quantidade de informação que conseguiu assimi- lar a partir do manual. Segundo esta nova perspectiva, a recita- ção transforma-se acima de tudo num ponto de encontro social; cumpre na escola a função reservada em casa à conversação es- pontânea, embora seja mais organizada, estruturando-se de acordo com linhas bem definidas. A recitação transforma-se, pois, numa espécie de casa de câmbio social, onde as experiên- cias e ideias são trocadas e sujeitas a críticas, onde as concep- ções erróneas são corrigidas e onde se estabelecem novas linhas de pensamento e de investigação. Esta mudança no carácter da recitação, que deixa de ser um exame de conhecimentos já adquiridos para se converter na li- vre interacção dos instintos comunicativos das crianças, afecta e modifica a forma como a escola aborda a linguagem. Sob o re- gime antigo, dotar as crianças do uso pleno e livre da linguagem constituía, inquestionavelmente, uma meta muito difícil de al- cançar. A razão era óbvia. As motivações naturais para empre- gar a linguagem só raramente surgiam. Nos compêndios de pe- dagogia, a linguagem é definida como um meio de expressar pensamentos. Assim é, de facto, em maior ou menor grau, no caso dos adultos, cuja mente alcançou já uma certa maturidade, mas escusado será dizer que a linguagem funciona, antes de mais, como um instrumento social, um meio através do qual re- latamos aos outros as nossas experiências e, em troca, ficamos a conhecer as deles. Quando essa finalidade natural desaparece, não admira que o ensino da língua se converta num problema
- 28. 54 John Dewey complexo e difícil. Pense-se no absurdo de ensinar a linguagem como uma coisa em si. Se há algo que a criança realmente faz antes de entrar na escola, é falar das coisas que lhe interessam. Mas quando a escola não faz apelo a quaisquer interesses vitais, quando a linguagem é usada somente para a repetição de lições, não é de estranhar que uma das principais dificuldades da esco- la seja, cada vez mais, a instrução na língua-mãe. Uma vez que a linguagem ensinada não é natural, não brota do desejo efecti- vo de comunicar impressões e convicções vitais, o à-vontade com que a criança a emprega desaparece gradualmente, até que, por fim, o professor de liceu tem de inventar todos os géneros de artimanhas para obter dos alunos um uso espontâneo e irres- trito da fala. Além disso, quando o instinto verbal é socialmen- te estimulado, há um contacto contínuo com a realidade. Em re- sultado disso, a criança tem sempre em mente um tema de con- versa, tem sempre algo para dizer; tem pensamentos que quer exprimir, e um pensamento só merece esse nome se for produ- zido pelo próprio. No método tradicional, a criança é obrigada , a dizer coisas que se limitou a aprender. Há toda a diferença do mundo entre ter algo para dizer e ter de dizer algo. A criança que dispõe duma grande variedade de materiais e factos sente o de- ' sejo de falar acerca deles, e a sua linguagem toma-se mais refi- nada e completa, na medida em que é controlada e informada por realidades. Ler e escrever, assim como o uso oral da lingua- gem, podem ser ensinados a partir destes pressupostos. Isso po- de ser feito com base nas relações que a criança estabelece, co- mo extensão do desejo social de relatar as suas experiências e de ouvir em troca as experiências dos outros, tendo sempre co- mo linha orientadora o contacto com os factos e forças que de- terminam a verdade comunicada. Por falta de espaço, não irei alongar-me em considerações acerca do trabalho das crianças mais velhas, em que os instintos originais e pouco burilados de construção e comunicação sofre- ram já uma certa evolução, dando lugar a algo de semelhante a AEscola e a Sociedade 55 uma investigação cientificamente orientada - mas darei, isso sim, um exemplo do uso da linguagem que se segue a esse tra- balho experimental. O trabalho em causa baseava-se numa ex- periência simples e bastante comum, que pretendia introduzir gradualmente as crianças no estudo da geologia e da geografia. As frases que vou citar têm, no meu entender, um carácter tão poético como «científico». «Há muito tempo, quando a Terra era nova, quando era só lava, não havia água na Terra, havia va- por de água no ar à sua volta, e havia muitos gases no ar. Um deles era o dióxido de carbono. O vapor de água originou nu- vens, porque a Terra começou a arrefecer; ao fim de algum tem- po veio a chuva, a água caiu e dissolveu o dióxido de carbono do ar.» Este texto é muito mais científico do que provavelmen- te parecerá à primeira vista. Representa cerca de três meses de trabalho por parte da criança. Os alunos mantinham registos diários e semanais, mas este trecho foi retirado da síntese do tra- balho dum trimestre. Classifico esta linguagem de poética por- que a criança traça um quadro a um tempo claro e pessoal das realidades retratadas. Extraí frases de dois outros registos para ilustrar ainda melhor o uso intenso da linguagem quando esta traduz experiências intensas. «Quando a Terra arrefeceu o sufi- ciente para haver condensação, a água, com a ajuda do dióxido de carbono, puxou o cálcio das rochas, dissolvendo-o numa grande massa de água onde os pequenos animais podiam usá- -lo.» A outra criança escreveu o seguinte: «Quando a Terra ar- refeceu, o cálcio estava nas rochas. Depois o dióxido de carbo- no e a água uniram-se, formaram uma solução, e, enquanto cho- via, esta arrancou o cálcio e transportou-o para o mar, onde ha- via pequenos animais que o absorveram.» O uso de palavras co- mo «puxou» e «arrancou» a propósito de fenómenos de altera- ção química evidencia uma compreensão pessoal desses pro- cessos, que possibilita a expressão individualizada das ideias. Se eu não me tivesse alongado tanto nos outros exemplos que dei, gostaria de mostrar como, partindo de coisas materiais muito
- 29. 56 John Dewey simples, as crianças são conduzidas a campos de investigação mais vastos e assimilam a disciplina intelectual que acompanha tais pesquisas. Assim sendo, limitar-me-ei a referir a experiência que constituiu o ponto de partida deste trabalho. Tratou-se de fa- bricar cré, usado para polir metais. Servindo-se dum dispositivo bastante simples - um gobelé, água de cal e um tubo de ensaio - as crianças precipitaram o carbonato de cálcio contido na água; e, partindo daqui, iniciaram um estudo dos processos atra- vés dos quais os diversos tipos de rochas (ígneas, sedimentares, etc.) se formaram à supetfície da Terra, bem como a respectiva lo- calização; em seguida, abordaram aspectos da geografia dos Es- tados Unidos, do Havai e de Porto Rico; e os efeitos destas várias massas de rocha, nas suas várias configurações, sobre as ocupa- ções humanas; de tal forma que, por fim, este registo geológico redundou numa descrição da vida do homem nos tempos actuais. As crianças viram e sentiram a relação entre os processos geoló- gicos, ocorridos há milhares e milhares de anos, e as condições fí- sicas que determinam as actividades industriais dos nossos dias. De todas as possibilidades contidas no tema «A Escola e a Vi- da da Criança», escolhi apenas uma, aquela que, segundo des- cobri, coloca mais dificuldades às pessoas, é para elas um obs- táculo maior. A maior parte de nós admite prontamente que se- ria desejável que a escola fosse um lugar onde a criança vives- se realmente e adquirisse uma experiência de vida que, sem dei- xar de lhe proporcionar prazer, possuísse um significado próprio e inteligível. Todavia, ouvimos em seguida esta interrogação: Partindo destes pressupostos, como é que a criança adquirirá a informação necessária; como é que ela assimilará a disciplina exigida? A verdade é que se chegou a uma situação em que aos olhos de muitas, senão da maioria das pessoas, os processos normais da vida são incompatíveis com a aquisição de informa- ção e disciplina. Tentei por isso indicar, dum modo extrema- mente genérico e inadequado (pois só a própria escola, no seu funcionamento diário, poderia fornecer uma representação por- A Escola e a Sociedade 57 menorizada e válida), como é que esse problema é resolvido - como é possível tirar proveito dos instintos rudimentares da na- tureza humana, e, criando o ambiente adequado, controlar ares- pectiva expressão, tendo em vista não só facilitar e enriquecer o desenvolvimento da criança individual, mas também obter os mesmos resultados de outrora, e superá-los até, no campo da in- formação e da mestria técnicas, que constituíam os ideais da educação no passado. Todavia, embora tenha escolhido esta forma especial de abor- dagem (numa concessão à questão que parece ser o cerne das preocupações de quase toda a gente), não pretendo encerrar o assunto neste tom mais ou menos negativo e explanatório. Afi- nal de contas, é a vida o mais importante; a vida da criança, no seu tempo e na sua medida próprias, não menos do que a vida do adulto. Estranho seria, aliás, se o facto de dedicarmos uma atenção inteligente e séria às exigências e capacidades actuais da criança, tendo em vista proporcionar-lhe uma vida enrique- cida, válida e de horizontes largos entrasse em conflito com as necessidades e possibilidades da sua existência futura enquanto adulto. «Vivamos com as nossas crianças» significa seguramen- te, antes de mais, que às nossas crianças será permitido víver- e não que elas serão tolhidas e forçadas a submeter-se a todos os géneros de constrangimentos, cuja preocupação mais remota é a relevância para a sua vida presente. Se, educativamente, bus- carmos o reino dos céus, tudo o resto virá por acréscimo - is- to é, se nos identificarmos com os genuínos instintos e necessi- dades da infância, e só mais tarde exigirmos a sua afirmação e desenvolvimento plenos, veremos que a disciplina, a informa- ção e a cultura da vida adulta surgirão na altura própria. Falar em cultura lembra-me que, de certa forma, tenho vindo a referir-me apenas aos aspectos exteriores da actividade da criança - ou seja, tenho focado apenas a expressão aparente dos seus impulsos para dizer, fazer, descobrir e criar. A criança real, escusado será dizê-lo, vive no mundo dos valores e ideias ima-
- 30. 58 John Dewey ginárias, cuja corporização externa é sempre imperfeita. Hoje em dia, ouvimos falar muito no desenvolvimento da «imaginação» da criança. Em seguida, contrariamos muitas das nossas próprias palavras e actos ao insistirmos na crença de que a imaginação é uma faceta especial da criança, que ela exerce somente num de- terminado domínio - em termos genéricos, o do irreal e do faz de conta, dos mitos e das histórias fantasiadas. Por que seremos nós tão insensíveis e tão pouco perspicazes? A imaginação é o meio no qual a criança vive. Para ela, em todos os lugares e em todas as coisas que lhe prendem a atenção ou sobre as quais ela age há uma superabundância de valor e significado. A questão da relação entre a escola e a vida da criança resume-se, no fundo, a isto: iremos nós ignorar esta tendência inata, passando a lidar, não com a criança viva, mas sim com a imagem inanimada que dela construímos, ou iremos antes proporcionar-lhe prazer e sa- tisfação? Se acreditarmos a um tempo na vida e na vida da crian- ça, então todas as ocupações e usos que aqui referi, toda a histó- ria e toda a ciência, passarão a ser instrumentos de sedução e fer- ramentas de cultura para a sua imaginação, e, através disso, para o enriquecimento e organização da sua vida. Onde agora vemos apenas o acto exterior e o produto exterior, aí mesmo, por trás de todos os resultados visíveis, há o reajustamento da postura men- tal, a perspectiva alargada e solidária, a consciência dum poder crescente e a capacidade espontânea para identificar o discerni- mento e as aptidões individuais com os interesses do mundo e do homem. Caso não seja um verniz superficial, um folheado de mogno sobre madeira vulgar, a cultura é seguramente isto - o desenvolvimento da imaginação em termos de flexibilidade, âm- bito e solidariedade, até que a vida que cada indivíduo vive fique repassada pela vida da natureza e da sociedade. Quando a natu- reza e a sociedade puderem viver na sala de aula, quando os mé- todos e ferramentas da aprendizagem estiverem subordinados à substância da experiência, então haverá oportunidade para esta identificação e a cultura será o santo-e-senha democrático. III O DESPERDÍCIO NA EDUCAÇÃO O primeiro capítulo abordou a escola nos seus aspectos so- ciais e os necessários reajustamentos que têm de ser feitos para a tomar eficaz nas actuais condições sociais. O segundo debruçou-se sobre a relação da escola com o crescimento das crianças. O presente capítulo abordará a escola enquanto insti- tuição, na sua relação tanto com a sociedade como com os seus próprios membros - as crianças. Tratará da questão da organi- zação, já que todo o desperdício é o resultado da sua ausência, sendo o motivo que lhe está subjacente a promoção da econo- mia e da eficiência. A questão essencial não se prende com o desperdício de dinheiro ou de bens materiais. Claro que estes aspectos são importantes, mas o principal desperdício diz res- peito à vida humana, à vida das crianças enquanto estão na es- cola e depois disso, como resultado da sua preparação inade- quada e pervertida. Desta forma, quando falamos de organização não estamos apenas a pensar em aspectos externos, também designados por «sistema escolar»: o quadro de professores, o director, o edifí- cio, a contratação e promoção de professores, etc. Estes aspec- tos estão presentes, mas a organização fundamental é a da pró-
- 31. 60 John Dewey pria escola enquanto comunidade de indivíduos, nas suas rela- ções com outras formas de vida social. Todos os desperdícios se devem ao isolamento. A organização não é senão pôr as coisas em contacto umas com as outras de forma a que estas funcio- nem com facilidade, flexibilidade e de forma ampla. Assim, ao falar da questão do desperdício na educação desejo chamar a vossa atenção para o isolamento dos vários sectores do sistema escolar, para a falta de unidade nos objectivos da educação e pa- ra a falta de coerência nos seus estudos e métodos. Elaborei um quadro (Quadro I) que, enquanto falo dos isola- mentos do próprio sistema escolar, pode ser visualmente atraen- te, ao mesmo tempo que poupa algum tempo em explicações verbais. Um amigo meu que gosta de paradoxos costuma dizer que não há nada tão obscuro como uma ilustração, e é bem pos- sível que a tentativa de ilustrar a minha perspectiva se revele a prova da veracidade desta afirmação. Os blocos representam os vários elementos do sistema esco- lar e pretendem indicar, de forma aproximada, o período de tempo concedido a cada secção, bem como as sobreposições tanto em tempo como em assuntos estudados, das diferentes partes do sistema. Em cada bloco estão indicadas as condições históricas nas quais ele surgiu, bem como o seu ideal orientador. 1 O sistema escolar, no seu todo, desenvolveu-se do topo para a base. Durante a Idade Média, consistia essencialmente num conjunto de escolas profissionais, em particular de direito e de teologia. A.nossa actual universidade teve a sua origem na Ida- de Média. Não estou com isto a dizer que seja actualmente uma instituição medieval, mas tem as suas raízes na Idade Média e ainda não ultrapassou todas as tradições medievais, no que con- cerne à aprendizagem. O jardim de infância, surgido no início deste século, resultou da junção dos quartos de brincarl com a filosofia de Schelling: l Nursery, no original. (N. T.) A Escola e a Sociedade o •<I'. cn <>w <I'. a: :::;ºa: cn ro cn o u.. w cn <I'. w u.. <( o ºº. ~ <I'. a:z ...J [)._ o Ow üi ::> mi cn ...J <I'. <I'. ü: <I'. a: z > ::>::::; o ~...., 9:: a:[)._ o ...J ü w ::> cn cn :::; ü õ <I'. ...J ...J <I'. w o o ü ;;; a: <I'. cn w::> o w õ~ üi ...J w::> a: <I'. :::; ü w :::; > a: z o::> z <I'. ã: ·<I'. <I'. O- i"" z:::; ::> w a: ~ ºº ::> ~ w <I'. ~ücn o <I'. <I'. ::> cn ~ ...J ::> ü õ .fil 8º :::; S' cn a: LU w w (.) ...., -z ..... :;;: ::> ...JÔ o- ü cnw ~~<I'. <I'. o ã: • ;:;!·<I'. :::; ~ o ã: •<I'. [)._ <.> <I'. Cl ::::; <I'. w jtj~ o :su.. - ...J o ~ X êt ü cnw o w o . :::; :::; õ a: <I'....., 61 cn<I'. ü z w ü -~! ·W...., cn :s ::> oü cn r· w o a: <I'. ::> 9~ . :::! ::> ~ü -o .aro :::l o X x cj ·W cn
- 32. 62 John Dewey um casamento entre os jogos e as brincadeiras que as mães fa- ziam com os filhos e a filosofia profundamente romântica e sim- bólica de Schelling. Os elementos oriundos do estudo concreto da vida da criança, na continuação dos quartos de brincar, per- maneceram uma força vital em toda a educação; os factores schelinguescos criaram uma obstrução entre eles e o restante sistema escolar, trazendo consigo isolamentos. A linha traçada na parte superior mostra que existe uma cer- ta interacção entre o jardim de infância e a escola primária. Contudo, na medida em que a escola primária permaneceu, em espírito, afastada dos interesses naturais da vida da criança, es- teve isolada do jardim de infância, de modo que actualmente constitui um problema introduzir métodos do jardim de infância na escola primária: o problema da chamada classe de ligação. A dificuldade reside no facto de os dois não constituírem um todo desde o princípio. Para estabelecer uma ligação, o professor tem de saltar o muro em vez de entrar pelo portão. No que diz respeito aos objectivos, o desenvolvimento moral da criança constituía o ideal do jardim de infância, ao invés da instrução ou da disciplina: um ideal por vezes exagerado até ao sentimentalismo. A escola primária foi praticamente uma con- sequência do movimento popular do século XVI, quando, a par da invenção da imprensa e do desenvolvimento do comércio, se tomou necessário saber ler, escrever e calcular. O objectivo era claramente prático, tratava-se de uma questão utilitária: saber utilizar estas ferramentas, ou seja, os símbolos da aprendiza- gem, não pela aprendizagem em si mesma, mas porque permi- tia o acesso a carreiras, de outra forma vedado. O bloco a seguir ao da escola primária diz respeito ao liceu ou escola intermédia2. A designação não é muito utilizada no 2 Grammar school, no original. Esta designação em norte-americano é sinórúmo de escola elementar (do l .ºao 8.º anos de escolaridade), mas no seu surgimento, na Eu- ropa, designa os anos relativos ao liceu ou 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. (N. T.) A Escola e a Sociedade 63 Ocidente, mas é habitual nos estados do Leste. Este nível de en- sino remonta à época da Renascença; talvez seja um pouco an- terior às condições que levaram ao surgimento da escola primá- ria e, mesmo quando contemporâneo, teve ideais diferentes. Na sua origem esteve o estudo da linguagem no seu sentido mais elaborado, dado que no Renascimento o latim e o grego permi- tiam às pessoas ter acesso à cultura do passado, ou seja, ao mun- do grego e romano. As línguas clássicas constituíam o único meio de escapar às limitações da Idade Média. E assim nasceu o protótipo do liceu ou da escola intermédia, mais liberal do que a universidade (de carácter tão vastamente profissional), com o objectivo de pôr nas mãos das pessoas a chave para a velha aprendizagem, de forma a que os homens pudessem ver o mun- do com horizontes mais vastos. O objectivo era fundamental- mente cultural e secundariamente disciplinar. Representava muito mais do que a actual escola intermédia. Era o elemento li- beral na universidade, o qual, prolongando-se no sentido des- cendente, gerou a academia e a escola secundária. Assim, a es- cola secundária ainda é, em parte, apenas uma universidade me- nos sofisticada (tendo mesmo um currículo mais avançado do que o da universidade de há uns séculos atrás) ou um departa- mento preparatório para a universidade e, em parte, um apro- fundamento dos conhecimentos da escola elementar. Assim, surgem dois produtos do século XIX, as escolas técni- cas e as escolas para formação de professores. As escolas de tec- nologia, engenharia, etc. são predominantemente fruto das con- dições associadas aos negócios do século XIX, assim como as es- colas primárias foram fruto do desenvolvimento destas mesmas condições no século XVI. A escola de formação de professores surgiu dada a necessidade de treinar professores, tendo em men- te tanto o entusiasmo profissional como a cultura. Sem entrar em mais detalhes, temos umas oito partes dife- rentes do sistema escolar tal como estão representadas no qua- dro, as quais surgiram historicamente em épocas distintas, ten-
- 33. John Dewey 64 do em vista ideais distintos e, por conseguinte, métodos distin- tos. Não pretendo sugerir que o isolamento e a separação que existiram no passado entre as diferentes partes do sistema esco- lar ainda persistam inteiramente. No entanto, devemos reconhe- cer que elas nunca foram até agora unidas num todo completo. Numa perspectiva administrativa, o grande problema da educa- ção reside na forma de unificar estas diferentes partes. Tomemos em consideração as escolas de formação para pro- fessores. Elas ocupam actualmente uma posição de alguma for- 1 ma anómala, situando-se entre a escola secundária e a universi- dade, requerendo a formação secundária e abarcando algum tra- balho de nível universitário. Estão isoladas dos conteúdos aca- démicos mais elaborados, uma vez que, acima de tudo, o seu 1 objectivo se tem prendido com a formação relativa a como en- .. sinar e não o que ensinar. Ao mesmo tempo, se pensarmos na ' universidade, encontramos o isolamento diametralmente opos- to: a aprendizagem de o que ensinar, com um quase desprezo 1 pelos métodos de ensino. A este nível de ensino, est~-se isolado do contacto com crianças e jovens. Em grande medida, os seus membros, longe de casa e esquecidos da sua própria infância, acabam por se tornar professores com um amplo domínio da , matéria a leccionar e pouco conhecimento da forma como esta se relaciona com a mente daqueles a quem irão ensinar. Nesta · divisão entre o que ensinar e como ensinar, cada um dos lados sofre com a separação. . Será interessante acompanhar a inter-relação entre escola pn- mária, 2.º e 3.º ciclos e escola secundária. A escola elementar massificou-se e integrou muitos assuntos anteriormente estuda- dos nas antigas escolas de 2.º e 3.º ciclos da Nova Inglaterra-,A. escola secundária prescindiu de alguns destes assuntos. O latim e a álgebra foram colocados em anos de escolaridade superio- · res, de maneira que os 7.º e 8.º anos são, afinal, o que restou da) antiga escola elementar. Estes anos constituem uma espécie de·, composto amorfo sendo, em certa medida, um lugar onde as A Escola e a Sociedade 65 crianças continuam a aprender o que já aprenderam (a ler, es- crever e calcular) e, noutra medida, um lugar de preparação pa- ra a escola secundária. Estes anos de escolaridade tomavam em algumas regiões da Nova Inglaterra a denominação de «Escola Intermédia». Trata- -se de uma designação feliz; o trabalho escolar era simplesmen- te intermediário entre algo que tinha sido e algo que viria a ser, não tendo um significado especial por si próprio. Assim como as partes estavam separadas, também os ideais diferiam no tocante ao desenvolvimento moral, utilidade práti- ca, cultura geral, disciplina e treino profissional. Cada um des- t~s ?omínio~ estava representado em particular nalguma parte d1stmta do sistema educativo e, com a crescente interacção en- tre as partes, era suposto cada uma adquirir uma certa faceta de cultura, disciplina e utilidade. Mas a ausência de uma verdadei- ra unidade é testemunhada pelo facto de uma matéria de estudo poder ser considerada adequada para a disciplina e outra sê-lo ~ar~ a cultura; algumas partes da aritmética, por exemplo, serem 111d1cadas para a disciplina e outras para a utilidade; a literatura para a cultura, a gramática para a disciplina, a geografia em par- te para a utilidade e em parte para a cultura e assim por diante. A unidade da educação dissipa-se e as matérias de estudo tomam-se centrífugas. Um tanto deste estudo para assegurares- te fim, um tanto de um outro para assegurar outro fim, até que o todo se torna em mero compromisso e manta de retalhos ob- jectivos em conflito e estudos dispersos. O maior problema da educ.ação, de um ponto de vista administrativo, é o de assegurar a unidade do todo, em vez de uma sequência de partes mais ou menos sobrepostas e não relacionadas, conseguindo assim redu- 1.ir a perda que surge da fricção, duplicação e transições que não são adequadamente interligadas. Neste segundo diagrama simbólico (Quadro II) pretendo su- gerir que a única forma de unir as partes do sistema é unir cada uma delas à vida. Não podemos senão obter uma unidade artifi-