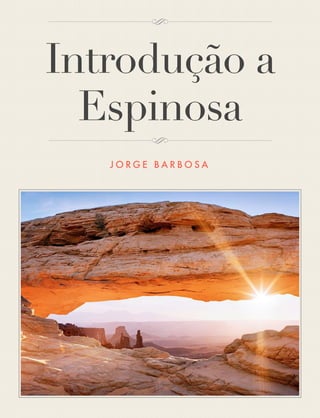
Introdução a Espinosa
- 1. Introdução a Espinosa J O R G E B A R B O S A
- 2. Prefácio Um Filósofo Exilado Espinosa nasceu em Amesterdão, em 24 de Novembro de 1632, numa família ju- dia, deslocada de Portugal para os Países-Baixos em busca da liberdade religiosa, que lhe era proporcionada, desde 1579, pela União de Utrecht. O seu avô, Baruch Michael, era o chefe da comunidade sefardita de Amesterdão; o seu pai, Michael, era diretor da escola judia da cidade. Chamado inicialmente Bento (em portu- guês), depois Baruch (“Bento” em hebreu), quando jovem adotará o nome de Be- nedictus (“Bento” em Latim) nos documentos oficiais. Para além da instrução essencialmente religiosa que recebeu na escola hebraica da comunidade, Espinosa aprendeu as línguas espanhola e holandesa com o seu pai, que tinha intenção de o preparar para uma carreira de negócios. Mais tarde, foi iniciado nas matemáticas, na física e na filosofia por Van den Enden, um antigo jesuíta livre pensador que tinha fundado uma escola em Amesterdão (donde seria, mais tarde, expulso por ateísmo). Foi, provavelmente, graças a Van den Enden que Espinosa tomou conhecimento da chamada filosofia nova, da filosofia de Descar- tes. Conduzido pelos seus estudos científicos e pelas suas leituras a duvidar do que os rabinos lhe ensinavam, Espinosa defende publicamente teses contrárias à orto- doxia judia. Os rabinos convocam e tentam reconduzir à fé religiosa o seu aluno mais brilhante. Intransigente, Espinosa recusa tudo o que lhe é proposto. Em 24 de Julho de 1650, é solenemente excomungado e, pouco tempo depois, condenado a um exílio de alguns meses. Instala-se, então, em Ouwekerk, nos arredores de Amesterdão. Em 1660, desloca-se ainda para mais longe, para Rijnsburg, perto de Leyde. i
- 3. Na altura da morte do seu pai, em 1654, Espinosa deixa a sua parte da heran- ça às irmãs. Passa a ganhar a vida a polir lentes destinadas ao fabrico de lupas e de microscópios. Forma-se, entretanto, um círculo de amigos em torno dele: Louis Meyer, Simon de Vries, Jean Rieuwertz, Pierre Balling, Johan Brouwmeester. Foi em Rijnsburg que Espinosa escreveu o seu Curto tratado sobre Deus, o homem e a santidade da sua alma, cujo manuscrito só será descoberto em 1853. Esta obra consti- tui um primeiro esboço das teses que serão desenvolvidas mais tarde na Ética: posi- ção de Deus como substância única, distinção dos géneros de conhecimento huma- no, teoria do amor de Deus. Em 1661, Espinosa começa a redigir o seu Tratado da reforma do entendimento, que deixará incompleto. Nele, expõe a sua conceção da ver- dade e do erro, assim como o seu método reflexivo. Em 1663, a pedido dos seus amigos, e graças à sua ajuda financeira, Espinosa publica os Princípios da filosofia de René Descartes e os Pensamentos metafísicos. Na mesma altura, começa a trabalhar no que virá a ser a sua Ética. Em 1663, Espinosa instala-se em Voorburg, perto de Haia. Aí se mantém até 1670, data a partir da qual passa a viver em Haia até ao fim da sua vida. Pela Independência da Filosofia A Holanda conhecia, na época, um período de intensas perturbações. Em plena guerra defensiva contra os exércitos de Luís XIV, uma luta violenta, ao mesmo tempo social, religiosa e política, opunha os “protestantes”, partidários da tolerân- cia e da separação da Igreja e do Estado, aos calvinistas ortodoxos, que reclama- vam que o Estado se encarregasse de combater as heresias. A agitação popular dos calvinistas ortodoxos era alimentada pelo partido monárquico do príncipe de Orange, que estava a tentar derrubar o poder republicano do “Grande Residen- te”, Jean de Witt. Favorável ao Grande Residente, Espinosa redige em 1665 um Tratado teológico-po- lítico, que, de algum modo, dá início à época das Luzes. Reivindica a independên- cia absoluta da filosofia que se fundamenta na razão e na procura da verdade, ao contrário da fé que visa a obediência e a piedade. Com base neste pressuposto, rea- ii
- 4. liza uma análise livre e muito pouco ortodoxa da Bíblia. O prefácio do tratado de- nuncia a exploração política da superstição religiosa e as destruições levadas a cabo pela intolerância. No capítulo 20, em jeito de conclusão, justifica o princípio da liberdade de pensamento. Decididamente hostis ao partido monárquico e à pro- paganda dos pastores calvinistas, estas teses fazem escândalo e valem a Espinosa a reputação de ateísmo que o acompanhará até ao século XIX. Em 1675, Espinosa acaba a sua obra-prima, a Ética, na qual trabalhou mais de dez anos. Nela desenvolve o princípio essencial da sua filosofia: a libertação do ho- mem através do conhecimento. Muito antes dessa data, circularam cópias parciais pelo seu círculo de amigos e discípulos, que lhe enviaram pedidos de esclarecimen- tos e sugeriram alterações importantes. Chegado o momento de mandar imprimir a sua obra, Espinosa acaba por desistir, receando as armadilhas que lhe seriam ar- madas pelos teólogos. Mas nem por isso o manuscrito será menos conhecido até por gente exterior ao círculo dos seus amigos. Um exemplo famoso é Leibniz que faz uma visita a Espinosa em 1676. No fim da sua vida, Espinosa tenta reformular a sua filosofia política tal como a tinha enunciado no Tratado teológico-político. A tuberculose não lhe permitiu ter o tempo necessário para concluir essa obra. Na verdade, não ultrapassou o início do capítulo XI do seu Tratado político. Morreu em Fevereiro de 1677. Ética e Moral Sob a capa do projeto de uma ontologia pura, como é que é possível que Espinosa dê o nome de Ética a essa ontologia pura? Percebemos esta designação por um conjunto de características. Desde logo, damos conta desta ligação entre uma On- tologia e uma Ética a partir da suspeição de que a ética não tem nada a ver com a moral, em Espinosa. E porque é que nos é legítimo suspeitar deste laço que faz com que essa Ontologia pura receba o nome de Ética? Por um lado, o conjunto dos entes, essa substância única absolutamente infinita, é o ser. O ser enquanto ser. Por outro lado, os entes, tomados individualmente, não são seres; são aquilo a que Espinosa chama “modos”, modos da substância absolutamente infinita. E um iii
- 5. modo é o quê? É uma maneira de ser. Os entes ou os existentes não são seres. Só a substância absolutamente infinita tem condições para ser. Então, nós, que somos entes, nós, que somos existentes, não somos seres, somos maneiras de ser dessa substância infinita. Qual é, então, o sentido mais imediato da palavra ética e em que é que ela se distingue da moral? Atualmente, o nome que talvez Espinosa atribuiria à sua Ética seria muito provavelmente “etologia”. Quando falamos de Etologia, a respeito dos animais ou a respeito dos homens, estamos a referir-nos a uma ciência prática das maneiras de ser. Ora, a maneira de ser é precisamente o estatuto dos entes, dos existentes, do ponto de vista de uma ontologia pura. E em que é que ela é dife- rente da moral? Essa diferença reside no facto de a ética, no sentido de Espinosa, corresponder à composição de uma paisagem, e não de um dever. Nós somos mo- dos de ser no ser, e este é o objeto da ética, isto é, da etologia. A Moral como Realização da Essência Na moral, pelo contrário, lidamos com a essência e com os valores. A moral faz apelo à essência, isto é, à nossa essência, e esta essência faz apelo aos valores. Não se trata do ponto de vista do ser. A moral não pode formular-se a partir do ponto de vista de uma ontologia. Na verdade, a moral implica sempre algo de superior ao Ser; aquilo que pode ser superior ao Ser é algo que desempenha o papel do Uno, do Bem, é o uno superior ao Ser. Com efeito, a moral é a tarefa de julgar não somente tudo o que é, mas também o próprio ser. O que está em questão na moral é a nossa essência. Na moral, trata-se sempre de realizar a essência. Isso im- plica que a essência se encontre num estado em que ela não seja necessariamente realizada. Implica também que tenhamos uma essência. Não é evidente que haja uma essência do homem. Mas é necessário à moral falar e dar-nos ordens em nome de uma essência. Se nos são dadas ordens em nome de uma essência, é por- que essa essência não se realiza por si mesma. Diremos que ela é em potência no homem. iv
- 6. O que é essa essência em potência do homem do ponto de vista da moral? De há muito tempo se sabe que a essência do homem é ser um animal racional. Aristó- teles: “O homem é um ser racional”. A essência é o que a coisa é: animal racional é a essência do homem. Mas de pouco vale ao homem ter por essência ser um ho- mem racional: nem por isso deixa de se conduzir muitas vezes de forma irracional. Como é que isto pode acontecer? É que a essência do homem, enquanto tal, não é necessariamente realizada. Não sendo o homem razão pura, acontecem acidentes e o homem não deixa de ser desviado dela. Toda a concepção clássica do homem consiste, então, em convidá-lo a unir-se à sua essência, porque justamente essa essência é uma potencialidade não necessaria- mente realizada, e a moral é o processo de realização humana. Dizer que ela é rea- lizada através da moral é dizer que a essência é uma finalidade. A essência do homem deve ser considerada uma finalidade para o homem exis- tente. Portanto, conduzir-se de forma razoável, isto é, transformar a essência em acto, é a tarefa da moral. Ora, considerar a essência uma finalidade é fazer dela um valor. Em resumo, a essência só é em potência; temos de realizar a essência; a realiza- ção da essência acontecerá, na medida em que a essência seja considerada como um fim; os valores garantem a realização da essência. Este é o conjunto que consti- tui a moral. A Ética como existência de um potencial Espinosa fala frequentemente da essência, mas, para ele, a essência nunca é a essência do homem. A essência é sempre uma determinação singular. Há a essên- cia deste, daquele, mas não há uma essência do ser humano. Dirá mesmo que as essências gerais ou as essências abstratas, do tipo da essência do homem, são ideias confusas. Não há ideias gerais na Ética. Há este, aquele, há singularidades. Mesmo quando fala de essência, o que lhe interessa não é a essência, o que lhe interessa é a existência, o existente. Por outras palavras, o que é só pode ser relacionado com v
- 7. o ser ao nível da existência e não ao nível da essência. Encontramos aqui, sem dú- vida, uma certa forma de existencialismo em Espinosa. Espinosa não se interessa, portanto, pela essência do homem, pela essência que seria nele em potência e que a moral se encarregaria de realizar. Aquilo que inte- ressa a Espinosa são os existentes na sua singularidade. Defende, por um lado, que, entre os existentes, há uma distinção, uma diferença quantitativa de existên- cia, isto é, que os existentes podem ser classificados numa espécie de uma escala quantitativa, em função da qual são mais ou menos. Por outro lado, o discurso da ética prossegue admitindo que existe também uma oposição qualitativa entre mo- dos de existência. Estes dois critérios da ética, isto é, a distinção quantitativa dos existentes e a oposição qualitativa entre modos de existência ou a polarização qua- litativa dos modos de existência, constituem as duas maneiras de os existentes se- rem no ser. São estas a ligações da Ética com a Ontologia: os existentes ou os en- tes são no ser, de dois pontos de vista simultâneos: do ponto de vista de uma oposi- ção qualitativa dos modos de existência e do ponto de vista de uma escala quantita- tiva dos existentes. É o mundo da imanência. Porque é que dizemos que este é um mundo da imanência? Porque, na verda- de, a ética de Espinosa distancia-se claramente dos valores morais, tais como aca- bam de ser definidos, como uma espécie de tensão entre a essência a realizar e a realização da essência. Podemos dizer que o valor é exatamente a essência conside- rada como finalidade. Este é o mundo da moral, transcendente, de que Espinosa se distancia construindo uma nova paisagem, a de uma ética imanente. Kant é o responsável pela construção de um mundo moral perfeito. Com efei- to, em Kant, uma essência humana suposta é considerada como um fim, numa es- pécie de acto puro. A ética de Espinosa não tem nada a ver com isto. Estamos, por- tanto, perante dois mundos completamente diferentes: o mundo da moral, cujo re- presentante mais perfeito é Kant, e o mundo da ética de Espinosa. Por outras pala- vras, o que é que Espinosa tem para dizer aos outros? Nada. Numa moral, confrontamo-nos sempre com a seguinte equação: fazemos algu- ma coisa, dizemos alguma coisa, e nós próprios julgamos o que fazemos e o que di- zemos. É o sistema do juízo. Um duplo juízo, porque nos julgamos a nós próprios vi
- 8. e somos julgados. Gostar da moral é gostar de julgar. Ora, julgar implica sempre uma instância superior ao ser, implica sempre algo de superior a uma ontologia. Implica sempre o Uno mais do que o Ser, o Bem que conduz ao ser e ao agir, im- plica o Bem superior ao Ser, o Uno. O valor exprime esta instância superior ao ser. Os valores são, portanto, o elemento fundamental do sistema de juízo. Referi- mo-nos sempre a esta instância superior ao ser para julgar. Numa ética, tal como a concebe Espinosa, não julgamos. De certo modo dizemos: o que quer que faça- mos, só teremos aquilo que merecermos. Alguém diz ou faz alguma coisa, e nós não relacionamos isso com valores. Questionamo-nos sobre como é que isso foi possível, como é que isso foi possível de forma interna. Por outras palavras, relacio- namos a coisa ou o dizer com o modo de existência que a coisa ou o dizer impli- cam, que envolvem em si mesmos. Como somos para dizer isto ou aquilo? Que maneira de ser isso implica? É este tipo de questões que se colocam na ética de Es- pinosa. Procuramos os modos de existência envolvidos, e não os valores transcen- dentes. É a operação da imanência. O ponto de vista da ética é o de determinar de que é que somos capazes. Don- de, esta espécie de grito de Espinosa: o que é que pode um corpo? À partida, não sabemos nunca do que é capaz um corpo. Não sabemos nunca, à partida, como os modos de existência se organizam e são envolvidos em quem quer que seja. Espi- nosa explica muito bem que tal ou tal corpo, nunca é um corpo qualquer; o corpo é: do que é que somos capazes? O discurso da ética tem, então, duas características: diz-nos que os entes têm uma distinção quantitativa de mais e de menos, e que os modos de existência têm uma polaridade qualitativa. Em resumo, isto quer dizer que há dois grandes mo- dos de existência. Quando nos é sugerido que entre duas pessoas, ou entre uma pessoa e um ani- mal, ou entre um animal e uma coisa, só há, do ponto de vista da ética, isto é, on- tologicamente, uma distinção quantitativa, de que tipo de quantidade estamos a falar? Quando nos é sugerido que o que constitui o mais profundo da nossa singu- laridade é algo de quantitativo, o que é que isso pode querer dizer? Fichte e Schelling desenvolveram uma teoria da individuação que, normalmente e em resu- vii
- 9. mo, nos é apresentada como a teoria da individuação quantitativa. Compreende- mos vagamente que as coisas se individuam quantitativamente. Mas já não é tão fácil aceder ao conceito de quantidade aqui presente. Trata-se de definir as pesso- as, as coisas, os animais, o que quer que seja, por aquilo de que são capazes, o que quer dizer que não são todos capazes da mesma coisa. De que é que eu sou capaz? Nunca um moralista definiria o homem por aquilo de que ele é capaz, um moralis- ta define o homem por aquilo que ele é de direito. Um moralista define, portanto, o homem como um ser racional. É a sua essên- cia. Espinosa nunca define o homem como um animal racional, define-o por aqui- lo de que ele, como corpo e alma, é capaz. Ser racional não é a essência do ho- mem, mas é algo de que ele é capaz. Esta forma de ver as coisas altera-as de tal modo que compreendemos facilmente que ser irracional se situa exatamente ao mesmo nível de ser racional. Também é algo de que o homem é capaz. Ao nível dos animais, podemos compreender melhor o problema. Segundo a história natural, criada por Aristóteles, definir um animal é dizer aquilo que ele é. Na sua ambição fundamental, trata-se de dizer o que o animal é. O que é um ver- tebrado? O que é um peixe? A história natural de Aristóteles está repleta desta bus- ca da essência. Através das classificações dos animais, definimos cada animal, sem- pre que possível, pela sua essência, por aquilo que ele é. Imaginemos alguém que decida proceder de outro modo. Aquilo que lhe interessa é aquilo de que a coisa ou o animal é capaz. Aquele pode voar, aquele come erva, aquele outro come car- ne. O regime alimentar corresponde bem a um modo de existência. Uma coisa inanimada também, do que é que ela é capaz? O que é que ela aguenta? O que é que faz? Um camelo é capaz de não beber água durante muito tempo. Esta é uma paixão do camelo. Definirmos as coisas por aquilo de que são capazes abre a por- ta à exploração das coisas e não tem nada a ver com a essência. Devemos ver as pessoas como caixinhas de poder. Devemos fazer uma espécie de descrição daquilo de que as pessoas são capazes. Do ponto de vista da ética, to- dos os existentes, todos os entes estão relacionados com uma escala quantitativa que é a do poder. Têm mais ou menos poder. A quantidade diferenciável é, então, o poder. O discurso ético fala-nos, não das essências em que não acredita, mas do poder, isto é, das acções e paixões de que alguma coisa é capaz. Não do que essa viii
- 10. coisa é, mas do que ela é capaz de suportar e capaz de fazer. Assim sendo, não há uma essência geral, porque, a este nível do poder tudo é singular. Enquanto a es- sência nos diz o que é um conjunto de coisas, a ética não nos diz nada porque não sabe. Um certo peixe não pode o que pode um peixe vizinho. Há, portanto, uma diferenciação infinita da quantidade de poder, de acordo com os existentes. As coi- sas recebem uma distinção quantitativa porque se relacionam com a escala de po- der. Quando, muito tempo depois de Espinosa, Nietzche lança o conceito de vonta- de de poder, talvez não estivesse só a referir-se ao conceito de Espinosa, mas estava seguramente a referir-se a ele. Não compreenderemos nada de Nietzche se pensar- mos que a vontade de poder corresponde à operação através da qual cada um de nós tenderia para o poder. O poder não é o que eu quero. Por definição, é o que tenho. Tenho tal ou tal poder, e é isso que me situa na escala quantitativa dos se- res. Fazer do poder o objeto da vontade é um contrasenso. Na verdade, as coisas passam-se ao contrário. É a partir do poder que eu quero isto ou aquilo. Vontade de poder quer dizer que definimos as coisas, os homens, os animais, de acordo com o poder efetivo que têm. Finalmente “do que é que um corpo é capaz?” é uma questão muito diferente da questão moral de saber “qual é o teu dever, de acordo com a tua essência?”. É a quantidade de poder que distingue um existente de outro existente. Espinosa diz muitas vezes que a essência é o poder. É este golpe de estado filosófico que vamos tentar entender daqui em diante. ix
- 11. 1 C A P Í T U L O O Conhecimento Humano Neste primeiro capítulo, é analisada a teoria do conhecimento de Espinosa, para nos ajudar a compreender a ordem geométrica seguida na Ética. O seu objetivo principal é o de explicar a distinção feita por Espinosa entre três géneros de conhe- cimento humano (§4, 5 e 6). De início, uma análise do preconceito vulgarizado en- tre os homens (§1), permite compreender o que é uma ideia falsa (§2) e o que é uma ideia verdadeira (§3). A Força do Preconceito Na Ética, Espinosa defende que só o conhecimento verdadeiro de Deus dá ao homem um conhecimento verdadeiro de si mesmo e da sua vida afetiva, o liberta da servidão em que as paixões o mantêm e lhe permite alcançar a verdadeira liber- dade. As cinco partes da obra correspondem às etapas desta libertação através do conhecimento. A Ética é “demonstrada seguindo a ordem geométrica”. Cada uma das partes da obra começa com uma série de definições e de axiomas (ou postulados), e consiste num conjunto de proposições numeradas e explicitamente demonstradas a partir des- sas definições e axiomas, ou de proposições anteriores. As únicas passagens que pa- recem escapar a esta ordem geométrica estrita, e que são apresentadas num modo de exposição mais comum em filosofia, são os prefácios (terceira, quarta e quinta partes), os apêndices (primeira e quarta partes) e os escólios (anotações) que acompa- nham, ao longo de toda a obra, as proposições particularmente importantes. 10
- 12. A ordem geométrica não é um artifício de escrita que nos fosse possível não le- var a sério, como se o conteúdo filosófico da obra fosse compreensível sem ela. Mas levanta problemas ao leitor, enquanto não reconhecer a sua justificação. Ora, este reconhecimento é extremamente difícil quando se lê, sem preparação, as pri- meiras demonstrações tão abruptas da Ética, que dizem respeito ao verdadeiro co- nhecimento de Deus. Esta dificuldade é, aliás, explicada pelo próprio Espinosa no apêndice que encer- ra a primeira parte da Ética (III, pp. 61 a 68). As minhas demonstrações, diz ele em resumo, correm o risco de não serem compreendidas como deveriam ser, por- que esbarram, em todos os homens, contra um conjunto de preconceitos que se re- duzem, no final de contas, a um só, a um preconceito de algum modo universal. E, se esse preconceito é universal é porque é natural e necessariamente inscrito em cada um de nós desde o nascimento. Com efeito, todos os homens nascem, ao mes- mo tempo, conscientes e ignorantes: conscientes dos seus apetites, capazes de sa- ber em que sentido os leva a procura do que lhes parece bom, mas, ao mesmo tem- po, perfeitamente ignorantes das causas das coisas, e em particular daquilo que os determina a procurar nesta ou naquela direção. Nem inconscientes, nem omniscientes, sabedores do caminho que escolhem sem saber porque escolhem esse caminho, os homens encontram-se naturalmente numa situação favorável à ilusão. Assim, imaginam que são livres e que agem de acordo com a sua vontade: certos de querer, mas sem a menor ideia sobre o que os determina a querer, são levados a acreditar que a sua vontade decide por si mes- ma, arbitrariamente. Do mesmo modo, embora ignorem as causas das coisas, os homens acreditam facilmente que as conhecem, porque só consideram aquilo que, para eles, aparece sob a luz. Ora, os homens percebem muito rapidamente a utili- dade das coisas, a sua aptidão para satisfazer ou não os apetites humanos, e mais geralmente aquilo a que, em filosofia, se chama finalidade: a adaptação de uma coisa a um fim qualquer. Pensam saber responder à questão “porquê esta coisa?”, sob pretexto de que sabem “para que” é que a coisa em questão pode ser boa: a causa é, para eles, sobretudo a finalidade e ficam por aí. Estas ilusões são naturais, portanto, anteriores a toda a aquisição de conheci- mento. Mas o mais grave é que os conhecimentos adquiridos posteriormente pelos 11
- 13. homens, em vez de os ajudarem a ultrapassar o preconceito inicial, correm o risco de o reforçarem até o tornar praticamente indestrutível. É o que acontece quando esses conhecimentos são adquiridos através de experiências vagas, ao sabor dos en- contros entre os homens, e entre eles e a natureza que os envolve. Ao descobrir na natureza todos os tipos de coisas úteis, os homens constroem facilmente a ideia de que todas essas coisas lhes são destinadas. Se lhes acontece questionar-se sobre a origem desses favores, isso não os conduz a abandonar o preconceito da finalidade e a equacionar um outro tipo de causa. Apoiando-se sempre no pouco que sabem, conservando a sua ignorância em toda a sua plenitude, acham que seres semelhan- tes a eles (livres como eles), mas mais poderosos, dirigem intencionalmente a natu- reza para satisfação humana: os deuses ou um Deus. O preconceito transforma-se, então, em superstição, segundo um processo que Espinosa qualifica de “delírio” (III, p. 63). A interpretação finalista da natureza ali- menta-se, com efeito, de todos os desmentidos que a experiência parece infligir- lhe. Constatando que a natureza não lhes oferece só coisas úteis, os homens come- çam a imaginar um Deus justiceiro, com vontade de fazer bem aos seus fiéis e mal àqueles que lhe desobedecem. E quando a experiência lhes diz claramente que as coisas boas e as coisas más caem indiferentemente aos pés dos piedosos e dos ím- pios, nem por isso renunciam ao seu sistema, e convencem-se que a justiça divina é insondável. Esta construção delirante não é suscetível de ser destruída pelas lições da experi- ência que, pelo contrário, contribuem para a consolidar. Se é possível que tenha sido destruída em alguns espíritos, isso deve-se a uma mudança radical na forma de conhecer: graças à matemática, explica Espinosa, que “fez luzir diante dos ho- mens uma outra regra de verdade” (III, p. 63). Espinosa, aqui, está a referir-se par- ticularmente à geometria: na geometria, não nos ocupamos nunca com a finalida- de das figuras, mas somente com a sua definição e a demonstração das suas pro- priedades. O conhecimento de Deus só pode escapar à superstição se seguir a re- gra geométrica: é o que Espinosa leva a cabo na primeira parte da Ética. No entanto, será que o modo de demonstração que convém ao círculo ou ao tri- ângulo pode convir também a Deus, ao estudo das coisas naturais e à explicação das paixões humanas? Que norma de verdade é esta que a matemática faz luzir, e 12
- 14. em que medida é que ela é válida para todo o conhecimento? Antes de abordar es- tas questões, talvez seja útil voltar ao preconceito natural dos homens, e questionar- mo-nos sobre em que consiste precisamente uma ideia falsa. A Ideia Falsa Vejamos de novo a ideia que os homens fazem geralmente a respeito daquilo a que chamam a sua liberdade, como sendo o poder de decidir e de agir sem razão ou sem ter de a apresentar. Quando um homem se crê livre neste sentido, a falsida- de da ideia não reside na consciência que este homem toma da sua decisão, pois essa consciência, em si mesma, é perfeitamente verdadeira. Poderemos dizer que ela reside na ignorância que é a causa da sua decisão? Mas esta ignorância, em si mesma, não é nada: é uma simples falta de conhecimento. Numa ideia falsa, a falsi- dade não se encontra verdadeiramente em lado nenhum. É o que nos diz a proposi- ção 33 da segunda parte: “Não há nas ideias nada de positivo, em virtude do qual sejam consideradas falsas” (III, p. 107). Uma ideia não é falsa porque contém uma propriedade que a torne falsa. Ela é falsa porque lhe falta aquilo que seria necessá- rio para que pudesse ser um conhecimento completo do seu objeto. No caso em apreço, o homem que se crê livre só tem uma representação incompleta do seu de- sejo. Toda a ideia falsa, sem exceção, é assim, segundo Espinosa, uma ideia mutila- da, inadequada, uma simples privação de conhecimento. Não uma qualquer priva- ção de conhecimento, mas uma forma específica de privação que nos dá a repre- sentação de um objeto recusando-nos a representação da sua causa, impedindo que o objeto seja conhecido por nós como deveria ser. As nossas ideias falsas estão em nós “como consequências sem premissas”, para utilizar uma expressão de Espi- nosa na demonstração da proposição 28 da segunda parte da Ética (III, p. 104). É claro que um homem que se engane não se limita a ser ignorante: é também um ignorante que crê saber. O seu erro consiste em acreditar que uma ideia é com- pleta quando não o é. Só podemos falar corretamente da ideia falsa se a reconhe- cermos como incompleta, mas isso só é possível a quem possua a ideia completa, a 13
- 15. ideia verdadeira. É neste sentido que podemos dizer que o verdadeiro é a norma do falso. Não estamos diante das nossas ideias verdadeiras e falsas como se estivés- semos perante ideias que seriam semelhantes entre si, só com a diferença de que umas corresponderiam à realidade, e não as outras. Ideias verdadeiras e ideias fal- sas distinguem-se por um critério interno: umas são completas, as outras não são. Mas este critério só é acessível àquele que esteja na verdade. A IdeiaVerdadeira Uma ideia verdadeira é, segundo Espinosa, uma ideia adequada, completa. Isso não quer dizer que ela nos dê a ciência exaustiva de um objeto, mas que não omite nada do que nos permite conhecer esse objeto pela sua causa. Vejamos, por exemplo, a definição de esfera que Euclides propõe no livro XI dos Elementos: “A esfera é a figura compreendida na superfície gerada por um semi-círculo, quando, mantendo-se o seu diâmetro imóvel, o semi-círculo gira até ao ponto de onde co- meçou a mover-se” (Definição 14). Esta definição não exibe o conjunto das proprie- dades de uma esfera, mas permite deduzi-las como consequências mais ou menos longínquas de um princípio de construção suficiente para distinguir a esfera de qualquer outra figura: trata-se de uma ideia verdadeira de esfera, segundo Espino- sa. Uma ideia verdadeira não é, assim, nem mais nem menos do que uma verda- deira ideia, uma ideia em conformidade com o que pretende ser. Como é que sabemos que a nossa ideia de um objeto é completa? Pelo simples facto de ela ser completa, justamente. Para detetar e denunciar a mutilação de uma ideia inadequada, é preciso que tenhamos formado a ideia adequada do obje- to; mas, para reconhecer o caráter adequado desta ideia, basta tê-la formado, sem necessidade de nenhum outro sinal de reconhecimento. É o que Espinosa afirma com convicção na proposição 43 da segunda parte da Ética: “Quem tem uma ideia verdadeira sabe, ao mesmo tempo, que tem uma ideia verdadeira e não pode duvi- dar da verdade do seu conhecimento”. E o escólio desta proposição comenta assim a automanifestação da verdade: “Tal como a luz se dá a conhecer a si mesma e 14
- 16. permite conhecer as trevas, também a verdade é norma de si mesma e do falso” (III, pp. 117-118). Espinosa defende, em princípio, que uma ideia verdadeira concorda com o seu objeto: este princípio é enunciado como um axioma desde o início da primeira par- te da Ética (axioma 6, III, p. 22). Mas este acordo entre ideia e um objeto não signifi- ca que a verdade deva ser estabelecida após uma comparação entre a ideia e um objeto exterior: como é que podemos fazer esta comparação, se só temos acesso às coisas através das ideias delas? A verdade é uma propriedade interna da própria ideia, e não um veredicto com origem em fonte exterior a ela. O entendimento hu- mano não deve portanto ser afetado por nenhuma suspeita, por nenhuma dúvida a respeito da sua capacidade para refletir fielmente a realidade, uma vez que a sua natureza é formar ideias, isto é: o seu poder, desenvolvido de forma autónoma, deve ser o de formar ideias completas, adequadas, indubitavelmente verdadeiras. A geometria, ciência que constrói os seus objetos, ilustra perfeitamente o poder autónomo do entendimento humano. Os teoremas da geometria não são verdadei- ros porque concordem com os seus objetos; é, pelo contrário, porque estamos segu- ros da sua verdade (e, para isso, basta compreendê-los) que sabemos ao mesmo tempo, sem ter que verificar, que correspondem aos seus objetos. Esta é a “outra norma da verdade” que Espinosa opõe, no apêndice da primeira parte, ao preconcei- to natural dos homens. Mas este preconceito, já o vimos, é permanentemente refor- çado pela experiência, mesmo quando a experiência parece contestá-lo. Ora, a ex- periência, ao contrário da geometria, diz respeito às coisas reais que encontramos na natureza e que não foram criadas por nós próprios. Antes de analisar a possibili- dade de um conhecimento diferente, geométrico, das coisas naturais e de Deus, é melhor explicar em primeiro lugar em que consiste o conhecimento por experiên- cia. 15
- 17. O conhecimento do primeiro género: a imaginação ou as ideias inadequadas Segundo Espinosa, o conhecimento por experiência é um “primeiro género” do conhecimento humano. A palavra “experiência” não designa, aqui, a experi- mentação científica, mas a experiência vaga que acumulamos, passivamente, ao sa- bor dos nossos encontros com as coisas. Baseada na perceção sensível, que expri- me sempre mais a estrutura do nosso corpo do que a natureza dos objetos exterio- res, a experiência vaga é necessariamente desordenada. Constitui-se, para cada um de nós, em função da situação que ocupamos no mundo; depende dos riscos de cada vida individual, e não tem condições para refletir a ordem objetiva das coi- sas. Espinosa afirma ainda, na proposição 41 da segunda parte da Ética, que “o co- nhecimento do primeiro género é o único que pode gerar falsidade” (III, p. 116). No entanto, a experiência, mesmo assim, merece o nome de “conhecimento”. Não esqueçamos, com efeito, que as ideias falsas não têm em si nenhuma falsidade substancial. Tudo o que elas comportam de positivo é verdadeiro, mesmo que essa verdade seja fragmentária. Se a experiência vaga nos engana, isso não se deve ao seu conteúdo efetivo, mas ao facto de esse conteúdo não ser completado e corrigi- do por outros conhecimentos. Dizer que a experiência é um primeiro género de co- nhecimento é dizer que o seu conteúdo só pode ser completado e corrigido por ou- tros géneros de conhecimento. Um género de conhecimento é uma certa forma de conhecer. Ora, é claro que a sua forma particular de conhecer não permite à experiência vaga completar e corrigir os seus próprios defeitos. De nada nos vale multiplicar os encontros com as coisas, que nunca seremos capazes, por via disso, de superar a fragmentação e a mutilação das nossas ideias sobre a ordem universal da natureza, que se mantém, apesar do esforço, baralhada e dissimulada. Se é verdade que os homens devem evitar o erro, não o conseguirão, no entanto, conhecendo mais do mesmo modo, mas conhecendo de outra forma. No entanto, por muito insuficiente que seja em si mesma, a multiplicação de ex- periências não deixa de ser necessária, pois é ela que fornece aos outros géneros de 16
- 18. conhecimento o material sem o qual não seríamos capazes de formar ideias com- pletas. A experiência vaga é, então, “primeira” em mais do que um sentido do ter- mo: é anterior a outras formas de conhecer, é inferior a elas e constitui a sua base. Para qualificar o conhecimento do primeiro género, Espinosa usa indiferente- mente as palavras “opinião” e “imaginação”. Esta última designação é particular- mente importante. A perceção sensível merece ser chamada “imaginação”, porque nos revela não as coisas em si mesmas, mas as suas imagens em nós, a forma como o nosso corpo é afetado por essas coisas. Mas, seguindo as indicações que nos são dadas por Espinosa no primeiro escólio da proposição 40 da segunda parte da Ética (III, pp. 113-115), devemos ir mais longe. Quando somos afetados de forma repeti- tiva por certas coisas, as distinções entre as suas imagens tendem a diluir-se para dar origem a uma imagem genérica, uma representação confusa da espécie à qual é suposto essas coisas pertencerem. Temos o hábito de exprimir isso em termos abstratos: sejam os termos que designam ideias gerais (homem, cavalo, cão, etc.), sejam, num grau mais elevado de abstração, os termos que os antigos filósofos cha- mavam “transcendentais” (ser, coisa, etc.) Todas estas noções são ficções, pois nada lhes corresponde na natureza que con- tenha alguma realidade abstrata ou geral. Nela, só existem coisas singulares que são sempre diferentes umas das outras e em número determinado. Qualquer que seja a comodidade da sua utilização, nem por isso deixa de ser prejudicial ao co- nhecimento efetivo. Primeiro, porque as ideias gerais formam-se em cada homem de acordo com aquilo que mais o afeta, não sendo portanto idênticas para todos, e depois, porque dão lugar a conflitos estéreis entre os homens. Mas sobretudo essas noções funcionam como modelos imaginários. A ideia geral de homem, por exem- plo, apresenta-nos o homem como um ser capaz de ver, mesmo que um cego seja privado daquilo que lhe é devido sem por isso deixar de ser homem: esta conceção impede-nos, portanto, de compreender a cegueira no ser humano. Quando a natureza é interpretada a partir destas ideias gerais, temos tendência a julgá-la como “boa” ou “má”, conforme se adeque ou não a este ou àquele mo- delo. Desenvolvido no prefácio da quarta parte da Ética, este ponto é já referido no apêndice da primeira parte. Podemos, deste modo, medir a força da associação en- tre o conhecimento do primeiro género e o preconceito comum da finalidade na 17
- 19. natureza. Destas noções totalmente fictícias de bem e de mal, é sobretudo a noção de “mal” que nos deve interessar. Encarregada de designar o desvio entre a realida- de e um modelo imaginário, essa noção de “mal” incide literalmente sobre um não ser, sobre um puro e simples “nada”. É nela que se concentra toda a falsidade produzida pelo primeiro género de conhecimento, pois ela é a falsidade suprema que consiste precisamente em pretender pensar e nomear o que não é. Se a tarefa do conhecimento é conhecer tudo o que é e nada mais para além do que é, deve- mos, então esperar de um género superior de conhecimento que elimine a ideia de mal. O Conhecimento do segundo género: a razão ou os conhecimentos das relações Uma vez que é a geometria que faz luzir diante dos homens “uma outra nor- ma de verdade”, poderíamos ser levados a pensar que o conhecimento humano se divide só em dois géneros: o conhecimento por experiência vaga e o conhecimento de tipo geométrico. No entanto, Espinosa refere três. O exemplo de que trata o se- gundo escólio da proposição 40, na segunda parte da Ética, pode ajudar a compreen- der essa enumeração (III, pp. 115-116). Suponhamos que nos são dados três núme- ros, e que temos de encontrar um quarto, de modo que a sua relação com o tercei- ro seja igual à relação entre o segundo e o primeiro. Podemos encontrar a solução multiplicando o segundo pelo terceiro, depois dividindo o produto pelo primeiro, simplesmente porque aprendemos, sem saber porquê, que temos de proceder as- sim, ou então porque verificamos em vários casos simples o sucesso desta opera- ção: este é o conhecimento do primeiro género. Mas podemos também, conhecen- do as propriedade comuns dos números proporcionais, saber que, em toda a pro- porção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, e aplicar esse teore- ma: este é o caso do conhecimento do segundo género. Finalmente, todos pode- mos, se os números dados forem muito simples (1, 2 e 3, por exemplo), apreender imediatamente a relação que existe entre os dois primeiros (dobro) e deduzir dela o último número: o número 6. Este é o conhecimento de terceiro género. 18
- 20. O conhecimento do segundo género, tal como o do primeiro género, coloca- nos em situação de aplicar um princípio abstrato a um caso particular. Mas a natu- reza deste princípio abstrato é muito diferente: no primeiro género, trata-se de uma “ideia geral”, uma regra baseada no hábito, enquanto que no segundo géne- ro, trata-se de uma noção comum, uma lei baseada no conhecimento de uma pro- priedade comum. Já vimos que a imaginação humana tende a abolir as diferenças entre as coisas para só reter o aspeto mais frequente, elaborando ideias gerais que funcionam como modelos exteriores à realidade. Pelo contrário, a propriedade co- mum dos números proporcionais não anula, bem antes pelo contrário, as suas dife- renças. Se lhe chamamos “comum” é porque está presente em todos, e só neles, e não porque planaria acima deles como um modelo. As ideias a que Espinosa chama “gerais” são inadequadas. Nascidas da anula- ção das diferenças individuais, as ideias gerais estão sempre em defeito relativa- mente ao objeto singular que elas pretendem representar e, por conseguinte, são mutiladas na sua função de conhecimento. As noções a que Espinosa chama “co- muns” são adequadas. Com efeito, o que é comum “encontra-se de modo igual na parte e no todo” (Ética, segunda parte, proposição 37, III, p. 110). Os corpos materi- ais, por exemplo, têm em comum a propriedade de ocupar um lugar. As leis de ex- tensão (a que corresponde o “ocupar um lugar”) são, portanto, propriedades co- muns a todos os corpos materiais. Ora, estas leis são contidas integralmente em cada fragmento da matéria, tal como em toda a matéria. Conceber um corpo qual- quer a partir destas leis é, assim, concebê-lo adequadamente. O conhecimento através de ideias gerais é imaginativo. Distancia os homens da realidade e leva-os a julgar a natureza em função do bem e do mal. Distancia tam- bém os homens uns dos outros, levando-os a afrontar-se, de forma estéril, a respei- to desses juízos que variam necessariamente de um homem para outro. O conheci- mento através de noções comuns, pelo contrário, é o que merece, segundo Espino- sa, ser chamado de “razão”. Partindo das propriedades comuns a todas as coisas, cada ciência racional deduz delas as propriedades comuns a esta ou àquela catego- ria de coisas, o que permite concebê-las adequadamente. A razão reúne os ho- mens, que têm de concordar entre si sobre o que é comum (corolário da proposição 38, III, p. 111). Por outro lado, os homens põem-se necessariamente de acordo en- 19
- 21. tre si através das sua propriedades comuns: quanto mais conhecemos racionalmen- te a humanidade, de acordo com o segundo género, mais tomamos consciência da sua unidade. Uma ciência racional pode construir o seu objeto, como é o caso da geometria, ou então encontrá-lo na natureza, como é o caso da física. O conhecimento do se- gundo género permite manter esta diferença. As propriedades comuns dos seres naturais (corpos materiais, homens...) podem ser conhecidas graças à multiplicida- de de experiências diferentes, que permitem isolar o elemento comum. O Conhecimento de terceiro género: a ciência intuitiva ou o conhecimento das essências A forma como Espinosa trata o exemplo do quarto elemento numa sequência proporcional mostra que o terceiro género de conhecimento, diferentemente dos dois primeiros, não consiste num princípio abstrato que se aplica a casos particula- res. Trata-se de um conhecimento intuitivo, de uma visão imediata da coisa em si mesma. Considerando os números 1 e 2 vê-se imediatamente que a sua relação é a do simples com o seu dobro, o que dá a solução: 6, o dobro de 3. Intuitivo, o conhecimento do terceiro género é igualmente dedutivo, como o do segundo grau, mas de uma forma diferente. No conhecimento do segundo género, a dedução é efetuada a partir de uma propriedade comum já conhecida, aplicada a um caso particular. Pelo contrário, a dedução de 6 a partir dos números 1, 2 e 3 não supõe o conhecimento de uma propriedade dos números proporcionais, mas estabelece essa propriedade, constrói o próprio princípio da proporção a partir de um caso extremamente simples. Esta diferença é importante em geometria, onde podemos sempre distinguir entre a aplicação de um teorema para resolver um pro- blema, e o acto através do qual esse teorema é deduzido, a partir do princípio de construção de uma certa figura. É esta invenção geométrica que nos fornece a me- lhor ideia a respeito do conhecimento do terceiro género, a que Espinosa chama também “ciência intuitiva”. 20
- 22. As proposições 41 e 42 da segunda parte da Ética (III, p. 116) estabelecem que o conhecimento do terceiro género é adequado, como o de segundo género. Mas não da mesma forma. Poder-se-á dizer que o conhecimento do segundo género é adequado ao seu objeto. Se o homem pode formar com ele ideias não mutiladas, não sendo omnisciente, é porque uma propriedade comum “se encontra de igual modo na parte e no todo”. O conhecimento do terceiro grau, quando existe, é ade- quado graças a si mesmo. Ao mesmo tempo visão e dedução, identificam-se no seu percurso com o movimento segundo o qual o objeto é gerado pela sua causa. É portanto a forma superior do conhecimento humano: o nosso entendimento em- prega nele o seu poder autónomo para formar ideias completas. Mas este tipo de conhecimento não será exclusivo das ciências que, como a geo- metria, constroem o seu objeto sem se preocuparem com o que acontece na natu- reza? Podemos admitir a ideia de um conhecimento dos seres naturais através das suas propriedades comuns, mas duvidaremos talvez que seja possível uma ciência intuitiva a respeito desses seres. Todavia, quando Espinosa, na Ética, se dedica a tratar geometricamente de Deus e do homem, a sua abordagem não é, de início, a do geómetra que aplica um teorema conhecido a um caso particular, mas a do geó- metra que constrói uma figura segundo uma regra, e dela deduz teoremas: é a abordagem do conhecimento do terceiro grau. Para vencer os preconceitos e a su- perstição, o nosso conhecimento de Deus e do homem deve, segundo Espinosa, ser adequado a si mesmo, identificar-se com o acto através do qual somos produzidos por Deus. Espinosa dá da ciência intuitiva uma definição bastante obscura numa primei- ra abordagem: “este género de conhecimento, diz ele, procede da ideia adequada da essência formal de certos atributos de Deus para o conhecimento adequado da essência das coisas” (segundo escólio da proposição 40, III, p. 115). Temos de ver como é que as duas primeiras partes da Ética esclarecem esta definição pondo-a em práti- ca. Este será o objeto do próximo capítulo. 21
- 23. Indicações de Leitura ★ No que diz respeito ao preconceito analisado no § 1 deste capítulo, podemos recorrer ao prefácio do Tratado teológico-político (II, pp. 19 a 28). ★ A teoria da ideia falsa e da ideia verdadeira (§ 2 e § 3) é exposto no Tratado da reforma do entendimento (1, pp. 181 a 219). ★ A distinção dos géneros do conhecimento (§§ 4, 5 e 6) é enunciada no Curto Tratado (I, pp. 89-90) e no Tratado da reforma do entendimento (I, pp. 186-187) 22
- 24. 2 C A P Í T U L O Deus e o homem Este capítulo comenta as duas primeiras partes da Ética. No que diz respeito à pri- meira, intitulada De Deus, é importante compreender a conceção de Deus como substância única (§ 1), medir a oposição entre esta conceção e certas opiniões cor- rentes (§ 2), e examinar as consequências da tese que faz de Deus a única causa das essências e das existências (§ 3). De tudo isto resulta, na segunda parte da Ética, intitulada Da natureza e da origem da alma, a afirmação de um paralelismo entre a or- dem das coisas e a ordem das ideias (§ 4), o que esclarece a natureza da relação en- tre corpo humano e alma humana (§ 5). A Substância única Nas proposições da primeira parte da Ética, consagradas à dedução de Deus, três palavras devem reter a nossa atenção: a palavra “substância”, a palavra “atri- buto” e a palavra “modo”. Estas três palavras pertencem ao vocabulário tradicio- nal da filosofia. Na filosofia de Descartes, a matéria é chamada “substância exten- sa”: a extensão é, com efeito, segundo Descartes, o “atributo” que todas as coisas materiais têm em comum, e que constitui a sua essência específica. As diferentes formas que pode tomar a realidade, relativamente a esta essência comum, são cha- madas “modos” da matéria. Descartes opõe a substância pensante à substância ex- tensa. A substância pensante corresponde à realidade espiritual da alma humana, definida pelo seu atributo essencial que é o pensamento. Considera as diversas fa- culdades da alma (a vontade, a imaginação e o desejo) como modos desta substân- cia pensante. A substância extensa e a substância pensante, segundo Descartes, 23
- 25. não têm nada em comum, a não ser o facto de serem ambas criadas por Deus. Cri- ador de todas as coisas, Deus é assim a substância suprema, mas não é a única substância. Esta utilização cartesiana das palavras “substância”, “atributo” e “modo” é con- sideravelmente modificada na primeira parte da Ética. Com efeito, Espinosa pro- põe-se demonstrar que só pode existir uma substância, à qual tudo pertence, e que esta substância única é Deus. De acordo com esta nova conceção, a substância divi- na é constituída por uma infinidade de atributos, entre os quais a extensão e o pen- samento. Uma vez que somos capazes de ter consciência destes dois constituintes da substância única, mas não de todos os outros, o nosso conhecimento de Deus não é exaustivo, mas pode ser perfeito nos seus limites. Sendo a única substância, Deus não cria nada fora de si, mas produz em si mesmo uma infinidade de efeitos, a que Espinosa chama modos: todas as coisas singulares, todos os corpos e todas as almas são, assim, modos de Deus. Para compreender as grandes linhas desta demonstração, temos de começar pe- las definições que iniciam a Ética (III, pp. 21-22). Aí, Espinosa define a substância como “o que é em si e é concebido por si” (def. 3). Aquilo que é concebido por uma coisa distinta de si não é uma realidade independente, e não merece ser cha- mada de substância. Vejamos por exemplo um corpo, uma coisa material qual- quer. Este corpo pode ser concebido claramente; podemos formar uma ideia ade- quada da sua estrutura e das suas propriedades, desde que o reconheçamos como uma coisa material e o distingamos dos outros corpos, materiais como ele, mas com estruturas e propriedades diferentes. Para o conceber, temos, então, de o rela- cionar com outra coisa diferente dele mesmo, isto é, temos de o relacionar com a realidade que todos os corpos têm comum, e que contém todas as possibilidades de estrutura material concebíveis, isto é, com a extensão. Do mesmo modo, para que uma forma particular de pensamento, uma ideia por exemplo, seja claramen- te concebida enquanto tal, temos de a relacionar com o elemento comum do pen- samento, de que ela é uma possibilidade entre outras. Todas as coisas singulares com que lidamos são ou corpos, coisas materiais particulares, ou ideias, formas de pensamentos particulares. Nem uns nem as outras são substâncias de acordo com 24
- 26. a definição de Espinosa. O corpo humano não é uma substância, a alma também não. Pelo contrário, a essência de todas as coisas materiais, isto é a extensão, é “con- cebida por si”, e o mesmo acontece com a essência de todas as ideias, isto é, o pen- samento. Uma coisa material, com efeito, é sempre limitada por outras coisas ma- teriais, mas não pode ser limitada por uma ideia, nem tão pouco uma ideia pode ser limitada por uma coisa material, mas só por outras ideias. Um corpo (ou uma ideia) é uma coisa “finita”, claro, mas “finita no seu género” (def. 2), uma vez que só pode ser limitado por outras coisas da mesma natureza. Para conceber um cor- po particular, determinamo-lo exclusivamente no interior do seu género, referin- do-nos unicamente à extensão e às suas leis específicas. Quando se trata de conce- ber um pensamento particular, só consideramos o pensamento e as suas leis. Entre a extensão e o pensamento não há, portanto, nenhuma medida comum que permi- ta uma determinação recíproca. Cada uma destas duas realidades pode e deve ser concebida sem recurso à outra. Então, a extensão e o pensamento são substâncias? Poderemos admitir a exis- tência de várias substâncias, ou mesmo uma infinidade de substâncias? Se fosse este o caso, todas estas substâncias deveriam, em conformidade com a sua defini- ção, ser independentes umas das outras, incomensuráveis e incomunicáveis entre si, sem relação de tipo algum. Deveremos admitir, pelo contrário, a integração da extensão, do pensamento e de outras realidades deste género, numa substância úni- ca? Se só há um ser, esse ser deve ser “concebido por si”, e merece, por conseguin- te, ser chamado de substância. Nesta hipótese, a extensão e o pensamento, embora conservem a sua indepen- dência recíproca, exprimem, cada um à sua maneira, a essência da substância que os une. Devemos, então, chamar-lhes atributos, de acordo com a definição que Es- pinosa dá desta palavra: “Entendo por atributo aquilo que o entendimento perce- be de uma substância como constituindo a sua essência” (def. 4). A integração de uma infinidade de atributos numa substância única é imposta, segundo Espinosa, por uma ideia que o nosso entendimento forma em si mesmo, em virtude do seu poder autónomo, a ideia de Deus: “Entendo por Deus um ser 25
- 27. absolutamente infinito, isto é, uma substância constituída por uma infinidade de atributos, em que cada um exprime uma essência eterna e infinita” (def. 6). Segun- do esta definição, devemos distinguir entre infinidade de cada atributo e infinidade de Deus: cada atributo é “infinito no seu género”, só deixando fora dele aquilo que é sem medida comum com ele, enquanto que Deus é “absolutamente infini- to”, não deixando fora de si nenhum atributo, isto é, nenhuma realidade. Do mesmo modo que, em geometria, uma figura preside à construção de si (dessa figura), regulando a forma como os lados e os ângulos devem ser associados, assim também a ideia de Deus rege, na primeira parte da Ética, a integração dos atributos que constituem a substância única. Esta integração não é incompatível com o caráter heterogéneo dos diferentes atributos, que se mantêm, na sua união, incomensuráveis entre si. Como estabelece a proposição 10, “cada um dos atributos de uma mesma substância deve ser concebido por si” (III, p. 29). Em Deus, a dife- rença radical que percebemos entre a extensão e o pensamento não é, portanto, abolida: se fosse, haveria algo de incompreensível na substância divina. Integrando realidades independentes umas das outras, Deus não nos é acessível de forma exaustiva, pois só podemos perceber a extensão e o pensamento, mas também não se dissimula atrás daquilo que conhecemos. A extensão, o universo material consi- derado nas suas leis específicas, não é, para Espinosa, um mundo criado por Deus fora de si mas também não é um simples aspeto de Deus, que nos esconderia o res- to: é o próprio Deus que se exprime em cada um dos seus atributos. O poder de existir de Deus é igualmente o poder de existir dos diferentes atribu- tos que o constituem, e, por esta via, o poder que produz todas as coisas particula- res que tenham esses atributos: os corpos materiais segundo as leis do atributo ex- tensão, as ideias segundo as leis do atributo pensamento, etc. Espinosa afirma as- sim que “no sentido em que Deus é dito causa de si, deve também ser dito causa de todas as coisas” (escólio da proposição 25, III, p. 49). Estas coisas produzidas por Deus não são nem substâncias nem atributos: são modos da substância divina. En- quanto os atributos “são” o próprio Deus, os modos são “em” Deus; mas, pela mes- ma razão, não poderiam subsistir fora de Deus, que os produz em si mesmo (propo- sição 18, III, p. 43): os corpos no elemento da extensão, as ideias no elemento do pensamento, etc. Podemos, assim, identificar Deus com a natureza, mas na condi- 26
- 28. ção de distinguirmos a natureza naturante (aquilo que Deus é: os atributos) e a nature- za naturada (o que é em deus: os modos), como faz o escólio da proposição 29 (III, pp. 52-53). A união, em Deus, de uma infinidade de atributos heterogéneos e incomensurá- veis não é uma fusão que aboliria as suas diferenças, mas também não é uma sim- ples soma, que faria depender a existência de Deus da dos seus atributos. Essa uni- ão manifesta-se no facto de o mesmo poder de existir distribuir simultaneamente os seus efeitos por todos os atributos. Não há nada de comum entre os corpos e os pensamentos. Também não há nada de comum entre a forma como os corpos se determinam uns aos outros segundo as leis do mundo material, e a forma como os pensamentos se determinam segundo as leis do universo intelectual. Mas o encade- amento de uns e o encadeamento dos outros realizam, de duas formas diferentes, o único poder de existir que é o de Deus. Alguns erros sobre Deus A posição de Deus como substância única, constituída por uma infinidade de atributos, produzindo em si mesmo uma infinidade de modos, permite, segundo Espinosa, refutar alguns erros comuns. Os homens enganam-se a respeito de Deus por antropomorfismo, assimilando o ser divino ao ser humano, projetando sobre ele os seus desejos e as suas inquietações. Mas enganam-se também ao afastar o ser divino da compreensão humana, imaginando que é insondável, incognoscível e inefável. Estes dois erros, por vezes conjugados, têm origem no facto de não ter- mos uma ideia adequada sobre a substância. Corremos, então, o risco, ou de a con- fundir com os seus modos, ou de a situar para além dos seus atributos, considera- dos erradamente como propriedades cuja fonte se mantém misteriosa. Na primeira parte da Ética, são os escólios, textos consagrados ao comentário po- lémico, que expõem esta refutação dos erros sobre Deus. O escólio da proposição 15 (III, pp. 36-39), por exemplo, trata a questão de saber se a matéria pertence à es- sência de Deus. É fácil denunciar aqueles que, por puro antropomorfismo, “forjam um Deus constituído, tal como o homem, por um corpo e uma alma”. No entan- 27
- 29. to, corremos o risco de cometer, no fundo, o mesmo erro deles se, com a preocupa- ção de preservar a dignidade de Deus, negarmos que ele seja corpóreo. Claro, Deus não tem um corpo com um certo comprimento, largura ou profundidade, pois um tal corpo não passa de um modo da extensão, e não uma substância, uma realidade independente. Mas Deus é corpóreo no sentido em que a extensão, isto é, a realidade substancial dos corpos, constitui a sua essência. Esta tese contraria a conceção tradicional, segundo a qual Deus é um puro espírito, criando a matéria fora de si. Os partidários desta conceção defendem, como faz Descartes, que a ma- téria, sendo divisível e corruptível, é indigna da majestade divina. Este argumento prova somente que confundem os modos materiais, isto é, os corpos, efetivamente divisíveis e corruptíveis, com a substância material, isto é, a extensão, cuja essência está integralmente e identicamente presente em cada corpo e que não se deixa, portanto, dividir. O escólio da proposição 17 (III, pp. 41-43) analisa a questão da liberdade de Deus. Os homens projetam vulgarmente a sua ilusão natural de liberdade, em Deus. Ora, o desenvolvimento deste preconceito implica uma contradição flagrante en- tre uma tendência antropomórfica e uma tendência, que se lhe opõe, no sentido de destruir qualquer analogia entre Deus e o homem. Uma vez que um homem é livre, segundo a conceção corrente, quando, tendo escolhido entre várias ações pos- síveis, não leva a cabo algumas ações que poderia ter realizado, imaginamos que a liberdade de Deus consiste igualmente no facto de não criar tudo o que podia ter criado. Atribuímos-lhe, portanto, como atribuímos ao homem, um entendimento capaz de conceber as ações possíveis, e uma capacidade para decidir entre elas (li- vre arbítrio). Mas esta estreita analogia vira-se contra si mesma, porque o entendi- mento que supomos em Deus, sendo um entendimento criador, deve ser anterior às coisas que concebe, e não posterior a elas como o nosso entendimento, ainda que a forma como Deus concebe as coisas nos seja totalmente incompreensível. Enganamo-nos sobre a liberdade quando a opomos à necessidade, e quando imaginamos que aquilo que é feito livremente é aquilo que poderia ter sido feito. O contrário da liberdade não é a necessidade, é a coacção, isto é, o facto de não seguirmos a nossa própria necessidade e de sofrermos uma necessidade estranha. Se Deus é livre, para Espinosa, não é porque cria segundo um decreto arbitrário, é 28
- 30. porque, sendo a substância única, só existe e só age segundo a sua própria necessi- dade; não é porque escolhe entre várias possibilidades, é, pelo contrário, porque as realiza todas. Ao produzir uma infinidade de coisas segundo as leis específicas de uma infinidade de atributos, Deus não é nem mais nem menos do que a necessida- de da natureza toda (prop. 17, III, p. 40). E se o homem, que sofre naturalmente a coacção de numerosas causas exteriores, pode, apesar de tudo, aceder à verdadei- ra liberdade, só consegue aceder a ela desde que se identifique, através do conheci- mento adequado, à livre necessidade divina. Infelizmente, os homens seguem ge- ralmente o caminho inverso, e procuram tornar-se livres opondo-se à ordem das coisas. Quanto mais livres se crêem, menos livres são. Nestas ocasiões, divididos en- tre paixões contrárias, flutuam ao sabor dos acontecimento, incapazes de perceber o que estão a fazer. A Essência e a existência das coisas singulares Deus, substância absolutamente infinita, existe por si mesmo. Basta compreen- der a sua essência para saber que ele existe: “A existência de Deus e a sua essência é uma única e mesma coisa” (prop. 20, III, p. 45). Uma coisa singular qualquer, por exemplo um corpo com uma certa estrutura, modo do atributo extensão, tem uma essência: podemos analisar e descrever a sua estrutura particular e formar a seu respeito uma ideia verdadeira. Por outro lado, esse corpo tem também uma existência: constitui-se num certo momento do tempo, conserva-se dentro de cer- tas circunstâncias, em confronto com certos obstáculos, e corrompe-se numa data precisa. É claro que aquilo que determina a duração da existência do corpo não está contido na ideia verdadeira que possamos ter a respeito da sua própria essên- cia. Isto é válido, afirma Espinosa, para todas as coisas que Deus produz em si mes- mo, pois elas não são substâncias que possam, uma vez criadas, subsistir por si mes- mas fora dele. A proposição 24 diz o seguinte: “A essência das coisas produzidas por Deus não envolve a existência” (III, p. 48). É, portanto, de Deus que surge a aparição de uma coisa singular e a manuten- ção da sua existência. A essência dessa coisa, por seu turno, deve vir igualmente de 29
- 31. Deus, pois, se fosse de outro modo, seria uma espécie de modelo que Deus deveria consultar antes de produzir a coisa, e nada pode ser mais absurdo do que esta ideia. Por conseguinte, “Deus não é somente a causa eficiente da existência, mas também da essência das coisas” (prop. 25, III, p. 49). A estrutura de um corpo parti- cular é produzida por Deus, pois é, para a eternidade, um dos modos possíveis do atributo extensão, diferente de todos os outros modos possíveis: Deus produz em si tudo o que é concebível. A existência do mesmo corpo na duração do tempo é igualmente produzida por Deus, mas de uma outra forma: indireta e condicional- mente. Com efeito, Deus só o faz existir por intermédio de outros corpos que o de- terminam, sendo esses corpos, eles próprios, determinados por outros, e assim su- cessivamente até ao infinito (prop. 28, III, p.50). Dado que uma coisa singular é produzida de duas formas por Deus, ao mesmo tempo na sua essência e na sua existência, poderíamos pensar que ela é privada de consistência individual. Na realidade, é exatamente o contrário o que defende Es- pinosa. A duplicação da causalidade divina, ao separar a interioridade da essência e a exterioridade da existência, assegura a cada coisa produzida uma verdadeira individualidade. A essência de uma coisa material, por exemplo, vem diretamente de Deus, na medida em que a extensão é um dos seus atributos. Não depende em nada das outras essências materiais (das outras possibilidades inscritas nas leis da extensão), que se limitam a defini-la, limitando-a, sem poder agir sobre ela. Uma vez que esta essência é concebível, implica um certo número de propriedades, ne- cessariamente compatíveis entre si, mas incompatíveis, em graus variáveis, com as propriedades das outras essências. Finalmente, como é objeto de uma ideia verda- deira, é também, como toda a verdade, imutável e independente do tempo. Quando a coisa em questão existe, é essa essência, dependente de Deus mas in- dependente das outras essências, que se realiza no tempo: a existência de uma coi- sa é a “sua” existência. Aquilo que se manifesta, então, na duração são as proprie- dades da coisa e só as suas propriedades. Como essas propriedades são todas com- patíveis entre si, nenhuma implica a destruição da coisa: nada do que existe tende por si mesmo a desaparecer. Em todas as coisas singulares manifesta-se, assim, em estado fragmentário, o poder eterno da substância única e sem coacção, sob a for- ma de uma pura afirmação de si. 30
- 32. Trata-se, evidentemente, de uma coisa finita, sendo que as fronteiras da sua existência, os limites da sua duração, não dependem dela própria, mas das suas re- lações com as outras coisas que oferecem condições favoráveis ou desfavoráveis à sua manifestação. É aqui que intervém a segunda forma de dependência da coisa, produzida por Deus segundo o encadeamento infinito das causas e dos efeitos no universo. As coisas existentes, diferentemente das simples essências, são determina- das a agir umas sobre as outras. Mas essas acções recíprocas só têm sentido entre realidades concorrentes, em que cada uma tende a desenvolver os seus próprios efeitos, e porque esses efeitos, baseados em essências mais ou menos incompatíveis entre elas, tornam as coisas capazes de se afetar umas às outras. Assim, contraria- mente ao que inicialmente se poderia pensar, a filosofia de Espinosa, ao fazer de Deus a única causa de tudo o que é concebível e de tudo o que existe, não transfor- ma a variedade das coisas singulares que nos envolvem (tal como nós próprios) num mundo de sombras que um conhecimento lúcido deveria dissipar. Deus é a substância única, e este caráter único reencontra-se nos seus efeitos, que são os au- tênticos indivíduos. O paralelismo entre os atributos de Deus Enquanto a primeira parte da Ética trata de Deus, substância constituída por uma infinidade de atributos, a segunda é consagrada à dedução da alma humana, e dedica-se, no essencial, aos dois únicos atributos que o entendimento humano pode conceber: a extensão e o pensamento (Ética, segunda parte, proposições 1 e 2, III, pp. 71-72). É principalmente a relação entre estes dois atributos que estabelece a proposição 7: “A ordem e a associação das ideias são as mesmas que a ordem e a associação das coisas” (III, p. 75). Num certo sentido, esta proposição só se limita a estabelecer o princípio da uni- ão dos atributos de Deus. O que é “o mesmo”, entre o atributo pensamento e o atributo extensão (ou outro atributo) não é o tipo de realidade que concebemos se- gundo um ou segundo o outro, pois essas realidades são heterogéneas. Não é tam- bém o tipo de encadeamento que se realiza num ou no outro, pois esses encadea- 31
- 33. mentos são incomparáveis. É o poder único de Deus, manifestando simultanea- mente os seus efeitos em formas incomensuráveis. Para designar esta relação parti- cular entre os atributos de Deus, os comentadores de Espinosa têm o hábito de uti- lizar o termo paralelismo. Tal como duas retas paralelas, com efeito, dois atributos quaisquer não se confundem e não se assemelham em ponto nenhum, mas man- têm-se indissoluvelmente ligadas uma à outra através do único impulso que lhes dá a causalidade divina. Quando um desses dois atributos é o pensamento, o paralelismo toma uma im- portância particular. O pensamento é o único atributo no qual as realidades que se associam são ideias. Ora uma ideia é, por natureza, ideia “de” alguma coisa, isto é, de uma realidade cuja essência releva de um atributo diferente do pensamento. Afirmando, em conformidade com a sua conceção de Deus, que a ordem das idei- as é a mesma que a ordem das coisas, Espinosa assegura as bases da sua teoria do conhecimento. O paralelismo garante, com efeito, a correspondência perfeita en- tre as ideias, consideradas segundo as leis específicas da associação, e os seus obje- tos. Se uma ideia é sempre ideia de alguma coisa, o seu objeto nem sempre é uma “coisa” que releve de um outro atributo. A ideia de uma coisa qualquer é, por seu turno, o objeto de uma ideia, e assim sucessivamente até ao infinito. O atributo pensamento apresenta assim a particularidade de refletir em si mesmo o paralelis- mo universal. Entre uma ideia qualquer e a ideia dessa ideia, há a mesma identida- de que entre a ideia e a coisa: identidade de ordem e de associação de dois modos produzidos por um poder único, segundo uma causalidade única. Há a mesma identidade, mas não a mesma distinção, pois a ideia e a “ideia da ideia” (como lhe chama Espinosa) são de essência idêntica, relevando ambas do mesmo atributo. A ideia da ideia concebe a ideia, independentemente da sua relação com um objeto, na sua essência própria, como um modo do pensamento. Ela é simplesmente “a forma da ideia”. Compreende-se, então, porque é que não é necessário procurar um critério ex- terior para saber se as nossas ideias são verdadeiras. A toda a ideia verdadeira deve corresponder uma ideia dessa ideia, consciência indubitável da sua verdade. No Tratado da reforma do entendimento, Espinosa caracteriza assim o único verdadeiro 32
- 34. método para procurar a verdade, método que a Ética põe em prática na dedução de Deus, e que se encontra portanto justificada pela sua própria aplicação: “O mé- todo não é coisa diferente do conhecimento reflexivo ou da ideia da ideia. (...) O bom método é portanto aquele que mostra como o espírito deve ser dirigido segun- do a norma de uma dada ideia verdadeira” (I, p. 192). As ideias e as coisas (materiais, por exemplo) são “coisas” em sentido lato do ter- mo, isto é, são efeitos do poder infinito de Deus. Tudo o que Deus produz é conce- bível, possui uma essência que implica um certo número de propriedades individu- ais, e realiza essas propriedades ao existir. Todas as coisas em sentido lato são igual- mente uma causa que produz efeitos particulares. É um fragmento da causalidade divina única, através da qual substância pensante e substância extensa formam uma única e mesma substância. Espinosa está, então, em condições de dizer que “um modo da extensão e a ideia desse modo é uma única e mesma coisa, mas que se exprime de duas maneiras” (escólio da proposição 7, III, p. 76) O Corpo humano e a alma humana O ser humano não é uma substância (Ética, segunda parte, proposição 10, III, p. 79). O corpo humano e a alma humana são modos da substância única, o primei- ro relevando do atributo extensão, a segunda do atributo pensamento. São efeitos do poder infinito de Deus, unidos entre si porque esse poder é único. Dito por ou- tras palavras, a alma humana é a ideia do corpo humano, o corpo humano é o ob- jeto da alma humana: “O objeto da ideia que constitui a alma humana é o corpo, isto é, um certo modo da extensão existente em acto, e não é outra coisa” (prop. 13, III, p. 83). Aquilo a que chamamos geralmente “a união da alma e do corpo” é, para Espinosa, um caso particular do paralelismo entre a ordem e a associação das coisas, e a ordem e a associação das ideias. É uma conceção original da união da alma e do corpo, e sobretudo uma solu- ção elegante para o paradoxo que suscitam manifestamente estas duas realidades, que se apresentam ao mesmo tempo como indissoluvelmente unidas e absoluta- mente distintas. A via seguida por Espinosa permite dissipar o paradoxo sem fazer 33
- 35. a menor concessão, nem do lado da distinção, nem do lado da união. A distinção entre o corpo e a alma é absoluta: são duas realidades incomensuráveis e mesmo incomunicáveis, com origem em duas ordens autónomas; nunca o corpo pode agir sobre a alma, nem a alma sobre o corpo; nunca um facto psicológico deve ser con- siderado como produzido por um facto corporal, nem reciprocamente. Mas isso não impede que a união seja indissolúvel. O que se manifesta segundo as leis físi- cas no corpo é “o mesmo” que aquilo que se manifesta na alma. Corpo e alma são, portanto “uma única e mesma coisa, mas que se exprimem de duas manei- ras”, e esta coisa única é o próprio ser humano, cuja unidade individual é, assim, garantida de uma forma clara (sem recorrer à noção obscura de uma fusão, ou de uma mistura de duas substâncias) e satisfatória (sem se limitar à noção de uma montagem de partes que se manteriam exteriores uma à outra). A alma humana não é uma substância cuja propriedade seria “ter” ideias. Ela “é”, ela própria, uma ideia, a ideia do corpo. Uma vez que toda a ideia é um co- nhecimento (adequado ou inadequado), a alma humana não é nem mais nem me- nos do que conhecimento. O conhecimento não é uma das suas atividades, muito menos a sua atividade mais nobre; o conhecimento constitui integralmente a sua natureza. E uma vez que a alma humana é o homem na sua totalidade, expresso segundo um certo atributo, e não uma parte do homem, podemos concluir que o homem não é mais do que conhecimento e que a sua sorte se relaciona exclusiva- mente com aquilo que conhece bem ou mal, adequada ou inadequadamente. Poderíamos objetar que a alma humana não se reduz a uma ideia, mas forma um grande número delas, e que ela não conhece somente o corpo que lhe está liga- do, mas muitas outras coisas também. A esta objeção, Espinosa responde que o corpo humano, como qualquer modo de Deus, tende a manifestar os seus efeitos no tempo, age sobre as coisas, e sofre os efeitos favoráveis, desfavoráveis ou indife- rentes das coisas. Dado que a alma percebe tudo o que acontece no corpo que é o seu objeto, percebe também tudo o que afeta o corpo nas relações concorrenciais que ele mantém permanentemente com o seu ambiente. Desta forma, sem deixar de ter como único objeto o corpo que lhe está unido, a alma humana pode ter uma multidão de ideias e abrir-se a todo o universo. 34
- 36. Mas as condições desta abertura parecem tornar o nosso conhecimento necessa- riamente inadequado. Dado que a alma está destinada a só perceber as coisas atra- vés das afeções do corpo, as suas ideias devem implicar ao mesmo tempo, de for- ma misturada, a natureza desse corpo e a dos corpos exteriores (prop. 16, III, p. 29). O limite que lhe impõe a sua união com um corpo não lhe permite ter ideias adequadas das coisas exteriores (prop. 25, p. 101), e, por outro lado, o número de- masiado limitado das afeções que lhe é dado perceber impede-a de conhecer inte- gralmente as possibilidades do corpo de que ela é a ideia, o que a priva assim de um conhecimento do próprio corpo humano (prop. 27, p. 103). E como a alma não é mais do que conhecimento do corpo, o caráter inadequado desse conhecimento significa que a alma humana é inadequada à sua própria natureza: a consciência que “tem de”, isto é, a ideia da ideia, deve portanto impedi-la igualmente de saber o que ela é realmente (prop. 29, p. 104). Como podemos, então, compreender a possibilidade de um conhecimento ade- quado? Sendo Deus a única substância, as ideias que atribuímos normalmente a um homem representam uma parte das ideias que Deus possui, e que correspon- dem estritamente, no seu entendimento infinito, à ordem universal das coisas. Quando a ideia que um homem tem de uma coisa implica ao mesmo tempo a na- tureza do seu corpo e a natureza da coisa, essa ideia é inadequada, é um simples fragmento da ideia completa que só Deus tem, pois ele é infinito e não se limita, portanto, a constituir a alma desse homem. Para que uma ideia humana seja ade- quada, completa, é necessário que ela seja equivalente ou idêntica à ideia que Deus possui. A presença, na alma, de ideias que são só fragmentos das ideias formadas no entendimento infinito de Deus, explica a existência de um conhecimento humano do primeiro género. Compreende-se que esse conhecimento se constitua seguindo a ordem das afeções do corpo (experiência vaga), e que seja basicamente incapaz de se corrigir a si mesma, pois seria necessário para isso suprimir a distância entre um entendimento infinito e uma alma limitada pela perceção do que se refere a um único modo da extensão. Não é, contudo, impossível aceder, a partir das afe- ções do corpo e das ideias confusas que elas suscitam, a certas propriedades co- muns entre o corpo humano e os corpos exteriores (prop. 39, III, pp. 111-112). 35
- 37. Como o que é comum se encontra igualmente na parte e no todo, as noções co- muns não são prejudicadas pela diferença entre o entendimento infinito e o enten- dimento finito. O conhecimento humano do segundo género é, portanto, adequa- do, pois é equivalente ao conhecimento divino: quando conhece através das no- ções comuns, o homem não conhece “como” Deus conhece, mas conhece “tão bem” como Deus. Há, por outro lado, uma ideia que Deus tem “somente na medida em que ele constitui a natureza da alma humana”, que é precisamente a ideia da própria alma, isto é, a essência da alma, concebida como um modo do atributo pensamen- to, produzido por Deus independentemente de qualquer outro modo. Conhecen- do-se ela própria segundo a ordem geométrica das duas primeiras partes da Ética, a alma conhece-se “como” Deus a conhece, e alcança assim o terceiro género do conhecimento humano. A ciência intuitiva justifica a abordagem seguida na Ética, e esta abordagem justifica, por seu turno, a ciência intuitiva. Adequado ou inadequado, o conhecimento humano, por outras palavras, a alma humana só tem como objeto aquilo que afeta o corpo humano. O próximo capítulo será destinado às ideias inadequadas que os homens têm destas afeções, isto é, às suas paixões. 36
- 38. Indicações de Leitura ★ A refutação dos preconceitos a respeito de Deus (§ 2) pode ser esclarecida por algumas passagens da correspondência de Espinosa. Assim, a Carta 12 a Louis Meyer (Abril 1663) aprofunda as razões pelas quais a matéria não é indigna de Deus, pois ela é, enquanto substância, indivisível (IV, pp. 156-162). A Carta 58 a Schuller corrige o erro comum sobre a liberdade divina e a liberdade humana (IV, pp. 303-306). ★ O paralelismo entre coisas, ideias e ideias destas ideias (§ 4) é exposto por Espi- nosa no Tratado da reforma do entendimento (I, pp. 189-195). 37
- 39. 3 C A P Í T U L O A Servidão Passional Este capítulo comenta a terceira parte da Ética (§ 1 a 4), assim como a primeira me- tade da sua quarta parte (§ 5 e 6). O seu objetivo é, antes de mais, explicar as pai- xões (§ 3 e 4), relacionando-as com o seu núcleo central, o desejo (§ 2), forma hu- mana do princípio universal da perseverança (§ 1), e, depois, analisar, relativamen- te à servidão humana, a oposição entre o moralismo (§ 5) e a ética propriamente dita (§ 6). “Perseverar no seu ser” A terceira parte da Ética tem por título: Da natureza e da origem das afeições. Neste título, a palavra afeição pretende designar, não tudo o que afeta o corpo humano, mas somente aquilo que, afetando-o, favorece ou prejudica o poder de agir desse corpo, ajuda-o ou impede-o de realizar, na existência, as propriedades implicadas pela sua essência, o que, em português, será mais acertado dizer pela palavra afei- ção do que pela palavra afeção. Não existindo esta distinção de palavras, em língua francesa (em que a tradução de Espinosa que consulto está escrita), o conceito care- ce quase sempre de uma referência à palavra latina original (affectas para designar a afeição, e affectio para designar afeção). Assim sendo, a palavra afeto (affectus), graças ao paralelismo, pode designar, do lado da alma, a ideia desse aumento ou dessa di- minuição do poder de agir. Assim sendo, se uma coisa particular pode ser afetada especialmente por aquilo que contribui ou prejudica a sua realização, é porque essa realização lhe interessa. 38
- 40. A proposição 6 da terceira parte estabelece com efeito que “cada coisa, na medida em que é em si, esforça-se por perseverar no seu ser” (III, p. 142). Existir, para uma coisa, é realizar as suas propriedades, todas as suas propriedades, e unicamen- te as suas. Nenhuma das propriedades de uma coisa pode contrariar a sua existên- cia, nenhuma pode implicar a sua destruição. As palavras, através das quais expri- mimos, por vezes, uma espécie de tendência interna para a destruição (por exem- plo, “fragilidade”, ou “mortalidade”) são palavras sem rigor. Só há destruição devi- do a causas exteriores (prop. 4, III, p.42); só há fraqueza relativamente a uma força maior. Nada nasce para morrer e só morre se for vencido pela força de outras coi- sas. Não só não é permissível a uma coisa recusar a existência, como também lhe é impossível reduzir, por pouco que seja, o seu poder de ser, que deve encontrar-se sempre no seu máximo, tendo em conta aquilo que lhe é permitido pela pressão das outras coisas. Com efeito, esse poder é só uma parte do poder causal de Deus; ora, “uma coisa que é determinada por Deus a produzir algum efeito não pode tornar-se ela própria indeterminada” (primeira parte, proposição 27, III, p. 50). Por conseguinte, tudo o que é persevera. Não é graças à sua perseverança que uma coisa é o que é, como se a perseverança fosse um simples meio, diferente do ser no qual a coisa persevera. Ela não persevera somente “no ser”, mas também no “seu” ser, na plenitude da sua individualidade. Não podemos identificar a perse- verança de que fala Espinosa com um “instinto de conservação”, que, na verdade, não é mais do que a sua forma mais pobre. Uma vez que é no “seu” ser que todas as coisas tendem a perseverar, nenhum tem de se transformar noutra coisa. A perseverança, que a impede de ser “menos” do que aquilo que pode ser, impede-a igualmente de ser “mais”. Como escreve Es- pinosa no prefácio da quarta parte da Ética, “um cavalo, por exemplo, é tão destruí- do se se muda para homem como se se muda para inseto” (III, p. 219). As normas, os modelos impostos do exterior, são tão ilegítimas para julgar as coisas particula- res como o são para julgar Deus. Tudo o que é, é divino, se bem que a única perfei- ção, para um indivíduo, é ser ele próprio, nem mais, nem menos. Como há no mundo uma multidão de coisas, não devemos dizer somente que cada uma persevera no seu ser, mas também que ela se esforça por perseverar no seu ser. A sua perseverança, com efeito, é afetada, e frequentemente contrariada, 39
- 41. pela perseverança das outras coisas. Tomada na concorrência universal dos modos de Deus, a coisa tende a existir como se fosse única, sem nunca o conseguir plena- mente: esta perfeição suprema é reservada a Deus, substância única. Quando o po- der de agir de uma coisa singular diminui, porque outros poderes a contrariam, essa coisa não persevera menos no seu ser, até que seja destruída. Mas a sua perse- verança depende, então, menos dela própria, e mais das outras coisas. Se, pelo con- trário, o seu poder aumenta, o que se passa é que a coisa em questão se aproxima desse estado de perfeição interna onde ela existiria e agiria pela única necessidade da sua natureza. Assim, por um lado, a filosofia de Espinosa recusa todas as avaliações através das quais a realidade seria julgada “boa” ou “má”, conforme se aproxima ou se distancia de um modelo exterior, de um ideal transcendente, e, por outro lado, per- mite um outro tipo de avaliação que nos autoriza a julgar uma coisa em relação consigo mesma, relativamente à norma imanente que representa, por tudo o que é, pelo facto de perseverar no seu ser. Graças a esta noção de perseverança, a teo- ria de Deus e do homem, exposta nas duas primeiras partes da Ética, pode funda- mentar uma teoria da vida humana feliz e realizada, isto é, precisamente uma éti- ca. O Desejo Como toda a coisa singular, a alma humana esforça-se, juntamente com o cor- po humano, por perseverar no seu ser. É o que Espinosa enuncia na proposição 9 da terceira parte da Ética (III, p. 144). O esforço através do qual uma coisa persevera no seu ser não é mais do que essa mesma coisa afirmando a sua essência. O escólio desta proposição estabelece a identidade entre termos que os filósofos têm o hábi- to de distinguir, porque os consideram erradamente como faculdades parciais e di- ferentes do homem. Assim, a palavra “vontade”, segundo Espinosa, limita-se a de- signar esse esforço, relacionado com a alma; a palavra “apetite” exprime igualmen- te esse esforço, mas relacionado ao mesmo tempo com a alma e com o corpo; 40
- 42. quanto à palavra “desejo”, ela denota o mesmo esforço, mas na medida em que o homem tem consciência dele. Um homem que deseja é, portanto, um homem que toma consciência da sua afirmação de si. O seu desejo não é um desejo de “ter”, como seria o caso se fosse a tentativa de preencher um vazio, mas sim um desejo de “ser”, com origem, pelo contrário, numa plenitude inicial. Evidentemente, esse homem é transportado pelo seu desejo para objetos desejáveis, mas somente porque esses objetos favore- cem o seu esforço para perseverar no seu ser. Devemos, portanto, exprimir o dese- jo do homem no singular: cada homem só tem, em qualquer circunstância, um único desejo, o de ser ele próprio, e é este desejo que torna desejável uma multi- dão de outros objetos. Seria diferente se lhe fosse necessário, para poder desejar, reconhecer primeiro o caráter desejável dos objetos: neste caso haveria nele tantos desejos diferentes quanto os diferentes objetos de desejo. Só que não poderíamos dizer que esse homem se estivesse a esforçar por perseverar o seu ser. Pelo contrá- rio, estaria a esforçar-se por ser outro diferente do que é, procurando coisas desejá- veis que lhe faltariam. Vemos que os princípios de Espinosa o conduzem a excluir, sem apelo, do desejo humano (assim como da vontade humana ou do apetite hu- mano) toda a ideia de finalidade, de movimento para um bem exterior e objetivo. O desejo humano é, portanto, da ordem da pulsão, e não da atração. Não se trata, no entanto, de uma pulsão tenebrosa, inacessível por natureza à reflexão ou à razão. A alma, não o esqueçamos, é conhecimento. O seu esforço consiste, por- tanto, em perseverar no conhecimento, e o seu desejo, ao mesmo tempo que é o desejo de ser, é desejo de conhecer. Ora, o conhecimento humano pode ser ade- quado ou inadequado, como já sabemos. A maior parte dos homens só percebe, do seu desejo, a luz que projeta sobre os objetos desejáveis, atribuindo espontanea- mente uma importância desmesurada a esses objetos. Tudo os incita a crer que é no valor das coisas desejadas que se encontra a explicação dos desejos, e a pensar que o próprio desejo corresponde neles a uma falha, uma insuficiência de base, o que não os dispõe a reconhecer em si uma parcela da perfeição divina. O conheci- mento inadequado do desejo destrói completamente a verdade. É por ela que se introduz no pensamento humano a ideia de finalidade, que o desenvolvimento pos- terior dos preconceitos levará até ao absurdo. 41
- 43. Como a alma é só conhecimento, ela persevera tanto melhor quanto melhor co- nhece, isto é, quanto mais adequadamente conhece. A sua perseverança depende sobretudo dela mesma, e menos das outras coisas. Em contrapartida, o conheci- mento inadequado representa para a alma uma forma inferior de perseverar no seu ser, uma vez que esse conhecimento só se constitui ao sabor dos objetos encon- trados. Quando um homem desconhece a natureza do seu desejo, identificando-a com o valor pretendido dos objetos desejados, em vez de a identificar com o poder de Deus em si, o esforço pelo qual ele persevera no seu ser toma então uma forma passiva, dependente, que o qualifica como inferior. Isto vale igualmente para o pró- prio desejo, dado que, no final de contas, ele não é mais do que esse esforço de per- severança. O mesmo acontece com as afeições, que se transplantam todas para o desejo, porque são elas que nos permitem experimentar o que favorece ou contraria o nos- so esforço. Encontramos nelas a oposição entre a atividade e a passividade, ligada ao caráter adequado ou inadequado do conhecimento que recebemos das afei- ções. Todas as nossas afeições têm de ser ou acções, ou paixões. As Paixões Vejamos, das afeições humanas, aquelas a que vulgarmente chamamos paixões, por exemplo, o amor. “O amor, escreve Espinosa, não é mais do que uma alegria que é acompanhada pela ideia de uma causa exterior” (escólio da proposição 13, III, p. 48). Esta definição é notável: negligenciando a relação entre amante e ser ama- do, que é o aspeto em que as definições mais frequentes de amor insistem, esta defi- nição de Espinosa situa a dimensão essencial do amor na alegria que experimenta aquele que ama, só atribuindo à causa exterior desta alegria (o ser amado) uma função de acompanhamento. Ora, a alegria é ela própria definida, segundo Espi- nosa, como “a passagem do homem de uma menor para uma maior perfeição” (III, p. 197): é a afeição que corresponde, na alma, ao aumento do poder de agir do corpo. Assim, o desejo explica a alegria, que, por seu turno, explica o amor. Es- forçando-se por perseverar no seu ser, cada um alegra-se por ver esse esforço favo- 42
- 44. recido, e ama, consequentemente, aquilo que o favorece. Esta ordem de derivação é imperativa: quando um homem imagina, pelo contrário, que deseja “porque” ama e “para” alcançar o seu contentamento que lhe é prometido pelo valor do ob- jeto amado, esse homem sucumbe à ilusão da finalidade e ignora o esforço que constitui a sua essência. A afirmação de si é o núcleo duro de todas as afeições. Assim sendo, nada, nas definições propostas por Espinosa, indica que a alegria e o amor sejam “paixões” no sentido próprio do termo (suportar, sofrer), isto é, for- mas de passividade, de dependência. Identificadas com a pura afirmação de si, pa- rece, pelo contrário, que essas afeições são verdadeiras acções. De facto, a alma hu- mana experimenta, diz Espinosa, uma alegria ativa quando se realiza o seu único desejo, que é o de conhecer. Admitindo que ela é um modo do atributo pensamen- to, cuja essência é produzida diretamente por Deus, a alma conhece-se a si como Deus a conhece, isto é, adequadamente: se ela “se concebe a ela própria e concebe o seu poder de agir, (então) ela é feliz” (demonstração da prop. 58, III, p. 194), pois pas- sa para um perfeição maior. Só que, geralmente, o conhecimento humano é inadequado. Sendo o homem uma parte da natureza, aquilo que o afeta só pode ser percebido claramente atra- vés de uma perceção das outras partes, num conhecimento que, completo, só Deus possui. Quando o poder de agir do homem aumenta, este progresso não se deve, na maior parte das vezes, ao desenvolvimento interno do seu conhecimento, mas ao concurso favorável de circunstâncias exteriores que lhe escapam. Acontece que, em certos momentos, a ordem das coisas materiais facilita a vida do corpo. A este feliz encontro corresponde, na alma, o sentimento de um aperfeiçoamento para o qual ela não contribui em nada. Surge, neste caso, uma alegria passiva, isto é, uma alegria alienada, totalmente suspensa de um favor misterioso das coisas, e que inci- ta o homem a esperar a manutenção desse favor. Esta alienação da alegria, que faz dela uma paixão propriamente dita, prolon- ga-se e reforça-se seguindo a derivação necessária da alegria no sentido do amor. Uma vez que o amor é sempre essencialmente uma alegria que é acompanhada pela ideia de uma causa exterior, o interesse do homem que ama apaixonadamen- te tem de se concentrar nesta causa exterior, de que lhe parece depender a alegria puramente passiva que experimenta. O quadro clássico do amor-paixão, e da ex- 43
- 45. trema dependência na qual ele nos mergulha, encontra aqui a sua explicação, as- sim como aliás a explicação do juízo frequentemente negativo que fazemos sobre a irracionalidade do amor. É evidentemente impossível atribuir uma “causa exteri- or” à alegria experimentada quando procuramos essa causa numa qualidade parti- cular do objeto amado, na medida em que esse objeto não tem qualquer privilégio para além de ser o elemento mais próximo de uma ordem universal que é conveni- ente sem que se saiba porquê. Desde que se escreve sobre o amor que não sabe- mos por que razão amamos: não é porque a resposta seja difícil, é porque a ques- tão é mal colocada. Os Homens naturalmente inimigos uns dos outros Convém determinar bem em que é que as acções e as paixões são idênticas, e em que é que são diferentes. São idênticas porque são, tanto umas como as outras, afeições. O seu núcleo duro é sempre a afirmação de si, o esforço de se perseverar no seu ser. Obedecem indiferentemente às mesmas leis, em particular à lei de deri- vação da alegria a partir do desejo, e do amor a partir da alegria. Esta identidade é a chave de toda a ética de Espinosa. Se o homem deve vencer as suas paixões, não é certamente libertando-se do determinismo inflexível que as rege. Se precisa- mos, por exemplo, de ultrapassar a paixão amorosa para alcançar a sabedoria, não é através da anulação do amor, mas através de uma conversão da sua forma passiva, alienada, numa forma ativa. O sábio, tal como o insensato, ama quando tem de amar, mas ama de forma diferente; ama melhor. Acções e paixões só diferem, segundo Espinosa, pelas ideias, adequadas ou ina- dequadas, que a alma tem. Esta diferença tem consequências sobre o próprio con- teúdo afetivo. Quando a alma é ativa, com efeito, não encontra nada nela que ve- nha contrariar o seu poder próprio de agir, isto é, de conhecer: seria incompatível com o princípio da perseverança. Ela só pode, portanto, alegrar-se, e amar aquilo que a alegra (prop. 59, III, p. 194). Quando é passiva, o encadeamento das suas idei- as não corresponde à ordem da produção divina, mas a um aspeto muito fragmen- tário dessa ordem: a sucessão aparentemente caótica dos acontecimentos que to- 44
- 46. cam num corpo particular. Podendo estes acontecimentos ser favoráveis ou desfa- voráveis sem que se compreenda porquê, a alma alegra-se por ver o corpo favoreci- do, e entristece-se por o sentir contrariado (prop. 11 e escólio, III, p.145-147). Ela ama aquilo que convém ao corpo, mas odeia aquilo que o prejudica (prop. 13 e escó- lio, III, p. 148). Deste modo, o universo das paixões comporta uma dualidade do positivo e do negativo, que não encontramos nas afeições ativas. Quando o desejo humano é alienado, não engendra só a alegria e o amor, mas também a tristeza (“passagem de uma maior para uma menor perfeição”) e o ódio (“tristeza que é acompanhada pela ideia de uma causa exterior”). Paixões positivas e paixões negativas desenvolvem-se na alma humana segundo as mesmas leis. Por exemplo, é tão necessário para nós alargar o nosso ódio a tudo o que lembra aquilo que detestamos, como transferir o nosso amor a tudo o que se assemelha ao ser amado. Nesta mistura, as paixões alegres são contaminadas pelas paixões tristes, a ponto de perder o que lhe pode dar valor, isto é, o seu parentesco com as afeições ativas. É o que ilustra, no fim da terceira parte da Ética, o escólio da proposição 55 (III, pp. 188-189). Espinosa dedica-se aí a mostrar que “os homens são por natureza inclinados para o ódio e para a inveja”. Mostra, curiosamente, partindo de uma paixão aparentemente positiva, a alegria que nasce em todo o ho- mem da consideração por si mesmo. Esta alegria, sabemo-lo, pode ser ativa quan- do tem origem na consciência que tem a alma do seu poder de conhecer. Mas tra- ta-se, neste caso, de uma forma alienada do usufruto de si, isto é, é o amor próprio que incita os homens a se satisfazerem consigo mesmos comparando-se com os ou- tros. Esta alienação perverte o motivo da sua alegria. Uma vez que o seu conheci- mento de si mesmos é inadequado, concebem o que é comum entre eles como uma espécie de ideia geral que apaga as diferenças individuais. Não sabem que a sua verdadeira comunidade, a razão, é ao mesmo tempo aquilo que permite a cada indivíduo realizar-se a si próprio. Cada um acredita, então, encontrar o que lhe é próprio naquilo que o diferencia de forma visível desta humanidade geral e banal, e considera que o que é admirável nele é somente aquilo que pode negar nos outros. Não podendo eles próprios afirmar-se sem serem reconhecidos superio- res, os homens são tomados de tristeza a cada vez que um outro apresenta uma qualidade que eles não têm. O mais grave é que esta comparação faz-se a partir 45
