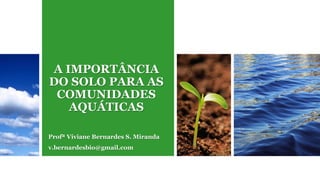
A importância do solo para as comunidades aquáticas
- 1. A IMPORTÂNCIA DO SOLO PARA AS COMUNIDADES AQUÁTICAS Profª Viviane Bernardes S. Miranda v.bernardesbio@gmail.com
- 2. INTRODUÇÃO Disponibilizar informações sobre a relação Solo – Comunidades Aquáticas, visando os ecossistemas continentais, dentro de um contexto ecológico e ambiental.
- 4. 1.1 ESTUDO DO SOLO. CONCEITO “ Solo é o meio natural para o desenvolvimento e crescimento de diversos organismos vivos, sejam eles terrestres ou aquáticos.” (CURI et al., 1993)
- 5. Segundo a PEDOGÊNESE: Solo é a camada viva que recobre a superfície da terra, em evolução permanente, formada por meio da ação do intemperismo nas rochas fontes. As alterações são lentas; O intemperismo inclui forças físicas, que desintegram a rocha; Reações químicas alteram a composição das rocha e dos minerais; O intemperismo inclui forças biológicas, que intensificam as forças físicas e químicas. 1.2 FORMAÇÃO
- 8. 1.3 FATORES QUE DETERMINAM A FORMAÇÃO DOS SOLOS CLIMA A umidade e a variação de temperatura interferem na intensidade e na velocidade do intemperismonas rochas; Clima quente e úmido - a ação do intemperismoé intensae rápida; A umidade é um fator importante – reação com os minerais, dando origem a ácidos, que provocam a corrosão das rochas.
- 9. 1.3 FATORES QUE DETERMINAM A FORMAÇÃO DOS SOLOS MATERIAL DE ORIGEM Rocha matriz; Em condições climáticas idênticas, cada tipo de rocha origina um tipo diferente de solo, o que varia de acordocomasuaconstituição.
- 10. 1.3 FATORES QUE DETERMINAM A FORMAÇÃO DOS SOLOS RELEVO Diferença de topografia favorece a distribuição irregular da água das chuvas, do calor e da luz; Favorece também a ocorrência de reações químicas responsáveis pela sua degradação; Em regiões de maior declive, a exposição da rocha à água da chuva é menor; O nível de exposição aos raios solares também influi no intemperismo da rocha.
- 11. 1.3 FATORES QUE DETERMINAM A FORMAÇÃO DOS SOLOS PRESENÇA DE ORGANISMOS VIVOS A decomposição de restos animais e vegetais realizada por microrganismos (bactérias, fungos e algas) influi na quantidade de matéria orgânica do solo.
- 12. 1.3 FATORES QUE DETERMINAM A FORMAÇÃO DOS SOLOS TEMPO CRONOLÓGICO O período de exposição do solo à atmosfera; Os solos mais velhos, em geral, são mais profundos que os solos mais novos.
- 13. 1.4 HORIZONTES DOS SOLOS
- 14. 1.5 COMPOSIÇÃO DOS SOLOS
- 16. 1.7 TIPO DE SOLO
- 17. 1.8 FUNÇÕES DO SOLO Armazenamento, escoamento e infiltração da água da chuva e irrigação; Armazenamento e fornecimento de nutrientes para as comunidades terrestres e aquáticas; Ação filtrante e protetora de qualidade da água;
- 19. 1.10 MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO Embora um solo produtivo seja composto de menos que 5% de matéria orgânica esta determina em grande parte a produtividade do solo; Serve como uma fonte de alimento para microrganismos através de reações químicas, influenciando nas propriedades físicas do solo.
- 20. TIPO DE COMPONENTE COMPOSIÇÃO SIGNIGICADO Húmus Resíduo da degradação do apodrecimento de plantas, em grande parte C, H e O. Componente orgânico mais abundante, melhora propriedades físicas do solo, troca de nutrientes, reservatório de N fixo. Gorduras, resinas e ceras Extraídos de lipídios através de solventes orgânicos. Pequena parte da matéria orgânica do solo, pode afetar as propriedades físicas do solo repelindo água, pode ser fitotóxico. Sacarídeos Celulose, amido, hemicelulose, gomas. Principal fonte de alimento para microrganismos do solo, ajuda na estabilização de agregados do solo. Nitrogênio orgânico Nitrogênio ligado ao húmus, aminoácidos e outras composições. Fornece nitrogênio para fertilidade do solo e água Compostos de fósforo Éster fosfatos, inositol fosfatos (ácido fítico), fosfolipídios. Fonte de fosfato para a planta e água
- 21. PARTE 2. A COMUNIDADE AQUÁTICA DE ECOSSISTEMAS CONTINENTAIS
- 22. 2.1 BACTERIOPLÂNCTON Bactérias existentes no ambiente aquático; Relativamente mais abundante na superfície; De vida livre; Associadas em matéria orgânica; Maioria heterotrófica (substâncias orgânicas); Decompositores, fotoautotróficas ou quimiautotróficas;
- 24. 2.2 PROTOZOOPLÂNCTON Grande parte da biomassa zooplanctônica (BUECHLER & DILLON, 1974, BEAVER & CRISMAN, 1982); Dificuldades metodológicas negligenciaram esta comunidade; Maiores representantes: flagelados, sarcodinos, ciliados.
- 28. 2.3 FITOPLÂNCTON Indicadores de qualidade biológica ; Responsáveis por grande parte da produção primária, principalmente nos oceanos; Sintetiza matéria orgânica através da fotossíntese; Constituição marinha mais comum: cianobactérias, diatomáceas, dinoflagelados, cocolitoforídeos, silicoflagelados, clorofíceas; Constituição dulcícola mais comum: cianobactérias, clorofíceas, zygnemafíceas, euglenofíceas, diatomáceas,dinoflagelados, rodofíceas e xantofíceas.
- 31. 2.4 PERIFÍTON É representado por uma fina camada (biofilme) variando em alguns milímetros Atua na interface entre o substrato e a água circundante. São observados como manchas verdes ou pardas aderidos a objetos submersos na água como rochas, troncos, objetos artificiais (inertes) e a vegetação aquática. O termo perifíton foi consagrado e definido como uma complexa comunidade de microrganismos (algas, bactérias, fungos e animais), detritos orgânicos e inorgânicos aderidos a substratos inorgânicos ou orgânicos vivos ou mortos (Wetzel, 1983a).
- 33. 2.5 MACRÓFITAS AQUÁTICAS Vegetais adaptados ao ambiente aquático; O termo macrófitas aquáticas pode ser considerado de uso mais corrente; Assimilam os nutrientes presentes no sedimento; Durante a decomposição ou mediante a excreção de compostos orgânicos os liberam para a coluna de água; Também se constituem em importante microhabitat para muitos organismos Em virtude do intenso crescimento as macrófitas aquáticas flutuantes podem ser os principais produtores de matéria orgânica do sistema.
- 35. 2.6 ZOOPLÂNCTON Organismos pertencentes ao reino animal; Maior diversidade no ambiente continental; Maiores grupos no ambiente costeiro;
- 38. 2.7 MACROINVERTEBRADOS Constituem uma importante fonte alimentar para os peixes; São valiosos indicadores da degradação ambiental; Habitam o substrato de fundo (sedimentos, detritos, troncos, macrófitas aquáticas, algas filamentosas e etc.) de hábitat de água doce, em pelo menos uma fase de seu ciclo vital; São representados por vários grupos taxonômicos, como - Platyhelminthes, Annelida, Crustacea, Mollusca, Insecta, sendo este último, o mais diversificado e abundante.
- 40. 2.8 Bentos Organismos que vivem no substrato; Fixos ou não; Marinhos ou dulcícolas. Podem ser divididos em: Fitobentos - as macroalgas, algumas microalgas e as plantas aquáticas enraizadas; Zoobentos - os animais e muitos protistas bentônicos.
- 42. 2.9 NÉCTON Animais vertebrados, aquáticos; Tipicamente ectodérmicos; Corpo fusiforme; Membros transformados em barbatanas ou nadadeiras; Ósseos ou cartilaginosos; Guelras ou brânquias com que respiram o oxigênio na água (embora os dipnóicos usem pulmões); Corpo coberto de escamas.
- 45. 3.1ZONASRIPÁRIAS
- 46. Manutenção da integridade da Bacia Hidrográfica Filtro natural para águas superficiais Controle e erosão de margens Importante corredor ecológico Fornecimento de energia em forma de material alóctone para os ecossistemas aquáticos
- 47. Processo de Urbanização Redução das zonas ripárias Impacto no ecossistem a aquático
- 49. 3.2MATASCILIARES
- 52. 3.3 IMPORTÂNCIA DO SOLO NO ECOSSISTEMA AQUÁTICO: Fonte de matéria orgânica para os organismos aquáticos IMPORTÂNCIA DA MATÉRIA ORGÂNICA PARA OS ORGANISMOS AQUÁTICOS: Libera lentamente nutrientes para o ecossistema aquático, que serão assimilados na cadeia trófica
- 53. 3.4 NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA A BIOTA AQUÁTICA MACRONUTRIENTES CARBONO HIDROGÊNIO OXIGÊNIO NITROGÊNIO FÓSFORO
- 54. NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA A BIOTA AQUÁTICA MICRONUTRIENTES BORO FERRO MANGANÊS CLORO
- 55. 3.5 A INTERFERÊNCIA HUMANA NA INTERFACE SOLO- ÁGUA-BIODIVERSIDADE AQUÁTICA Com o aumento da população mundial, ocorre o aumento das práticas agrícolas e da ocupação desordenada do solo; Impacto direto na fertilidade do solo; Diminuição da matéria orgânica, conseqüentemente diminuição da transferência para o ambiente aquático; Perda do solo por erosão; Contaminação do solo por efluentes industriais e domésticos, seguido da contaminação aquática; Alteração do solo para a atividades da construção civil.
- 57. 3.6 EROSÃO DO SOLO Chuvas; Infiltração; Topografia (declividade); Cobertura vegetal.
- 58. 3.8 PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS ENTRE SOLO E ÁGUA O sistema de manejo do solo assegura a utilização racional do solo, sem diminuir a sua fertilidade (BERTONI & LOMARBI NETO, 1993); Uma vez solos fertéis, os ecossistemas aquáticos encontraram recursos necessários para a estabilidade e equilíbrio de sua biota; A oferta de nutrientes vindos do solo em todos os níveis da cadeia trófica permitirão o desenvolvimento e sucesso dos organismos nos diversos biótopos aquáticos; A relação ecossistema terrestre – aquático (solo-água-biota aquática), permite o equilíbrio ecológicos das comunidades viventes
- 59. AGRADECIMENTOS CASTELO BRANCO BIOSEMANA TODOS OS PRESENTES OBRIGADA !!!
