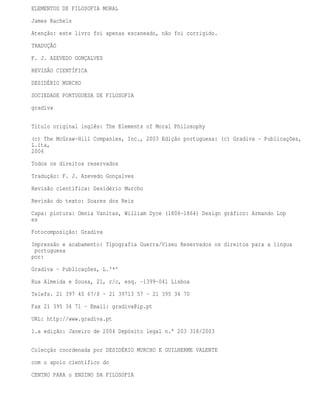
Filosofia Moral Introdução
- 1. ELEMENTOS DE FILOSOFIA MORAL James Rachels Atenção: este livro foi apenas escaneado, não foi corrigido. TRADUÇÃO F. J. AZEVEDO GONÇALVES REVISÃO CIENTÍFICA DESIDÉRIO MURCHO SOCIEDADE PORTUGUESA DE FILOSOFIA gradiva Título original inglês: The Elements of Moral Philosophy (c) The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 Edição portuguesa: (c) Gradiva - Publicações, L.íta, 2004 Todos os direitos reservados Tradução: F. J. Azevedo Gonçalves Revisão científica: Desidério Murcho Revisão do texto: Soares dos Reis Capa: pintura: Omnia Vanitas, William Dyce (1806-1864) Design gráfico: Armando Lop es Fotocomposição: Gradiva Impressão e acabamento: Tipografia Guerra/Viseu Reservados os direitos para a língua portuguesa por: Gradiva - Publicações, L.'*' Rua Almeida e Sousa, 21, r/c, esq. -1399-041 Lisboa Telefs. 21 397 40 67/8 - 21 39713 57 - 21 395 34 70 Fax 21 395 34 71 - Email: gradiva@ip.pt URL: http://www.gradiva.pt 1.a edição: Janeiro de 2004 Depósito legal n.° 203 318/2003 Colecção coordenada por DESIDÉRIO MURCHO E GUILHERME VALENTE com o apoio científico do CENTRO PARA o ENSINO DA FILOSOFIA
- 2. (Sociedade Portuguesa de Filosofia) gradiva Editor: Guilherme Valente índice Prefácio 9 Sobre a quarta edição (americana) 11 1. O que é a moralidade? 13 1.1 O problema da definição 13 1.2 Primeiro exemplo: a bebé Teresa 14 1.3 Segundo exemplo: Jodie e Mary 19 1.4 Terceiro exemplo: Tracy Latimer 23 1.5 Razão e imparcialidade 27 1.6 A concepção mínima de moralidade 31 2. O desafio do relativismo cultural 33 2.1 Culturas diferentes têm códigos morais diferentes 33 2.2 Relativismo cultural 35 2.3 O argumento das diferenças culturais 37 2.4 As consequências de levar a sério o relativismo cultural 40 2.5 Por que razão há menos diferenças do que parece 43 2.6 Como todas as culturas têm alguns valores em comum. 45 2.7 A avaliação de práticas culturais indesejáveis 47 2.8 O que se pode aprender com o relativismo cultural 51 3 O subjectivismo em ética 55 3.1 A ideia de base do subjectivismo ético 55 3.2 A evolução da teoria 57 3.3 A primeira fase: o subjectivismo simples 58 3.4 A segunda fase: emotivismo 61 3.5 Existirão factos morais? 65
- 3. 3.6 Haverá provas em ética? 68 3.7 A questão da homossexualidade 71 4. Dependerá a moralidade da religião? 77 4.1 A suposta ligação entre moralidade e religião 77 4.2 A teoria dos mandamentos divinos 80 4.3 A teoria da lei natural 84 4.4 Religião e questões morais particulares 90 5. Egoísmo psicológico 97 5.1 Será o altruísmo possível? 97 5.2 A estratégia de reinterpretação de motivos 99 5.3 Dois argumentos a favor do egoísmo psicológico 103 5.4 Esclarecer algumas confusões 107 5.5 O erro mais grave do egoísmo psicológico 110 6. Egoísmo ético 115 6.1 Teremos o dever de ajudar pessoas que morrem à fome? 115 6.2 Três argumentos a favor do egoísmo ético 119 6.3 Três argumentos contra o egoísmo ético 127 7- A abordagem utilitarista 135 7.1 A revolução na ética 135 7.2 Primeiro exemplo: eutanásia 139 7.3 Segundo exemplo: os animais não-humanos 143 8- O debate sobre o utilitarismo 151 8.1 A versão clássica da teoria 151 8.2 Será a felicidade a única coisa que importa? 153 8.3 As consequências são a única coisa que importa? 155 8.4 Deveremos ter toda a gente igualmente em conta? 160 8.5 A defesa do utilitarismo 162 9. Haverá regras morais absolutas? 171 9.1 Harry Truman e Elizabeth Anscombe 171
- 4. 9.2 O imperativo categórico 175 9.3 Regras absolutas e o dever de não mentir 178 9.4 Conflitos entre regras 182 9.5 Outro olhar sobre a ideia fundamental de Kant 184 10. Kant e o respeito pelas pessoas 189 10.1 A ideia de dignidade humana 189 10.2 Retribuição e utilidade na teoria da punição 193 10.3 O retributivismo de Kant 196 11. A ideia de contrato social 203 11.1 O argumento de Hobbes 203 11.2 O dilema do prisioneiro 209 11.3 Algumas vantagens da teoria contratualista da moral 214 11.4 O problema da desobediência civil 218 11.5 Dificuldades da teoria 222 12. O feminismo e a ética dos afectos 227 12.1 Pensam os homens e mulheres de maneira diferente sobre a ética? 227 12.2 Implicações para o juízo moral 237 12.3 Implicações para a teoria ética 242 13. A ética das virtudes 245 13.1 A ética das virtudes e a ética da acção correcta 245 13.2 As virtudes 248 13.3 Algumas vantagens da ética das virtudes 261 13.4 O problema da incompletude 263 14. Como seria uma teoria moral satisfatória? 269 14.1 Moralidade sem húbris 269 14.2 Tratar as pessoas como merecem e outros motivos 273 14.3 Utilitarismo de estratégias múltiplas 277 14.4 A comunidade moral 281 14.5 Justiça e equidade 283
- 5. 14.6 Conclusão 285 Sugestões de leitura 287 Notas sobre fontes 299 índice analítico 307 Prefácio Sócrates, um dos primeiros e melhores filósofos morais, afirmou que a ética trata de " um assunto de grande importância: saber como devemos viver". Este livro é uma introdução à filosofia moral, concebida neste sentido lato. O tema é, naturalmente, demasiado vasto para ser abrangido num pequeno livro, pelo que tem de haver uma maneira de decidir o que incluir e o que deixar de fora. Fui gu iado pelo seguinte pensamento: Imagine-se alguém que nada sabe a respeito do tema, mas desej a perder uma modesta porção de tempo a aprender. Quais são as primeiras coisas, e as mai s importantes, que essa pessoa precisa de aprender? Este livro é a minha resposta a essa pergunta. Não tento abranger todos os temas desta área; nem mesmo tento dizer tudo quanto poderia ser dito sobre os temas tratados. Tento, isso sim, discutir as id eias mais importantes que um principiante deve enfrentar. Os capítulos foram escritos de modo a poderem ser lidos independentemente uns dos outros - são, com efeito, ensaios díspares sobre tópicos diferentes. Assim, alguém interessado no egoísmo ético pode ir directamente ao sexto capítulo e encontrar aí uma introdução independente a essa teoria. Quando lidos em sequência, no entanto, os capítulos 9 contam uma história mais ou menos contínua. O primeiro capítulo apresenta uma "concepção mínima" do que é a moral; os capítulos do meio abrangem as mais importantes teorias gerais da ética (com algumas digressões, quando adequadas); e o capítulo final apresenta a minha própria perspectiva sobre como seria uma teoria moral satisfatória . O objectivo do livro não é oferecer um relato arrumado e unificado da "verdade" sobr e os temas em discussão. Isso seria uma forma pobre de apresentar o tema. A filosofia não é como a física. Na física há um vasto corpo de verdade estabelecida, que nenhum físico competente disputaria e que os principiantes têm de aprender pacientemente a domin ar. (Os professores de Física raramente pedem aos alunos para tomarem decisões quanto às leis da termodinâmica.) Há, é claro, desacordos entre os físicos e controvérsias por resolver, mas
- 6. estas decorrem geralmente sobre o pano de fundo de um acordo substancial. Na fil osofia, pelo contrário, tudo é controverso - ou quase tudo. Filósofos "competentes" discordam até mesmo sobre questões fundamentais. Uma boa introdução não tenta ocultar esse facto algo embaraçoso. Encontra-se aqui, portanto, uma panorâmica de ideias, teorias e argumentos opostos . As minhas próprias perspectivas influenciam inevitavelmente a apresentação. Não tentei esconder o facto de achar algumas das ideais apresentadas mais apelativas que ou tras, e é óbvio que um filósofo com uma avaliação diferente poderia apresentar ideias diferentes d e outra forma. Mas tentei apresentar as teorias opostas de forma justa, e quando a poiei ou rejeitei uma delas tentei dar alguma razão para a aceitar ou rejeitar. A filosofia , como a própria moralidade, é primeiro que tudo um exercício de racionalidade - as ideias que devem prevalecer são as que tiverem as melhores razões do seu lado. Se este livro fo r bem sucedido, o leitor ou leitora aprenderá o suficiente para poder começar a avaliar, p or si, para que lado pende a balança da razão. 10 Sobre a quarta edição (americana) Os leitores familiarizados com a edição anterior deste livro podem querer saber o qu e foi alterado. Não há capítulos novos, mas há algumas secções novas; e todos os capítulos foram corrigidos de uma maneira ou outra, pela remoção de coisas menos felizes e pela adição d e clarificações. Alguns dos exemplos perderam actualidade, pelo que foram actualizados ou substituídos. No capítulo l, há nova informação sobre o caso Tracy Latimer; há também uma secção nova sobre o caso recente das gémeas siamesas. Em vários outros capítulos acrescentei material ilustrativo. Acrescentei material novo ao capítulo sobre regr as morais absolutas. No capítulo 14, há uma secção nova que desenvolve de forma mais completa "como seria uma teoria moral satisfatória". Howard Pospesel fez muitas sugestões que me ajudaram imenso; é um prazer agradecer-l he. Um muito obrigado também para Monica Eckman da MacGraw-Hill, uma redactora admirável. 11 Capítulo 1 O que é a moralidade? Não estamos a discutir um tema sem importância, mas sim como devemos viver. SÓCRATES, A República, de Platão (ca. 390 a. C.) 1.1 O problema da definição
- 7. A filosofia moral é a tentativa de ganhar uma compreensão sistemática da natureza da moralidade e do que esta requer de nós - ou, nas palavras de Sócrates, de "como deve mos viver", e porquê. Seria útil se pudéssemos começar com uma definição simples e incontroversa de moralidade, mas isso é impossível. Há muitas teorias rivais, cada uma expondo uma concepção diferente do que significa viver moralmente, e qualquer definição que vá além da formulação simples de Sócrates é susceptível de ofender uma ou outra dessas teorias. Isto deve colocar-nos de sobreaviso, mas não temos de ficar paralisados. Neste capít ulo vou descrever a "concepção mínima" de moralidade. Como o nome sugere, a concepção mínima é um núcleo que qualquer teoria moral 13 deveria aceitar, pelo menos como ponto de partida. Vamos começar por examinar algu mas controvérsias morais recentes, todas relacionadas com crianças deficientes. As características da concepção mínima emergirão da nossa consideração destes exemplos. 1.2 Primeiro exemplo: a bebé Teresa Theresa Ann Campo Pearson, conhecida publicamente como "Bebé Teresa", é uma criança com anencefalia nascida na Florida em 1992. A anencefalia é uma das mais graves deformidades congénitas. Os bebés anencefálicos são por vezes referidos como "bebés sem cérebro", e isto dá basicamente ideia do problema, mas não é uma imagem inteiramente correcta. Partes importantes do encéfalo - cérebro e cerebelo - estão em falta, bem co mo o topo do crânio. Estes bebés têm, no entanto, o tronco cerebral e por isso as funções autónomas como a respiração e os batimentos cardíacos são possíveis. Nos EUA, a maior parte dos casos de anencefalia são detectados durante a gravidez e abortados. Dos não abortados, metade nascem mortos. Cerca de trezentos em cada ano nascem vivos e e m geral morrem em poucos dias. A história da bebé Teresa nada teria de notável não fosse o pedido invulgar feito pelos seus pais. Sabendo que a bebé não poderia viver por muito tempo e, mesmo que pudesse sobreviver, nunca iria ter uma vida consciente, os pais da bebé Teresa ofereceram os seus órgãos para transplante. Pensaram que os seus rins, fígado, coração, pulmões e olhos deveriam ir para crianças que pudessem beneficiar deles. Os médicos acharam uma boa ideia. Pelo menos duas mil crianças em cada ano necessitam de transplantes e nunca há órgãos disponíveis suficientes. Mas os órgãos não foram retirados, porque na Florida a lei não permite a remoção de órgãos até o dador estar morto. Quando, 14 nove dias depois, a bebé Teresa morreu, era demasiado tarde para as outras crianças - os órgãos não podiam ser transplantados por se terem deteriorado excessivamente.
- 8. As histórias dos jornais sobre a bebé Teresa suscitaram uma onda de debates públicos. Teria sido correcto remover os órgãos da criança, causando-lhe dessa forma morte imediata, p ara ajudar outras crianças? Vários eticistas profissionais - pessoas empregadas por universidades, hospitais, e escolas de direito, cujo trabalho consiste em pensar nestas coisas - foram solicitados pela imprensa para comentar o tema. Surpreendentemente, pouc os concordaram com os pais e os médicos. Apelaram, ao invés, para princípios filosóficos consagrados para se oporem à remoção dos órgãos. "Parece simplesmente demasiado horrível usar pessoas como meio para os objectivos de outras pessoas", afirmou um desses peritos. Outro explicou: "É imoral matar para salvar. É imoral matar a pessoa A para salvar a pessoa B." Um terceiro acrescentou: "O que os pais estão realmente a pedir é: mate m este bebé moribundo para que os seus órgãos possam ser usados por outra pessoa. Bom, isso é de facto uma proposta horrenda." Era realmente horrendo? As opiniões dividiram-se. Os eticistas pensavam que sim, e nquanto os pais da bebé e os médicos pensavam que não. Mas não estamos apenas interessados no que as pessoas pensam. Queremos conhecer a verdade da questão. Teriam os pais razão ou não, de facto, ao oferecerem os órgãos da bebé para transplante? Se queremos descobrir a verdade temos de perguntar que razões, ou argumentos, podem ser concedidos a cada uma das partes. O que poderá dizer-se para justificar o pedido dos pais ou para justif icar a ideia de que o pedido estava errado? O argumento do benefício. A sugestão dos pais baseava-se na ideia de que, uma vez qu e Teresa ia morrer em breve, os seus órgãos de nada lhe serviam. As outras crianças, no entanto, poderiam beneficiar deles. Assim, o raciocínio 15 parece ter sido o seguinte: Se podemos beneficiar alguém sem fazer mal a outra pes soa, devemos fazê-lo. Transplantar os órgãos beneficia as outras crianças sem prejudicar a bebé Teresa. Logo, devemos transplantar os órgãos. Será isto correcto? Nem todos os argumentos são sólidos; por isso, não queremos apenas saber que argumentos podem ser aduzidos em defesa de uma dada posição, mas também se esses argumentos são bons. Em geral, um argumento é sólido se as suas premissas são verdadeiras e a conclusão resulta logicamente delas. Neste caso, poderíamos interrog ar-nos sobre a proposição segundo a qual Teresa não seria prejudicada. Afinal de contas, ela morreria; isso não é mau para ela? Mas, se reflectirmos, parece claro que nestas circunstâncias trágicas os pais tinham razão - estar viva não lhe servia de nada. Estar vivo só é um benefício quando permite a alguém realizar actividades e ter pensamentos, sentimentos, e relações com outras pessoas- por outras palavras, se permite a alguém t
- 9. er uma vida. Na ausência destas condições, a mera existência biológica não tem valor algum. Por isso, mesmo que Teresa pudesse continuar viva por mais alguns dias, isso nad a lhe traria de bom. (Podemos imaginar circunstâncias nas quais outras pessoas beneficiariam em mante- la viva, mas isso não é o mesmo que ser ela a beneficiar disso.) O argumento do benefício fornece, pois, uma poderosa razão para o transplante dos órgãos . Quais são os argumentos do lado contrário? O argumento de que as pessoas não devem ser usadas como meios. Os eticistas que se opuseram aos transplantes usaram dois argumentos. O primeiro baseava-se na ideia de que é errado usar pessoas como meio para os fins de outras pessoas. Retirar os órgãos de T eresa teria sido usá-la em benefício de outras crianças; portanto, não se deve fazê-lo. Será este um argumento sólido? A ideia de que não devemos "usar" pessoas é obviamente apelativa, ma s 16 trata-se de uma noção vaga que tem de ser esclarecida. O que significa ao certo? "Us ar pessoas" implica geralmente violar a sua autonomia - a capacidade de decidirem p or si mesmas como viver as suas próprias vidas, segundo os seus próprios desejos e valores . A autonomia de uma pessoa pode ser violada por meio de manipulação, impostura ou fraud e. Por exemplo, posso fingir ser amigo de alguém, quando na verdade estou apenas inte ressado em conhecer a sua irmã; ou posso mentir a alguém para conseguir um empréstimo; ou poss o tentar convencer alguém de que gostará de assistir a um concerto noutra cidade, quan do quero apenas que me leve até lá. Em todos estes casos estou a manipular alguém de modo a obter algo para mim próprio. A autonomia é igualmente violada quando as pessoas são forçadas a fazer coisas contra a sua vontade. Isto explica por que razão é errado "usa r pessoas"; é errado porque a impostura, a coerção e o engano são errados. Retirar os órgãos à bebé Teresa não envolveria engano, impostura ou coerção. Será que estaríamos a "usá-la" num outro sentido moralmente significativo? Iríamos, é claro, usar os seus órgãos em benefício de outra pessoa. Mas fazemos isso sempre que realizamos um transplante. Neste caso, no entanto, iríamos fazê-lo sem a sua permissão. Esse facto t ornaria o acto errado? Se estivéssemos a fazê-lo "contra" os seus desejos, isso poderia just ificar a nossa oposição; seria uma violação da sua autonomia. Mas a bebé Teresa não é um ser autónomo: não tem desejos e é incapaz de tomar quaisquer decisões. Quando as pessoas são incapazes de tomar decisões, e outros têm que o fazer em seu lug
- 10. ar, podem adoptar duas linhas de orientação razoáveis. Primeiro, podemos perguntar-nos: O que serviria melhor os seus interesses? Se aplicarmos este padrão à bebé Teresa, parec e não haver objecções a que lhe retiremos os órgãos, pois, como já vimos, seja qual for a nossa decisão, os seus interesses não serão afectados. Ela, de qualquer maneira, morrerá em br eve. 17 A segunda linha de orientação apela para as preferências da própria pessoa. Poderíamos perguntar: Se pudesse dizer-nos o que quer, que diria ela? Este tipo de pensamen to é frequentemente útil quando lidamos com pessoas que sabemos terem preferências mas são incapazes de exprimi-las (por exemplo, um paciente em coma que assinou um testam ento). Só que, infelizmente, a bebé Teresa não tem preferências sobre coisa alguma e nunca terá. Não podemos, por isso, obter dela qualquer orientação, nem mesmo na nossa imaginação. A conclusão é que ficamos na contingência de fazer o que consideramos melhor. O argumento do erro de matar. Os eticistas recorreram igualmente ao princípio de q ue é errado matar uma pessoa para salvar outra. Retirar os órgãos de Teresa seria matá-la p ara salvar outros, afirmaram eles; por isso, retirar os órgãos seria errado. Será este argumento sólido? A proibição de matar é certamente uma das regras morais mais importantes. No entanto, poucas pessoas pensam que matar é sempre errado - a maior ia das pessoas pensa que algumas excepções são por vezes justificadas. Á questão é, pois, saber se retirar os órgãos da bebé Teresa deveria ser encarado como uma excepção à regra. Há muitas razões a favor desta ideia, sendo a mais importante que ela morrerá de qualq uer maneira, independentemente do que fizermos, ao passo que retirar-lhe os órgãos permi tiria pelo menos fazer algum bem a outros bebés. Qualquer pessoa que aceite isto tomará co mo falsa a primeira premissa do argumento. Em geral é errado matar uma pessoa para sa lvar outra, mas isso nem sempre é assim. Mas há outra possibilidade. Talvez a melhor maneira de entender toda a situação fosse encarar desde logo a bebé Teresa como morta. Se isto parece insensato, recorde-se que a "morte cerebral" é hoje amplamente aceite como critério para declarar as pessoas legalmente mortas. Quando 18 o critério da morte cerebral foi proposto pela primeira vez, houve resistências base adas na ideia de que alguém pode estar cerebralmente morto mas muita coisa continua a func ionar no seu interior - com assistência mecânica o coração pode continuar a bater, pode-se continuar a respirar, e assim por adiante. Mas a morte cerebral foi por fim acei
- 11. te e as pessoas acostumaram-se a encará-la como "verdadeira" morte. Isto foi sensato porqu e quando o cérebro pára de funcionar deixa de haver esperança de vida consciente. As anencefalias não satisfazem os requisitos técnicos da morte cerebral tal como é actualmente definida; mas talvez a definição devesse ser reelaborada para as incluir . Afinal de contas, os anencefálicos também não têm perspectivas de vida consciente, pela razão profunda de que não têm cérebro ou cerebelo. Se a definição de morte cerebral fosse reformulada para incluir os anencefálicos, acabaríamos por nos acostumar à ideia de qu e estes infelizes bebés são nado-mortos e deixaríamos, por isso, de encarar a extracção dos seus órgãos como uma forma de os matar. O argumento baseado na ideia de que matar é errado seria então contestável. Parece pois, no todo, que o argumento a favor do transplante dos órgãos da bebé Teresa é mais forte do que estes argumentos contra o transplante. 1.3 Segundo exemplo: Jodie e Mary Em Agosto de 2000, uma jovem de Gozo, uma ilha junto de Malta, descobriu que est ava grávida de gémeos siameses. Sabendo que as instalações de saúde de Gozo não estavam equipadas para lidar com as complicações de um tal nascimento, ela e o marido foram para o Hospital St. Mary, em Manchester, Inglaterra, para fazer aí o parto das bebés. As cr ianças, conhecidas como Mary e Jodie, estavam 19 ligadas pelo baixo abdómen. As suas espinhas dorsais encontravam-se fundidas, e partilhavam um coração e um par de pulmões. Jodie, a mais forte, fornecia sangue à sua irmã. Ninguém sabe quantos pares de gémeos siameses nascem por ano. São raros, embora o nascimento recente de três pares no Oregon tenha suscitado a ideia de que o seu núme ro está a crescer. ("Os Estados Unidos têm um excelente serviço de saúde mas os registos são muito pobres", afirmou um médico.) As causas do fenómeno não são bem conhecidas, mas sabemos com certeza que os gémeos siameses são uma variante de gémeos idênticos. Quando o conjunto de células (o "pré-embrião") se divide, três a oito dias após a fertilização, surgem os gémeos idênticos; quando a divisão se arrasa mais alguns dias, pod e ficar incompleta e os gémeos podem ficar ligados. Alguns pares de gémeos siameses não têm problemas. Chegam à idade adulta e por vezes casam e têm os seus próprios filhos. Mas o panorama apresentava-se algo cinzento par a Mary e Jodie. Os médicos afirmaram que, sem intervenção, morreriam dentro de seis mese s. A única esperança era uma operação para separá-las. Isto salvaria Jodie, mas Mary morreria de imediato.
- 12. Os pais, católicos devotos, não permitiram a operação baseando-se na ideia de que isso anteciparia a morte de Mary. "Pensamos que a natureza deve seguir o seu curso", afirmaram os pais. "Se é a vontade de Deus que as crianças não sobrevivam, assim seja." O hospit al, convencido da sua obrigação de fazer os possíveis para salvar pelo menos uma das criança s, solicitou permissão aos tribunais para separar as bebés contra o desejo dos pais. Os tribunais concederam permissão, e a 6 de Novembro a operação foi realizada. Tal como se esperava , Jodie sobreviveu e Mary morreu. Ao meditar neste caso, devemos separar a questão de quem deveria tomar a decisão da questão de qual deve ser a 20 decisão. Podemos pensar, por exemplo, que a decisão devia caber aos pais, caso em qu e nos oporemos à intromissão dos tribunais. Mas continua em aberto a questão independente de saber qual seria para os pais (ou qualquer outra pessoa) a escolha mais sensata. Vamos concentrar-nos nesta última questão: Nas circunstâncias descritas, seria correcto ou e rrado separar as gémeas? O argumento de que devem ser salvas tantas vidas quanto possível. O argumento óbvio a favor da separação das gémeas é que podemos escolher entre salvar um bebé ou deixar ambos morrer. Não é claramente melhor salvar um deles? Este argumento é tão atraente que muitas pessoas concluirão, sem mais, que isto resolve o problema. No auge da contr ovérsia sobre o caso, quando os jornais estavam cheios de histórias acerca de Jodie e Mary , o Ladies Home Journal encomendou uma sondagem para descobrir o que os americanos pensavam. A sondagem mostrou que 78% aprovava a operação. As pessoas estavam obviamente persuadidas pela ideia de que devemos salvar tantos bebés quanto possível . No entanto, os pais de Jodie e Mary pensavam que há um argumento ainda mais forte do lado contrário. O argumento da santidade da vida humana. Os pais amavam as duas filhas e pensava m que seria errado sacrificar uma delas para salvar a outra. Naturalmente, não eram os úni cos a defender esta perspectiva. A ideia de que toda a vida humana tem valor, independ entemente da idade, raça, classe social ou deficiência, está no centro da tradição moral ocidental. É especialmente enfatizada em obras religiosas. Na ética tradicional, a proibição de mat ar seres humanos inocentes é tida como absoluta. Não importa se o assassinato visa servir um propósito meritório; simplesmente não pode fazer-se. Mary é um ser humano inocente, não podendo por isso ser morta.
- 13. 21 Será este argumento sólido? Por uma razão surpreendente, os juizes que avaliaram o cas o em tribunal pensaram que não. Negaram a pertinência do argumento tradicional neste c aso. O juiz Robert Walker afirmou que a realização da operação não mataria Mary. Ela seria simplesmente separada da irmã e depois "morreria, não por ser intencionalmente morta , mas porque o seu próprio corpo não pode manter a sua vida". Por outras palavras, a causa da sua morte não seria a operação mas a sua própria debilidade. Os médicos parecem ter favorecido também esta perspectiva. Quando a operação foi finalmente realizada, executaram todos os procedimentos para tentarem manter Mary viva - "concedendo-l he todas as possibilidades" - mesmo sabendo da inutilidade do esforço. O argumento do juiz pode parecer um pouco sofístico. Poderíamos pensar, seguramente, que pouco importa dizer que a morte da Mary é causada pela operação ou pela debilidade do seu corpo. De qualquer das maneiras ela vai morrer, e a sua morte acontecerá ma is cedo do que se não tivesse sido separada da irmã. Há, no entanto, uma objecção mais natural ao argumento da santidade da vida que não depende de um argumento tão forçado. Podemos responder que não é sempre errado matar seres humanos inocentes. Em situações raras pode mesmo ser correcto. Em particular s e: a) o ser humano inocente não tem futuro por estar condenado a morrer em breve independentemente do que façamos; b) o ser humano inocente não quer continuar a vive r, talvez por estar tão-pouco desenvolvido mentalmente que não pode de todo ter desejos ; e c) se matar o ser humano inocente permitir salvar a vida de outros, que podem desen volver-se e ter uma vida boa e plena - nestas circunstâncias, pouco frequentes, pode justifi car-se matar um inocente. E claro que muitos moralistas, sobretudo os pensadores religi osos, não se deixarão convencer. No entanto, esta é uma linha de pensamento que muitas pessoas podem achar persuasiva. 22 1.4 Terceiro exemplo: Tracy Latimer Tracy Latimer, uma menina de doze anos vítima de paralisia cerebral, foi morta pel o pai em 1993. Tracy vivia com a família numa quinta de uma pradaria de Saskatchewan, no Ca nadá. Numa manhã de domingo, enquanto a mulher e os filhos estavam na missa, Robert Lati mer pôs Tracy na cabina da sua carrinha de caixa aberta e asfixiou-a com o fumo do esc
- 14. ape. Na altura da morte, Tracy pesava menos de dezoito quilos; diz-se que tinha "um nível mental idêntico ao de um bebé de três meses". A senhora Latimer afirmou ter ficado aliviada p or encontrar Tracy morta ao chegar a casa, e acrescentou que "não tinha coragem" para o fazer. O senhor Latimer foi julgado por homicídio, mas o juiz e os jurados não quiseram tra tá-lo com demasiada dureza. O júri considerou-o apenas culpado de homicídio de segundo gra u e recomendou ao juiz para ignorar a sentença obrigatória de vinte e cinco anos de prisão . O juiz concordou e sentenciou Latimer a um ano de cadeia, seguido de um ano de pri são domiciliária na sua quinta. No entanto, o Supremo Tribunal do Canadá revogou a sente nça e ordenou a imposição da sentença obrigatória. Robert Latimer está ainda detido, cumprindo uma pena de vinte e cinco anos. Questões legais à parte, será que o senhor Latimer fez algo de errado? Este caso envol ve muitas das questões que já vimos nos outros casos. Um argumento contra o senhor Lati mer é que a vida de Tracy tinha valor moral, não tendo ele por isso o direito de a matar . Em sua defesa pode responder-se que a situação de Tracy era tão catastrófica que ela não tinha quaisquer perspectivas de uma "vida" em qualquer sentido além do puramente biológico . A sua existência estava reduzida a nada mais do que sofrimento sem sentido, pelo que matá-la foi um acto de misericórdia. Considerando estes argumentos, parece que talvez o se nhor Latimer tenha agido de forma defensável. Houve, no entanto, outros argumentos avança dos pelos seus críticos. 23 O argumento contra a discriminação dos deficientes. Quando Robert Latimer foi sentenciado com tolerância pelo tribunal, muitos deficie ntes encararam o facto como um insulto. O presidente de Saskatoon Voice of People wit h Disabilities, que sofre de esclerose múltipla, afirmou: "Ninguém tem o direito de de cidir se a minha vida tem um valor inferior a outra. Essa é a grande questão." Tracy foi morta por ser deficiente, afirmou, e isso é inadmissível. As pessoas deficientes deveriam ser tão re speitadas e ter tantos direitos como qualquer outra pessoa. Que podemos dizer disto? A discriminação contra qualquer grupo de pessoas é, naturalmente, um assunto sério. E inaceitável porque implica tratar algumas pessoas
- 15. de forma diferente de outras, quando não há diferenças relevantes entre elas para o justi ficar. Exemplos correntes envolvem situações como a discriminação no local de trabalho. Suponha-se que se recusa um trabalho a uma pessoa cega simplesmente porque o pat rão não gosta da ideia de empregar alguém incapaz de ver. Isto não é diferente de recusar empr egar alguém por ser negro ou judeu. Para sublinhar o quanto isto é ofensivo, poderíamos perguntar por que razão essa pessoa é tratada de forma diferente. É menos capaz de faz er o trabalho? É mais estúpida ou menos diligente? Merece menos o emprego? É menos capaz de beneficiar da circunstância de estar empregada? Se não há qualquer boa razão para a excl uir, então é simplesmente arbitrário tratá-la desta forma. Mas há algumas circunstâncias nas quais pode justificar-se tratar os deficientes de forma diferente. Por exemplo, ninguém iria defender seriamente que uma pessoa cega dever ia ser empregada como controladora de tráfego aéreo. Uma vez que podemos explicar facilment e por que motivo isto não é desejável, a "discriminação" não é arbitrária e não é uma violação dos direitos da pessoa deficiente. Devemos pensar na morte de Tracy Latimer como um caso de discriminação de deficiente s? O senhor Latimer 24 argumentou que a paralisia cerebral de Tracy não era a questão. "As pessoas andam a dizer que isto é uma questão relacionada com deficiência", afirmou, "mas estão enganadas. Isto diz respeito a tortura. Para Tracy, tratava-se de uma questão de mutilação e tortura". Antes da sua morte, Tracy fora submetida a uma importante e delicada intervenção cirúrgica às costas, ancas e pernas, e havia ainda mais cirurgias planeadas. "Tendo em conta a combinação de um tubo para alimentação, varetas nas costas, a perna cortada e bamba e ainda as chagas causadas pela permanência na cama", afirmou o pai, "como podem as pessoas dizer que ela era uma menina feliz"? No julgamento, três dos médicos de Trac y deram o seu testemunho sobre a dificuldade de controlar as suas dores. O senhor Latimer negou, por isso, que ela tenha sido morta por causa da paralisia cerebral; foi m orta por causa da dor e por não haver esperança para ela. O argumento da derrapagem. Isto conduz naturalmente a outro argumento. Quando o Supremo Tribunal do Canadá confirmou a sentença de Robert Latimer, Tracy Walters, directora da Associação Canadense de Centros para Uma Vida Independente, afirmou-se "agradavelmente surpreendida" pela decisão. "Teria sido na verdade uma bola de nev e e um abrir de portas a outras pessoas para decidirem quem vive e quem morre", afirmou .
- 16. Outros defensores dos deficientes fizeram eco desta ideia. Podemos compreender R obert Latimer, afirmaram alguns, podemos até ser tentados a pensar que Tracy está melhor m orta. No entanto, é perigoso pensar desta forma. Se aceitarmos qualquer tipo de morte pi edosa, iremos dar a uma "derrapagem" inevitável, e no final toda a vida terá perdido o seu valor. Onde devemos pois traçar a fronteira? Se a vida de Tracy Latimer não merece ser prot egida, o que dizer então de outros deficientes? Que dizer dos velhos, doentes e outros me mbros "inúteis" da sociedade? Neste 25 contexto, refere-se frequentemente os nazis, que queriam "purificar a raça", e a i mplicação é que se não queremos acabar como eles, é melhor não darmos os perigosos primeiros passo s. Tem-se usado "argumento da derrapagem" do mesmo género em relação a todo o tipo de questões. O aborto, a fertilização in vitro (FIV) e, mais recentemente, a clonagem, fo ram criticados por causa daquilo a que podem conduzir. Uma vez que estes argumentos envolvem especulações sobre o futuro, são manifestamente difíceis de avaliar. Por vezes, é possível verificar, em retrospectiva, que as preocupações eram infundadas. Isto aconte ceu com a FIV. Quando, em 1978, nasceu Louise Brown, a primeira "bebé proveta", houve uma série de previsões medonhas sobre o que o futuro poderia reservar para ela, a sua fa mília e a sociedade como um todo. Mas nada de mau aconteceu e a FIV tornou-se um procedime nto rotineiro usado para ajudar milhares de casais a ter filhos. Quando o futuro é desconhecido, pode, no entanto, ser difícil determinar se um argum ento deste tipo é sólido. Por outro lado, pessoas razoáveis podem discordar sobre o que pod eria acontecer se a morte piedosa fosse aceite em casos como o de Tracy Latimer. Isto dá origem a um tipo de impasse frustrante: os desacordos quanto aos méritos da argume ntação podem depender simplesmente das inclinações prévias dos interlocutores - os inclinados a defender o senhor Latimer podem pensar que as previsões são irrealistas, enquanto os predispostos a condená-lo insistem na sensatez das previsões. Vale a pena notar, no entanto, que este tipo de argumento é atreito a usos abusivo s. Se não concordamos com alguma coisa, mas não temos qualquer argumento bom contra ela, podemos sempre fazer uma previsão sobre as suas possíveis consequências; por mais implausível que a previsão seja, ninguém pode provar que esteja errada. Este método pode
- 17. ser utilizado para contestar quase tudo. Essa 26 é a razão pela qual os argumentos deste tipo devem ser abordados com cuidado. 1.5 Razão e imparcialidade O que se pode aprender com tudo isto sobre a natureza da moral? Para começar, pode mos tomar nota de dois aspectos principais: primeiro, os juízos morais têm de se apoiar em boas razões; segundo, a moral implica a consideração imparcial dos interesses de cada indivíd uo. Raciocínio moral. Os casos da bebé Teresa, Jodie e Mary e Tracy Latimer, bem como muitos outros que serão discutidos neste livro, podem despertar sentimentos fortes . Estes sentimentos são frequentemente sinal de seriedade moral e podem, pois, ser objecto de admiração. Mas podem também ser um obstáculo à descoberta da verdade: quando temos sentimentos fortes relativamente a uma questão, é tentador pressupor que sabemos pur a e simplesmente o que a verdade não pode deixar de ser, sem mesmo termos de tomar em consideração os argumentos do lado contrário. Infelizmente, não podemos confiar nos nossos sentimentos, por mais fortes que sejam. Os nossos sentimentos podem ser i rracionais: podem não ser mais do que resultados de preconceito, egoísmo ou condicionamento cultural. (Numa dada altura, os sentimentos das pessoas diziam-lhes, por exemplo , que os membros de outras raças eram inferiores e que a escravatura fazia parte do próprio p lano divino das coisas.) Além disso, os sentimentos de pessoas diferentes dizem-lhes frequentemente coisas opostas: no caso de Tracy Latimer, o sentimento forte de a lgumas pessoas é que o seu pai devia ter sido condenado a uma pena longa, enquanto outras têm o sentimento igualmente forte de que ele nunca devia ter sido acusado. Estes senti mentos não podem, no entanto, estar ambos correctos. 27 Assim, se queremos descobrir a verdade, temos de tentar deixar que os nossos sen timentos sejam guiados, tanto quanto possível, pelos argumentos que se podem fornecer a fav or de cada uma das perspectivas opostas. A moralidade é, antes de mais e acima de tudo, uma questão de aconselhamento racional. Em qualquer circunstância dada, a acção moralmente correcta é aquela a favor da qual existirem melhores razões. Este não é um aspecto de somenos importância sobre uma pequena gama de perspectivas morais; é um requisito lógico geral que tem de ser aceite por qualquer pessoa,
- 18. independentemente do seu posicionamento sobre qualquer questão moral em particular . A ideia fundamental pode enunciar-se de forma simples. Suponha-se que se afirma qu e alguém devia fazer isto ou aquilo (ou que fazer isto ou aquilo seria errado). Pode-se l egitimamente perguntar por que motivo se deve fazê-lo (ou por que razão seria errado fazê-lo), e se não se puder dar qualquer boa razão, pode-se rejeitar o conselho como arbitrário ou infu ndado. Neste aspecto, os juízos morais são diferentes das expressões de gosto pessoal. Se alg uém afirma "eu gosto de café", não necessita ter uma razão para tal - está meramente a decla rar um facto sobre si mesmo, nada mais do que isso. Uma "defesa racional" do facto d e gostar ou não de café é algo que não existe, não havendo por isso discussão possível do caso. Desde que uma pessoa esteja a dar conta dos seus gostos de forma precisa, o que diz tem de ser verdade. Além do mais, não há nisso qualquer implicação de que as outras pessoas tenham de ter o mesmo gosto; se todas as outras pessoas do mundo detestarem café, isso não importa. Por outro lado, se alguém afirma que algo é moralmente errado, necessita ter razões para tal, e se as suas razões forem sólidas, as outras pessoas têm de reconhecer a sua força. Pela mesma lógica, se não tiver boas razões para o que diz, está simplesmente a produzir ruídos e não vale a pena dar-lhe atenção. 28 Naturalmente, nem todas as razões passíveis de ser apresentadas são boas razões. Há bons e maus argumentos, e muita da perícia do pensamento moral consiste em saber distingu ir uns de outros. Mas como podemos reconhecer as diferenças? Como devemos proceder para avaliar argumentos? Os exemplos que analisámos ilustram alguns aspectos pertinente s. A primeira coisa a fazer é entender com clareza os factos. E frequente isto não ser tão fácil como parece. Uma fonte de problemas relaciona-se com a dificuldade que por vezes existe em estabelecer os "factos" - as questões podem ser tão complexas e difíceis que nem mesmo os especialistas concordam entre si. Outro problema é o preconceito humano. É frequente querer acreditar numa versão dos factos por apoiar os nossos preconceito s. Os que reprovam a acção de Robert Latimer, por exemplo, quererão acreditar nas previsões do argumento da derrapagem; os que o compreendem não vão querer acreditar nessas previsões. É fácil imaginar outros exemplos do mesmo género: pessoas que não querem dar dinheiro para a caridade consideram com frequência que as organizações de caridade são esbanjadoras, mesmo quando não têm grandes provas disso; e as pessoas que não gostam d e homossexuais afirmam que a comunidade gay inclui um número desmesurado de pedófilos, apesar das provas em contrário. Mas os factos existem independentemente dos nossos
- 19. desejos, e o pensamento moral responsável começa quando tentamos ver as coisas como elas são. Depois de os factos terem sido estabelecidos tão bem quanto possível, os princípios mo rais entram em jogo. Nos nossos três exemplos estavam envolvidos um conjunto de princípio s: que não devemos "usar" as pessoas; que não devemos matar uma pessoa para salvar outr a; que devemos fazer o que beneficie as pessoas afectadas pelas nossas acções; que toda a vida é sagrada; e que é errado discriminar os deficientes. A maioria dos argumentos morai s 29 consiste na aplicação de princípios aos factos de casos particulares, e por isso o que importa saber é se os princípios são sólidos e se estão a ser aplicados de forma inteligente. Seria bom se houvesse uma receita simples para construir bons argumentos e evita r os maus. Infelizmente, não há um método simples. Os argumentos podem falhar de diversas maneira s, como se torna evidente pela diversidade de argumentos sobre os bebés deficientes; e devemos estar sempre atentos à possibilidade de novas complicações e novas formas de erro. Mas isso não é surpreendente. A aplicação mecânica de métodos rotineiros nunca é um substituto satisfatório para a inteligência crítica, seja em que área for. O pensamento moral não é excepção. O requisito de imparcialidade. Praticamente todas as teorias morais importantes incluem a ideia de imparcialidade. A ideia básica consiste em considerar os interesses de ca da indivíduo como igualmente importantes; do ponto de vista moral, não há pessoas privilegiadas. Portanto, cada um de nós tem de reconhecer que o bem-estar dos outros é tão importante como o nosso. Ao mesmo tempo, a exigência de imparcialidade elimina qualquer esque ma que trate os membros de determinados grupos como de certa forma inferiores, como os negros, os judeus e outros foram por vezes tratados. O requisito de imparcialidade está estreitamente ligado à ideia de que os juízos morai s têm de ser apoiados em boas razões. Considere-se a posição de um racista branco, por exemp lo, que defende ser correcto que os empregos melhores sejam reservados para as pesso as brancas. Ele sente-se bem com uma situação na qual os executivos das principais empr esas e os responsáveis do governo, entre outros, são brancos, enquanto os negros ficam restringidos a tarefas sobretudo subalternas; ele apoia ainda as disposições sociais por meio das quais esta situação se perpetua. Podemos agora perguntar pelas razões para isto;
- 20. podemos 30 perguntar por que motivo se pensa que isto está certo. Haverá alguma coisa nos branc os que os torne mais adequados para os cargos mais bem pagos e mais prestigiados? Serão e les inerentemente mais inteligentes ou mais empreendedores? Será que se importam mais consigo mesmos e com as suas famílias? Serão capazes de beneficiar mais por terem ta is cargos à sua disposição? Em cada um destes casos a resposta parece ser não; e se não houver qualquer boa razão para tratar as pessoas de maneira diferente, a discrimin ação é inaceitavelmente arbitrária. O requisito de imparcialidade não é, pois, mais do que uma condenação da arbitrariedade no tratamento das pessoas. É uma regra que nos proíbe de tratar uma pessoa de forma dif erente de outra quando não há uma boa razão para o fazer. Mas se isto explica o que está errado no racismo, explica igualmente por que razão em alguns casos especiais não é racista t ratar as pessoas de maneira diferente. Suponha-se que um realizador de cinema estava a fazer um filme sobre a vida de Martin Luther King, Jr. Teria uma razão muito boa para não rec rutar Tom Cruise para o papel de protagonista. É claro que a escolha deste actor não faria sentido. Por haver uma boa razão para isso, a "discriminação" do realizador não seria arbitrária, não sendo por isso vulnerável a críticas. 1.6 A concepção mínima de moralidade A concepção mínima pode agora ser apresentada de forma breve: a moralidade é, pelo menos, o esforço para orientar a nossa conduta pela razão - isto é, para fazer aquilo a favor do qual existem melhores razões - dando simultaneamente a mesma importância ao s interesses de cada indivíduo que será afectado por aquilo que fazemos. Isto oferece, entre outras coisas, uma imagem do que significa ser um agente mor al consciente. O agente moral 31 consciencioso é alguém preocupado imparcialmente com os interesses de quantos são afectados por aquilo que ele, ou ela, fazem; alguém que cuidadosamente filtra os f actos e examina as suas implicações; que aceita princípios de conduta somente depois de os examinar, para ter a certeza de que são sólidos; que está disposto a "dar ouvidos à razão" mesmo quando isso significa ter de rever convicções prévias; alguém que, por fim, está disposto a agir com base nos resultados da sua deliberação. É claro que, como seria de esperar, nem todas as teorias éticas aceitam este "mínimo".
- 21. Como teremos oportunidade de ver, este retrato do agente moral tem sido posto em causa de várias maneiras. No entanto, as teorias que rejeitam a concepção mínima debatem-se co m sérias dificuldades. A maioria dos filósofos apercebeu-se disto, e por isso a maior parte das teorias da moralidade incorpora, de uma forma ou outra, a concepção mínima. Não discordam sobre o mínimo mas sobre como poderemos alargá-lo, ou talvez modificá-lo, de maneira a alcançar uma concepção moral inteiramente satisfatória. 32 Capítulo 2 O desafio do relativismo cultural A moralidade varia em todas as sociedades, e é apenas um termo cómodo para os hábitos que uma sociedade aprova. RUTH BENEDICT, Padrões de Cultura (1934) 2.1 Culturas diferentes têm códigos morais diferentes Dário, um rei da antiga Pérsia, ficou intrigado com a diversidade de culturas que en controu nas suas viagens. Tinha descoberto, por exemplo, que os calatinos (uma tribo de indianos) tinham o hábito de comer os cadáveres dos pais. Os Gregos, é claro, não faziam isso - cremavam os mortos e encaravam a pira funerária como a forma natural e adequada de dispor dos mortos. Dário pensava que uma maneira sofisticada de entender o mundo t em de incluir uma avaliação deste tipo de diferenças entre culturas. Um dia, para ensinar es ta lição, convocou alguns gregos que por acaso estavam na sua corte e perguntou-lhes quant o queriam para comer os cadáveres dos seus pais. Eles ficaram 33 chocados, como Dário sabia que ficariam, e responderam que nenhuma quantia os pode ria persuadir a fazer tal coisa. Dário chamou então alguns calatinos e, na presença dos gr egos, perguntou-lhes quanto queriam para queimar os cadáveres dos seus pais. Os calatino s ficaram horrorizados e disseram a Dário para nem sequer referir uma coisa tão horrível . Esta história, relatada por Heródoto na sua História, ilustra um tema recorrente na bibliografia das ciências sociais: culturas diferentes têm códigos morais diferentes. O que se pensa ser correcto num grupo pode ser inteiramente odioso para os membros de out ro grupo e vice-versa. Devemos comer os corpos dos mortos ou queimá-los? Se fôssemos gregos, uma das respostas pareceria obviamente correcta; mas se fôssemos calatinos
- 22. a resposta contrária pareceria igualmente certa. É fácil dar outros exemplos do mesmo género. Pense-se nos esquimós (entre os quais o grupo mais vasto é o inuíte). São um povo remoto e inacessível. Com uma população de apenas cerca de vinte e cinco mil pessoas, vivem em povoados espalhados sobretud o ao longo da orla da América do Norte e da Gronelândia. Até ao começo do século xx, o mundo exterior pouco sabia a seu respeito. Os exploradores começaram então a trazer consig o histórias estranhas. Os costumes esquimós revelaram-se muito diferentes dos nossos. Os homens tinham com frequência mais de uma mulher, e partilhavam-na com os convidado s, concedendo-as para passar a noite em sinal de hospitalidade. Além disso, no seio d e uma comunidade um homem dominante podia exigir e obter acesso sexual regular às esposa s de outros homens. As mulheres, no entanto, podiam quebrar estes acordos abandonando pura e simplesmente os maridos e ligando-se a novos companheiros - podiam, isto é, desde que os seus antigos maridos decidissem não causar sarilhos. Tudo somado, a prática esquimó er a um esquema volátil em quase nada semelhante àquilo a que chamamos casamento. 34 Mas não eram apenas os seus casamentos e práticas sexuais que eram diferentes. Os esquimós pareciam igualmente ter menos respeito pela vida humana. O infanticídio, po r exemplo, era comum. Knud Rasmussen, um dos mais famosos de entre os primeiros exploradores, relatou o seu encontro com uma mulher que tinha dado à luz vinte cri anças mas tinha morto dez delas à nascença. As bebés do sexo feminino, descobriu Rasmussen, eram especialmente susceptíveis de ser aniquiladas, e isto era deixado simplesment e à decisão dos pais, sem que tal acarretasse qualquer estigma social. Também os idosos, quando se tornavam demasiado fracos para ajudar a família, eram deixados ao frio e à neve para morrer. Parecia pois haver, nesta sociedade, muito pouco respeito pela vida . Para o público em geral estas eram revelações perturbadoras. O nosso próprio modo de vid a parece tão natural e correcto que para muitos de nós é difícil conceber outras pessoas a viver de modo tão diverso. E quando ouvimos falar de tais coisas, tendemos imediat amente a categorizar as outras pessoas como "retrógradas" ou "primitivas". Mas para os antropólogos nada havia de particularmente surpreendente nos esquimós. Desde o tempo de Heródoto que os observadores mais perspicazes se acostumaram à ideia de que as concepções de certo e errado diferem de cultura para cultura. Se partimos do princípio de que as nossas ideias éticas serão partilhadas por todos os povos em todos os tempos,
- 23. estamos apenas a ser ingénuos. 2.2 Relativismo cultural Esta observação - "culturas diferentes têm códigos morais diferentes" - pareceu a muitos pensadores ser a chave para compreender a moralidade. A ideia de verdade univers al em ética, afirmam, é um mito. Tudo quanto existe são os costumes de sociedades diferentes . Não se pode 35 dizer que estes costumes estão "correctos" ou "incorrectos", pois isso implicaria ter um padrão independente de certo e errado pelo qual poderíamos julgá-los. Mas tal padrão não existe; todos os padrões são determinados por uma cultura. O grande pioneiro da soci ologia, William Graham Sumner, em 1906, colocou a questão assim: A maneira "certa" é a maneira que os antepassados utilizavam e nos foi transmitida . A tradição é a sua própria garantia. Não está submetida à verificação pela experiência. A noção do que é cer nos hábitos do povo. Não reside além deles, não provém de origem independente, para os pôr à prova. O que estiver nos hábitos populares, seja o que for, está certo. Isto é assim p orque são tradicionais, e por isso contêm em si a autoridade dos espíritos ancestrais. Quando abordamos os hábitos populares a nossa análise chega ao fim. Esta linha de pensamento persuadiu provavelmente mais pessoas a serem cépticas sob re ética que qualquer outra coisa. O relativismo cultural, como tem sido chamado, des afia a nossa crença habitual na objectividade e universalidade da verdade moral. Afirma, com efeito, que não existe verdade universal em ética; existem apenas os vários códigos mora is e nada mais. Além disso, o nosso próprio código moral não tem um estatuto especial; é apenas um entre muitos. Como veremos, esta ideia de base é na realidade um conjunto de vári os pensamentos diferentes. É importante separar os vários elementos da teoria porque, d urante a análise, algumas partes revelam-se correctas enquanto outras parecem estar errad as. Para começar, podemos distinguir as seguintes afirmações, todas elas apresentadas por relativistas culturais: 1. Sociedades diferentes têm códigos morais diferentes; 2. O código moral de uma sociedade determina o que é correcto no seio dessa sociedad e, isto é, se o código 36
- 24. moral de uma sociedade afirma que certa acção é correcta, então essa acção é correcta, pelo menos nessa sociedade; 3. Não há qualquer padrão objectivo que se possa usar para ajuizar um código social como melhor do que outro; 4. O código moral da nossa própria sociedade não tem estatuto especial, é apenas um entr e muitos; 5. Não há uma "verdade universal" em ética, isto é, não há verdades morais aceites por todos os povos em todos os tempos; 6. E mera arrogância nossa tentar julgar a conduta de outros povos. Deveríamos adopt ar uma atitude de tolerância face às práticas de outras culturas. Apesar de poder parecer que estas seis proposições fazem naturalmente parte de um to do, são independentes umas das outras, na medida em que algumas podem ser falsas ainda que outras sejam verdadeiras. Nos pontos seguintes vamos tentar identificar o que es tá correcto no relativismo cultural, mas vamos também denunciar o que está errado. 2.3 O argumento das diferenças culturais O relativismo cultural é uma teoria sobre a natureza da moralidade. À primeira vista parece bastante plausível. No entanto, como todas as teorias do género, pode ser avaliada m ediante análise racional; e quando analisamos o relativismo cultural, descobrimos que não é tão plausível como inicialmente parecia ser. A primeira coisa que precisamos fazer notar é que no âmago do relativismo cultural e stá uma certa forma de argumento. A estratégia usada pelos relativistas culturais é 37 argumentar a partir de factos sobre as diferenças entre perspectivas culturais a f avor de uma conclusão sobre o estatuto da moralidade. Convidam-nos, assim, a aceitar este raci ocínio: 1. Os Gregos acreditavam que comer os mortos estava errado, enquanto os Calatino s acreditavam que comer os mortos estava certo; 2. Logo, comer os mortos não é objectivamente certo nem objectivamente errado. É apena s uma questão de opinião que varia de cultura para cultura.
- 25. Ou, alternativamente: 1. Os esquimós nada vêem de errado no infanticídio, enquanto os americanos pensam que o infanticídio é imoral; 2. Logo, o infanticídio não é objectivamente certo nem objectivamente errado. É apenas uma questão de opinião, que varia de cultura para cultura. Estes argumentos são claramente variações de uma ideia fundamental. São ambos casos especiais de um argumento mais geral, que afirma: 1. Culturas diferentes têm códigos morais diferentes; 2. Logo, não há uma "verdade" objectiva na moralidade. Certo e errado são apenas questões de opinião e as opiniões variam de cultura para cultura. Podemos chamar a isto o argumento das diferenças culturais. Para muitas pessoas é persuasivo. Mas, de um ponto de vista lógico, será sólido? Não é sólido. O problema é que a conclusão não se segue da premissa - isto é, mesmo que a premissa seja 38 verdadeira a conclusão pode continuar a ser falsa. A premissa diz respeito àquilo em que as pessoas acreditam - em algumas sociedades as pessoas acreditam numa coisa; noutr as sociedades acreditam noutra. A conclusão, no entanto, diz respeito ao que na verda de se passa. O problema é que este tipo de conclusão não se segue logicamente deste tipo de premissa. Considere-se de novo o exemplo dos gregos e dos calatinos. Os gregos acreditavam que é errado comer os mortos; os calatinos acreditavam que é correcto. Será que daqui se entende, do simples facto de não estarem de acordo, que não existe verdade objectiva no caso? Não, não se entende; pois poderia acontecer que a prática fosse objectivamente c erta (ou errada) e que uma ou outra das posições estivesse simplesmente errada. Para tornar este aspecto mais claro, considere-se um tema diferente. Em algumas sociedades as pessoas acreditam que a Terra é plana. Noutras sociedades, como a nossa, as pes soas acreditam que a Terra é (aproximadamente) esférica. Segue-se daqui, do mero facto de as pessoas discordarem, que não há "verdade objectiva" em geografia? Claro que não; nunca chegaríamos a tal conclusão porque percebemos que, nas suas crenças sobre o mundo, os membros de algumas sociedades podem simplesmente estar errados. Não há qualquer razão para pensar que se o mundo é redondo, todos têm de saber disso. Da mesma maneira, não há qualquer razão para pensar que se existe uma verdade moral, todos têm de conhecê-la. O erro fundamental no argumento das diferenças culturais é que tenta derivar uma concl usão
- 26. substancial sobre um tema partindo do mero facto de as pessoas discordarem a seu respeito. Trata-se, até agora, de uma simples questão lógica e é importante não a interpretar erradamente. Não estamos a dizer (ainda não, pelo menos) que a conclusão do argumento é falsa. Isso é ainda uma questão em aberto. O objectivo do reparo lógico é apenas fazer n otar que a conclusão 39 não se segue da premissa. Isto é importante, porque para determinar se a conclusão é verdadeira necessitamos de argumentos para a apoiar. O relativismo cultural propõe este argumento, que infelizmente se revela falacioso. Portanto, não prova nada. 2.4 As consequências de levar a sério o relativismo cultural Mesmo que o argumento das diferenças culturais seja falso, o relativismo cultural pode ser verdadeiro. Como seria se fosse verdadeiro? Na passagem citada, William Graham Sumner resume a essência do relativismo cultura l. Sumner afirma que não há uma medida de certo e errado, além dos padrões de uma sociedade: "A noção de certo está nos hábitos da população. Não reside além deles, não provém de origem independente, para os pôr à prova. O que estiver nos hábitos populares, seja o que for, está certo." Suponha que tomávamos isto a sério. Quais seriam algumas das consequências? 1. Deixaríamos de poder afirmar que os costumes de outras sociedades são moralmente inferiores aos nossos. Isto, é claro, é um dos principais aspectos sublinhados pelo relativismo cultural. Teríamos de deixar de condenar outras sociedades simplesment e por serem "diferentes". Enquanto nos concentrarmos apenas em certos exemplos, como a s práticas funerárias dos gregos e calatinos, isto pode parecer uma atitude sofisticad a e esclarecida. No entanto, seríamos também impedidos de criticar outras práticas menos benignas. Imag ine que uma sociedade declarava guerra aos seus vizinhos com o intuito de fazer escr avos. Ou suponha que uma sociedade era violentamente anti-semita e os seus líderes se propu nham destruir os judeus. O relativismo cultural iria impedir-nos de 40 dizer que qualquer destas práticas estava errada. (Nem sequer poderíamos dizer que u ma sociedade tolerante em relação aos judeus é melhor que uma sociedade anti-semita, pois
- 27. isso implicaria um tipo qualquer de padrão transcultural de comparação.) A incapacidade de condenar estas práticas não parece muito esclarecida; pelo contrário, a escravatura e o anti- semitismo afiguram-se erradas onde quer que ocorram. No entanto, se tomássemos a sér io o relativismo cultural teríamos de encarar estas práticas sociais como algo imune à crític a; 2. Poderíamos decidir se as acções são certas ou erradas pela simples consulta dos padrões da nossa sociedade. O relativismo cultural propõe uma maneira simples para determinar o que está certo e o que está errado: tudo o que necessitamos é perguntar s e a acção está de acordo com os códigos da nossa sociedade. Suponhamos que em 1975 um residente da África do Sul se perguntava se a política de apartheid do seu país - um sistema rigidamente racista - era moralmente correcta. Tudo o que teria que faze r era perguntar se esta política se conformava com o código moral da sua sociedade. Em cas o de resposta afirmativa, não haveria motivos de preocupação, pelo menos do ponto de vista moral. Esta implicação do relativismo cultural é perturbadora porque poucos de nós pensam que o código moral da nossa sociedade é perfeito - não é difícil pensar em várias maneiras de a aperfeiçoar. No entanto, o relativismo cultural não se limita a impedir-nos de criti car os códigos de outras sociedades; não nos permite igualmente criticar a nossa. Afinal de contas, se certo e errado são relativos à cultura, isto tem de ser verdade tanto relativamen te à nossa própria cultura como relativamente às outras; 3. A ideia de progresso moral é posta em dúvida. Pensamos habitualmente que pelo men os algumas das mudanças sociais são melhorias. (Apesar de, naturalmente, outras mudanças poderem piorar as coisas.) Ao longo da maior 41 parte da história ocidental o lugar das mulheres na sociedade esteve severamente circunscrita. Não podiam ter bens; não podiam votar; e estavam em geral sob o contro lo quase absoluto dos seus maridos. Recentemente, muitas destas coisas mudaram, e a maioria das pessoas pensa que isto é um progresso. Mas se o relativismo cultural estiver correcto, poderemos legitimamente pensar q ue é um progresso? Progresso significa substituir uma maneira de fazer as coisas por uma maneira melhor. Mas qual o padrão pelo qual avaliamos estas novas maneiras como melhores? Se as velhas maneiras estavam de acordo com os padrões culturais do seu tempo, então o relativismo cultural diria que é um erro julgá-las pelos padrões de uma época diferente. A sociedade do século xvm era diferente da que temos agora. Afirmar que fizemos prog
- 28. ressos implica o juízo de que a sociedade de hoje é melhor, e isso é justamente o tipo de juízo transcultural que, segundo o relativismo cultural, é impossível. A nossa concepção de reforma social terá igualmente de ser reconsiderada. Reformadores como Martin Luther King, Jr. tentaram mudar as suas sociedades para melhor. Obed ecendo aos constrangimentos impostos pelo relativismo cultural há uma maneira de poder fa zer isto. Se uma sociedade não está a viver de acordo com os seus ideais, pode considerar-se q ue o reformador está a agir bem; os ideais da sociedade são os padrões pelos quais julgamos o mérito das suas propostas. Mas ninguém pode contestar os ideais em si, pois esses id eais são por definição correctos. Portanto, segundo o relativismo cultural, a ideia de reform a social só faz sentido desta maneira limitada. Estas três consequências do relativismo cultural levaram muitos pensadores a rejeitá-l o frontalmente como implausível. Faz realmente sentido, afirmam, condenar certas práti cas, como a escravatura, onde quer que ocorram. Faz sentido pensar que a nossa própria sociedade fez algum progresso cultural, embora deva admitir-se, simultaneamente, que é ainda imp erfeita e necessita de reformas. Uma vez que o relativismo cultural supõe, prossegue o argum ento, que estes juízos não fazem sentido, não pode estar correcto. 2.5 Por que razão há menos diferenças do que parece O ímpeto original do relativismo cultural resulta da observação de que as culturas dif erem de forma dramática nas suas perspectivas do que é certo e errado. Mas até que ponto difer em realmente? É verdade que há diferenças. No entanto, é fácil sobrevalorizar a dimensão dessas diferenças. Quando examinamos o que parece uma diferença drástica, descobrimos com frequência que as culturas não diferem tanto quanto parece. Imagine-se uma cultura na qual as pessoas acreditam ser errado comer vacas. Pode até ser uma cultura pobre, na qual não há comida suficiente; mesmo assim, as vacas são intocávei s. Tal sociedade pareceria ter valores muito diferentes dos nossos. Mas será que tem? Ainda não perguntámos a razão pela qual estas pessoas se recusam a comer vacas. Suponha-se q ue é por acreditarem que depois da morte as almas dos seres humanos habitam os corpos dos animais, especialmente das vacas, podendo uma vaca ser a alma da avó de alguém. Vamo s continuar a dizer que os valores deles são diferentes dos nossos? Não; a diferença está noutro lado. A diferença reside nos nossos sistemas de crenças, e não nos nossos valor es. Concordamos que não devemos comer a nossa avó; limitamo-nos a discordar sobre se a vaca é (ou poderia ser) a nossa avó.
- 29. O que se pretende mostrar é que os costumes de uma sociedade são o produto de muitos factores interligados. Os valores sociais são apenas um deles. Outras questões, 42 43 como as crenças religiosas e factuais dos seus membros, bem como as circunstâncias fís icas nas quais têm de viver, são igualmente importantes. Não podemos, portanto, concluir qu e há um desacordo quanto aos valores, só porque os costumes diferem. Pode, pois, haver menos desacordo quanto aos valores do que parece. Pensemos mais uma vez nos esquimós, que frequentemente matam crianças perfeitamente normais, especialmente raparigas. Não aprovamos tais coisas; na nossa sociedade um pai que tivesse morto uma criança seria preso. Parece, pois, haver uma grande diferença nos valores das nossas duas culturas. Mas imaginemos que perguntamos a razão pela qual os esquimós fazem isso. A explicação não é eles terem menos afecto pelos seus filhos ou menos respeito pela vida humana. Uma família esquimó protegerá sempre os seus filhos se as condições o permitirem. Mas eles vivem num meio extremamente duro, onde a comida escasseia. Um postulado fundamental do pensamento esquimó é: "A vida é dura e a margem de manobra pequena." Uma família pode querer alimentar os filhos mas não poder fazê-lo . Como em muitas outras culturas "primitivas", as mães esquimó alimentam os seus filho s durante um período de tempo muito mais longo do que as mães da nossa cultura. A cria nça é alimentada ao peito da mãe durante quatro anos, por vezes mais. Por isso, mesmo na s melhores épocas, há limites para o número de filhos que uma mãe pode manter. Além disso, os esquimós são um povo nómada - impossibilitados de se dedicarem à agricultura, têm de viajar em busca de comida. As crianças têm de ser transportadas ao colo, e uma mãe só pode levar um bebé na sua parca enquanto viaja ou realiza as tarefas diárias. Os out ros membros da família ajudam como podem. Os bebés do sexo feminino são mais prontamente rejeitados porque, primeiro, nesta sociedade os homens são os principais fornecedores de comida - são eles os caçadores, de acordo com a divisão tradicional do trabalho - e 44 torna-se obviamente importante manter um número suficiente de fornecedores de comi da.
- 30. Mas há igualmente uma segunda razão importante. Uma vez que a taxa de mortalidade do s caçadores é elevada, o número de homens adultos que morrem prematuramente ultrapassa em muito o das mulheres que morrem cedo. Assim, se os bebés masculinos e femininos sobrevivessem em números iguais, a população feminina adulta ultrapassaria em muito a população masculina. Examinando as estatísticas, um autor concluiu que "se não fosse o infanticídio de crianças do sexo feminino [...] haveria, nos grupos de esquimós, aproximadamente uma vez e meia mais mulheres do que homens produtores de comida" . Portanto, entre os esquimós, o infanticídio não é sinal de uma atitude fundamentalmente diferente perante as crianças. É, pelo contrário, um reconhecimento de que por vezes são necessárias medidas drásticas para assegurar a sobrevivência da família. Apesar disso, m atar a criança não é a primeira opção. A adopção é comum; os casais sem filhos ficam especialmente felizes por encarregar-se dos "excedentes" dos casais mais férteis. Matar é apenas o último recurso. Sublinho isto para mostrar que os dados em bruto dos antropólogos podem induzir em erro; podem fazer as diferenças entre culturas parecer maiores do que são. Os valores dos esquimós não são de modo algum diferentes dos nossos. Acontece apenas que a vida os obriga a escolhas que nós não temos de fazer. 2.6 Como todas as culturas têm alguns valores em comum Não deveria surpreender que, apesar das aparências, os esquimós protejam as suas criança s. Como poderia ser de outra maneira? Como poderia sobreviver um grupo que não valorizasse as suas crianças? É fácil de ver que, de 45 facto, todos os grupos culturais têm de proteger as suas crianças. Os bebés são indefeso s e não podem sobreviver se não forem acarinhados durante anos. Portanto, se um grupo não cuidasse das suas crianças, elas não sobreviveriam e ninguém tomaria o lugar dos membr os mais velhos do grupo. Passado algum tempo, o grupo extinguir-se-ia. Isto signifi ca que qualquer grupo cultural que continue a existir tem de cuidar das suas crianças. As crianças que não são acarinhadas têm de ser a excepção e não a regra. Um raciocínio semelhante mostra que há outros valores que têm de ser mais ou menos universais. Imagine-se o que seria de uma sociedade que não valorizasse a verdade. Quando uma pessoa falasse com outra, não poderia partir-se do princípio de que estaria a di zer a verdade, pois poderia facilmente estar a mentir. Nessa sociedade não haveria qualq uer motivo para dar atenção ao que os outros dizem. (Pergunto que horas são e alguém responde "quatro horas". Mas não posso presumir que a pessoa está a dizer a verdade; poderia facilmente ter dito a primeira coisa que lhe tivesse passado pela cabeça.
- 31. Não tenho, pois, qualquer razão para dar atenção à sua resposta. De facto, não faz qualquer sentido t er- lhe sequer perguntado.) A comunicação seria então extremamente difícil, se não mesmo impossível. E uma vez que as sociedades complexas não podem existir sem comunicação entre os seus membros, a vida em sociedade tornar-se-ia impossível. Daqui se concl ui que em qualquer sociedade complexa tem de haver uma presunção em favor da boa-fé. Pode, naturalmente, haver excepções a esta regra: pode haver situações nas quais se considere permissível mentir. No entanto, estas serão excepções a uma regra que está em vigor na sociedade. Eis mais um exemplo do mesmo género: Poderia existir uma sociedade na qual não houve sse a proibição do homicídio? Como seria? Suponhamos que as pessoas eram livres de matar outras pessoas, e ninguém pensava haver 46 algo de mal nisso. Numa tal "sociedade" ninguém poderia sentir-se seguro. Todos te riam de estar permanentemente em guarda. Aqueles que quisessem sobreviver teriam de evit ar outras pessoas tanto quanto possível. Isto acabaria por levar os indivíduos a tentar em tornar-se tão auto-suficientes quanto possível - afinal de contas, a associação com outr os seria perigosa. A sociedade a uma escala mais lata ruiria. As pessoas poderiam, naturalmente, unir-se em grupos mais pequenos com outras em que pudessem confiar . Mas repare-se no significado disto: estariam a formar sociedades mais pequenas nas q uais seria de facto aceite uma regra contra o homicídio. A proibição do assassínio é, pois, uma característica de todas as sociedades. Há aqui urna conclusão teórica geral, a saber, há algumas regras morais que todas as sociedades têm em comum, pois essas regras são necessárias para a sociedade poder existir. As regras contra a mentira e o homicídio são dois exemplos disso, pois, de facto, encontramos estas regras instituídas em todas as culturas viáveis. As culturas podem diferir relativamente aos que encaram como excepções legítimas às regras, mas esta discordância existe contra um acordo de fundo nas questões fundamentais. Logo, é um erro sobresti mar as diferenças entre culturas. Nem todas as regras morais podem variar de sociedade para sociedade. 2.7 A avaliação de práticas culturais indesejáveis Em 1966, uma rapariga de dezassete anos chamada Fauziya Kassindja chegou ao Aero porto Internacional de Newark e pediu asilo. Tinha fugido do seu país natal, o Togo, peq uena nação do oeste africano, para escapar ao que ali as pessoas chamam "excisão". A excisão é uma intervenção desfiguradora por vezes chamada "circuncisão feminina", embora tenha poucas semelhanças com essa prática
- 32. 47 judaica. É mais frequentemente referida, pelo menos nos jornais de países ocidentais , como "mutilação genital feminina". De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a prática está disseminada por vinte e seis países africanos, sendo em cada ano objecto de "excisão" dois milhões de raparigas. Nalguns casos a excisão é parte de um elaborado ritual tribal, realizado em pequenas aldeias tradicionais, e as raparigas anseiam submeter-se a ele porque isso assinala a su a aceitação no mundo adulto. Noutros casos, a prática é realizada por famílias citadinas em jovens qu e lhe resistem desesperadamente. Fauziya Kassindja era a mais jovem de cinco filhas de uma família muçulmana devota. O seu pai, proprietário de uma bem sucedida empresa de camionagem, opunha-se à excisão, e ti nha a capacidade de se opor à tradição por causa da sua riqueza. As suas primeiras quatro filhas casaram sem ser mutiladas. Mas quando Fauziya tinha dezasseis anos, ele morreu subitamente. Fauziya ficou então sob tutela do avô, que ajustou para ela um casament o e se preparava para a submeter à excisão. Fauziya ficou aterrorizada e a mãe e a irmã mais ve lha ajudaram-na a fugir. A mãe, tendo ficado sem recursos, teve de pedir desculpas for mais e submeter-se à autoridade do patriarca que ofendeu. Entretanto, na América, Fauziya foi detida durante dois anos enquanto as autoridad es decidiam o que fazer. Por fim foi-lhe concedido asilo, mas não sem antes se tornar o centro de uma controvérsia sobre a forma como devemos encarar as práticas culturais de outr os povos. Uma série de artigos no New York Times favoreceu a ideia de que a excisão é uma prática bárbara merecedora de condenação. Outros observadores mostraram-se relutantes em ser tão peremptórios - vive e deixa viver, afirmaram; afinal de contas, é provável a nossa cultura parecer igualmente estranha para eles. Vamos supor que estamos inclinados a afirmar que a excisão é má. Estaríamos nós apenas a impor os padrões da nossa própria cultura? Se o relativismo cultural estiver 48 correcto, isso é tudo quanto podemos fazer, pois não há um padrão culturalmente neutro a que possamos apelar. Mas, será isto verdade? Haverá um padrão culturalmente neutro de certo e errado? Há naturalmente muito que diz er contra a excisão. É dolorosa e tem como resultado a perda permanente do prazer sexua l. Os
- 33. seus efeitos, a curto prazo, incluem hemorragias, tétano e septicemia. Por vezes, a mulher morre. Os efeitos de longo prazo incluem infecção crónica, cicatrizes que dificultam a marcha e dores contínuas. Qual é, pois, o motivo pelo qual se tornou uma prática social tão alargada? Não é fácil responder. A excisão não tem benefícios sociais aparentes. Ao contrário do infanticídio en tre os esquimós, não é necessária à sobrevivência do grupo. Nem é uma questão religiosa. A excisão é praticada por grupos de várias religiões, entre elas o islamismo e o cristiani smo, nenhuma das quais a recomenda. Apesar disso, aduzem-se em sua defesa uma série de razões. As mulheres incapazes de prazer sexual são supostamente menos propensas à promiscuidade; assim, haverá menos gravidezes indesejadas em mulheres solteiras. Acresce que as esposas, para quem o sexo é apenas um dever, têm menor probabilidade de ser infiéis aos maridos; e uma vez que não irão pensar em sexo, estarão mais atentas às necessidades dos maridos e filhos. Pensa- se, por outro lado, que os maridos apreciam mais o sexo com mulheres que foram objec to de excisão. (A falta de prazer sexual das mulheres é considerada irrelevante.) Os homen s não querem mulheres que não foram objecto de excisão por serem impuras e imaturas. E, ac ima de tudo, é uma prática realizada desde tempos imemoriais, e não podemos alterar os costumes antigos. Seria fácil, e talvez um pouco arrogante, ridicularizar estes argumentos. Mas pode mos fazer notar uma característica importante de toda esta linha de raciocínio: tenta justific ar a excisão mostrando que é benéfica - homens, 49 mulheres e respectivas famílias são alegadamente beneficiados quando as mulheres são objecto de excisão. Poderíamos, pois, abordar este raciocínio, e a excisão em si, perguntando até que ponto isto é verdade: será a excisão, no todo, benéfica ou prejudicial ? Na verdade, este é um padrão que pode razoavelmente ser usado para pensar sobre qual quer tipo de prática social: podemos perguntar se a prática promove ou é um obstáculo ao bem- estar das pessoas cujas vidas são por ela afectadas. E, como corolário, podemos perg untar se há um conjunto alternativo de práticas sociais com melhores resultados na promoção do seu bem-estar. Se assim for, podemos concluir que a prática em vigor é deficiente. Mas isto parece justamente o tipo de padrão moral independente que o relativismo c ultural afirma não poder existir. E um padrão único que pode ser invocado para ajuizar as prátic as
- 34. de qualquer cultura, em qualquer época, nomeadamente a nossa. É claro que as pessoas não irão, em geral, encarar este princípio como algo "trazido do exterior" para os julga r, porque, como as regras contra a mentira e o homicídio, o bem-estar dos seus membros é um val or inerente a todas as culturas viáveis. Por que razão, apesar de tudo isto, pessoas prudentes podem ter relutância, mesmo as sim, em criticar outras culturas. Apesar de se sentirem pessoalmente horrorizadas com a excisão, muitas pessoas ponderadas têm relutância em afirmar que está errada, pelo menos por três razões. Primeiro, há um nervosismo compreensível quanto a "interferir nos hábitos cultur ais das outras pessoas". Os europeus e os seus descendentes culturais da América têm uma história pouco honrosa de destruição de culturas nativas em nome do cristianismo e do iluminismo. Horrorizadas com estes factos, algumas pessoas recusam fazer quaisqu er juízos negativos sobre outras culturas, especialmente culturas semelhantes àquelas que fo ram prejudicadas 50 no passado. Devemos notar, no entanto, que há uma diferença entre a) considerar uma prática cultural deficiente; e b) pensar que deveríamos anunciar o facto, dirigir um a campanha, aplicar pressão diplomática ou enviar o exército. No primeiro caso, tentamos apenas ver o mundo com clareza, do ponto de vista moral. O segundo caso é completa mente diferente. Por vezes poderá ser correcto "fazer qualquer coisa", mas outras não. As pessoas sentem também, de forma bastante correcta, que devem ser tolerantes fac e a outras culturas. A tolerância é, sem dúvida, uma virtude - uma pessoa tolerante está disposta a viver em cooperação pacífica com quem encara as coisas de forma diferente. Mas nada na natureza da tolerância exige que consideremos todas as crenças, todas as rel igiões e todas as práticas sociais igualmente admiráveis. Pelo contrário, se não considerássemos algumas melhores do que outras, não haveria nada para tolerar. Por último, as pessoas podem sentir-se relutantes em ajuizar por que não querem most rar desprezo pela sociedade criticada. Mas, uma vez mais, trata-se de um erro: conde nar uma prática em particular não é dizer que uma cultura é no seu todo desprezível ou inferior a qualquer outra cultura, incluindo a nossa. Pode mesmo ter aspectos admiráveis. Na verdade, podemos considerar que isto é verdade no que respeita à maioria das sociedades human as - são misturas de boas e más práticas. Acontece apenas que a excisão é uma das más. 2.8 O que se pode aprender com o relativismo cultural
- 35. Afirmei no início que iríamos identificar tanto o que está certo como o que está errado no relativismo cultural. Mas até agora fiquei-me pelos seus erros: afirmei que repous a sobre um argumento inválido, que as suas 51 consequências o tornam à partida implausível, e ainda que a dimensão do desacordo moral é bem menor do que o relativismo cultural pressupõe. Tudo isto constitui, na verdade, um a completa rejeição da teoria. No entanto, continua a ser uma ideia muito sedutora, e o leitor pode sentir que tudo isto é um pouco injusto. A teoria deve ter alguma coisa a seu favor, pois a não ser assim porque razão se tornaria tão influente? Penso, na verdade, que há alguma coisa correcta no relativismo cultural, e quero agora passar a dizer o qu e é. Há duas lições que devemos aprender com a teoria, ainda que acabemos por rejeitá-la. Primeiro, o relativismo cultural alerta-nos, de maneira correcta, para os perigo s de pressupor que todas as nossas preferências estão fundadas numa espécie de padrão racional absoluto . Não estão. Muitas das nossas práticas (mas não todas) são particularidades exclusivas da nossa sociedade, e é fácil perder de vista esse facto. Ao recordar-nos isso, a teori a presta um bom serviço. As práticas funerárias são um caso exemplar. Os calatinos eram, segundo Heródoto, "homens que comiam os seus pais" - uma ideia chocante, pelo menos para nós. Mas co mer a carne dos mortos podia ser encarado como um sinal de respeito. Podia ser tomad o como um acto simbólico que declara: queremos que o espírito desta pessoa permaneça em nós. Talvez fosse esta a ideia dos calatinos. Numa tal maneira de pensar, enterrar os mortos poderia ser encarado como um acto de rejeição, e queimar o cadáver como um sinal claro de desprezo. Se isto é difícil de imaginar, então talvez precisemos de alargar a nossa imaginação. É claro que podemos sentir uma repugnância visceral perante a ideia de comer carne humana, quaisquer que sejam as circunstâncias. Mas, e depois? Esta repugnância pode ser apenas, como dizem os relativistas, uma questão de hábito na nossa sociedade. Há muitas outras matérias sobre as quais tendemos a pensar em termos de objectivamen te certo ou errado e que 52 mais não são do que convenções sociais. Poderíamos fazer uma lista muito longa. Devem as
- 36. mulheres cobrir os seios? A exposição pública dos seios é escandalosa na nossa sociedade , enquanto noutras passa despercebida. Objectivamente falando, não é correcta nem incorrecta - não há uma razão objectiva para considerar nenhum dos costumes melhor. O relativismo cultural começa com a preciosa observação de que muitas das nossas práticas são apenas isto; produtos culturais. Mas depois engana-se, ao inferir do facto de algumas práticas serem assim que todas têm de ser assim. A segunda lição relaciona-se com a necessidade de manter o espírito aberto. No process o de crescimento, cada um de nós adquiriu algumas convicções fortes: aprendemos a aceitar alguns tipos de conduta e a rejeitar outros. Podemos, ocasionalmente, ver essas convicções postas à prova. Por exemplo, podem ter-nos ensinado que a homossexualidade é imoral, e podemos sentir-nos muito desconfortáveis junto de pessoas gay e encará-las como estr anhas e "diferentes". Então alguém sugere que isto pode ser um mero preconceito; que a homossexualidade não tem nada de mal; que os homossexuais são apenas pessoas como as outras que, sem o terem escolhido, se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo. M as, por termos convicções tão fortes sobre o assunto, pode ser difícil tomar isto a sério. Mesmo depois de ouvir os argumentos, podemos manter o sentimento inabalável de que os homossexuais são, de alguma forma, um grupo repugnante. O relativismo cultural, ao sublinhar que as nossas perspectivas morais podem ref lectir preconceitos da nossa sociedade, fornece um antídoto para este tipo de dogmatismo. Quando conta a história dos Gregos e Calatinos, Heródoto acrescenta: Se se propusesse, fosse a quem fosse, que escolhesse de entre todas as tradições cul turais as melhores, cada um, depois de reflectir maduramente, escolheria a sua, convencido que está de que a tradição em que nasceu é de longe a melhor. 53 Perceber isto pode levar-nos a uma maior abertura de espírito. Podemos compreender que os nossos sentimentos não são necessariamente percepções da verdade - podem não ser mais do que o resultado do condicionamento cultural. Assim, quando ouvimos alguém sugerir que um aspecto do nosso código social não é realmente o melhor, e damos por nós a resistir a esta sugestão, podemos parar e recordar isto. Podemos ficar então mais ab ertos à descoberta da verdade, seja ela qual for. Podemos, pois, compreender a atracção do relativismo cultural, apesar de a teoria te r sérias insuficiências. É uma teoria atraente porque se baseia na observação pertinente de que muitas das práticas e atitudes por nós consideradas tão naturais são na verdade apenas produtos culturais. Além disso, manter este pensamento firmemente em vista é importa nte se quisermos evitar a arrogância e manter o espírito aberto. Isto são aspectos importante s, que
- 37. não devem ser tomados de forma ligeira. Mas podemos aceitar estes aspectos sem ace itar toda a teoria. 54 Capítulo 3 O subjectivismo em ética Imagine-se qualquer acção reconhecidamente viciosa: homicídio voluntário, por exemplo. E xaminemo-la sob todas as perspectivas, e vejamos se conseguimos encontrar esse facto ou real idade que chamamos vício. [...] Nunca conseguimos descobri-lo até voltarmos a reflexão para nós mesmos e descobr irmos um sentimento de reprovação, que nasce em nós, perante essa acção. Eis uma questão de facto; ma s é objecto do sentimento e não da razão. DAVID HUME, Tratado da Natureza Humana (1740) 3.1 A ideia de base do subjectivismo ético Em 2001 realizou-se uma eleição municipal em Nova Iorque, e quando chegou o momento do desfile anual do Orgulho Gay todos os candidatos democratas e republicanos compareceram para desfilar. "Não há um único candidato que se possa descrever como mau nas questões que nos dizem respeito", afirmou Matt Foreman, director executivo do Empire State Pride Agenda, uma organização de defesa dos direitos dos homossexuais. Acresce ntou ainda 55 que, "noutras partes do país, as posições aqui defendidas seriam extremamente impopula res nas urnas, se não mesmo fatais". O Partido Republicano Nacional parece concordar; pressionado pelos conservadores religiosos fez da oposição aos direitos dos homossex uais uma parte do seu posicionamento a nível nacional. O que pensam realmente as pessoas de outras partes do país? O instituto de sondage ns Gallup Poli tem perguntado aos americanos desde 1982: "Pensa que a homossexualid ade deveria ser considerada um estilo de vida alternativo aceitável?" Nesse ano, 34% r espondeu afirmativamente. O número tem vindo, no entanto, a aumentar, e em 2000 uma maioria - 52% - afirmou pensar que a homossexualidade deveria ser considerada aceitável. Ist o significa, é claro, que quase outros tantos pensam de forma diferente. As pessoas de ambos os lados têm convicções fortes. O reverendo Jerry Falwell falou em nome de muitos quan do
- 38. afirmou numa entrevista para a televisão: "A homossexualidade é imoral. Os chamados 'direitos dos homossexuais' não são de modo algum direitos, porque a imoralidade não é correcta." Falwell é baptista. A perspectiva católica é mais elaborada, mas admite tam bém que o sexo gay não é permissível. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, gays e lésbicas "não escolhem a sua condição homossexual" e "devem ser aceites com respeito, compaixão e sensibilidade. Qualquer sinal de discriminação injusta a seu respeito deve ser evi tado". Não obstante, "os actos homossexuais são intrinsecamente doentios" e "não podem ser aprovados em circunstância alguma". Portanto, para ter vidas virtuosas, as pessoas homossexuais devem ser castas. Que atitude devemos tomar? Poderíamos dizer que a homossexualidade é imoral, ou então que nada tem de mal. Mas há uma terceira alternativa. Poderíamos dizer algo como ist o: As pessoas têm opiniões diferentes, mas no que concerne à moral não há "factos", e ninguém e stá "certo". As pessoas simplesmente sentem de forma diferente, e é tudo. 56 Este é o pensamento de base por detrás do subjectivismo ético. O subjectivismo ético é a ideia segundo a qual as nossas opiniões morais se baseiam nos nossos sentimentos e nada mais. Nesta perspectiva, o "objectivamente" certo ou errado é coisa que não existe. E um facto que algumas pessoas são homossexuais e outras heterossexuais; mas não é um facto que uma coisa seja boa e outra má. Por isso, quando alguém como Falwell afirma que a homossexualidade está errada, não está a afirmar um facto sobre a homossexualidade. Está apenas, isso sim, a afirmar algo sobre os seus sentimentos face a ela. O subjectivismo ético não é, naturalmente, apenas uma ideia sobre a avaliação da homossexualidade. Aplica-se a todas as questões morais. Para dar um exemplo difere nte, é um facto que os nazis exterminaram milhões de pessoas inocentes; mas, segundo o subjectivismo ético, não é um facto que o que fizeram foi mau. Quando dizemos que as s uas acções foram más estamos apenas a dizer que temos sentimentos negativos em relação a elas. O mesmo se aplica a qualquer outro juízo moral. 3.2 A evolução da teoria O desenvolvimento de uma teoria filosófica percorre frequentemente vários estádios. De início a ideia será apresentada de uma forma crua e simples, e muitas pessoas achá-la-ão atraente por uma razão ou outra. Mas a ideia é então submetida a uma análise crítica e descobre-se que tem defeitos. Apresentam-se argumentos contra ela. Nessa altura, algumas pessoas podem ficar tão impressionadas com as objecções que abandonam totalmente a ideia, concluindo que não pode estar correcta. Outras, no entanto, podem continuar a confiar na ideia de base e tentarão, por isso, aprimorá-la, dando-lhe uma formulação melhorada
- 39. 57 que não seja vulnerável às objecções. Durante algum tempo poderá parecer que se salvou a teoria. Mas podem então encontrar-se novos argumentos que lançam dúvidas sobre a nova versão da teoria. Uma vez mais, as novas objecções podem levar algumas pessoas a abandonar a ideia, enquanto outras mantêm a f é e tentam salvar a teoria formulando ainda outra versão nova e "melhorada". O processo de revisão e crítica começará então de novo. A teoria do subjectivismo ético desenvolveu-se justamente desta maneira. Começou com o uma ideia simples - nas palavras de David Hume, a ideia de que a moralidade é uma questão de sentimento e não de facto. Mas à medida que se apresentavam objecções à teoria, e que os seus defensores tentavam responder-lhes, a teoria evoluiu para algo muito mais sofisticado. 3.3 A primeira fase: o subjectivismo simples A versão mais simples da teoria, que expõe a ideia principal mas não tenta aprimorá-la p or aí além, é esta: Quando uma pessoa afirma que algo é moralmente bom ou mau isso significa que ele ou ela aprovam, ou desaprovam, essa coisa, e nada mais que isso. Por out ras palavras: X é moralmente aceitável X está correcto X é bom Deve-se fazer X Eu (o interlocutor) aprovo X E pela mesma ordem de ideias: X é moralmente inaceitável X está errado X é mau Não se deve fazer X Eu (o interlocutor) desaprovo X 58 Podemos chamar subjectivismo simples a esta versão da teoria. Exprime a ideia básica do subjectivismo ético numa forma elementar e simples, e muitas pessoas acharam-na at raente. No entanto, o subjectivismo simples está aberto a várias objecções, porque tem implicações contrárias ao que sabemos (ou pelo menos contrárias ao que pensamos saber) sobre a natureza da avaliação moral. Eis duas das mais proeminentes objecções. O subjectivismo simples não dá conta da nossa falibilidade. Ninguém é infalível.
- 40. Estamos por vezes errados nas nossas avaliações e quando o descobrimos podemos quere r corrigir os nossos juízos. Mas, se o subjectivismo simples estivesse correcto, iss o seria impossível, porque o subjectivismo simples pressupõe que somos infalíveis. Considere-se outra vez Falwell, que considera a homossexualidade imoral. Segundo o subjectivismo simples, Falwell está simplesmente a afirmar que desaprova a homossexualidade. É claro que há a possibilidade de não estar a falar sinceramente - é possível que ele não desaprove realmente a homossexualidade, mas esteja simplesmente a responder às expectativas da sua audiência conservadora. No entanto, se supusermos q ue está a falar sinceramente - se supusermos que Falwell desaprova mesmo a homossexualidade -, segue-se então que o que ele diz é verdade. Enquanto estiver honestamente a representar os seus sentimentos não pode estar enganado. Mas isto contradiz o facto elementar de nenhum de nós ser infalível. Por vezes estam os errados. Portanto, o subjectivismo simples não pode estar correcto. O subjectivismo simples não dá conta do desacordo. O segundo argumento contra o subjectivismo simples baseia-se na ideia de que est a teoria não pode explicar a existência de desacordo moral. Matt Foreman não pensa que a homossexualidade seja imoral. Perante isto, parece que 59 ele e Falwell discordam. Mas repare-se o que o subjectivismo simples sugere quan to a esta situação. Segundo o subjectivismo simples, quando Foreman afirma que a homossexualidade não é imoral está simplesmente a declarar a sua atitude - está a dizer que ele, Foreman, não desaprova a homossexualidade. Falwell discordaria disso? Não, Falwell estaria de a cordo que Foreman não desaprova a homossexualidade. Simultaneamente, quando Falwell afir ma que a homossexualidade é imoral, está apenas a dizer que ele, Falwell, a desaprova. Como poderia alguém discordar disso? Assim, segundo o subjectivismo simples, não há desacor do entre eles; cada um deveria admitir a verdade do que o outro está a dizer. No enta nto, parece evidente que algo não está certo aqui, pois Falwell e Foreman discordam realm ente sobre a questão de saber se a homossexualidade é imoral ou não. Há uma espécie de frustração eterna implícita no subjectivismo simples: Falwell e Foreman estão em profundo desacordo; no entanto, não podem sequer apresentar as suas posições de forma a debater o tema em conjunto. Foreman pode tentar negar o que Falwell afir ma, mas,
- 41. segundo o subjectivismo simples, apenas consegue mudar de assunto. O argumento pode ser resumido assim: Quando uma pessoa afirma "X é moralmente aceitável" e alguém diz "X é moralmente inaceitável", estão em desacordo. No entanto, se o subjectivismo simples estivesse correcto não haveria desacordo entre eles. Logo, o subjectivismo simples não pode estar correcto. Estes argumentos, e outros semelhantes, mostram que o subjectivismo simples é uma teoria falhada. Não pode ser sustentada, pelo menos de uma forma tão rígida. Perante tais argumentos, alguns pensadores preferiram rejeitar o subjectivismo ético no seu tod o. Outros, no entanto, esforçaram-se por produzir uma versão melhorada da teoria que não fosse vulnerável a tais objecções. 60 3.4 A segunda fase: emotivismo A versão melhorada é uma teoria que se tornou conhecida como "emotivismo". Desenvolvida principalmente pelo filósofo americano Charles L. Stevenson (1908-197 9), o emotivismo tornou-se uma das teorias éticas mais influentes do século xx. É muito mais subtil e sofisticada do que o subjectivismo simples. O emotivismo começa com a observação de que a linguagem é usada de várias maneiras. Um dos seus usos principais é a afirmação de factos, ou pelo menos a afirmação do que pensamos serem factos. Podemos, assim, dizer: "Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos." "Tenho um .encontro às quatro horas." "A gasolina custa 0,970 cêntimos por litro." "Shakespeare é o autor de Hamle t." Em cada caso estamos a dizer algo que é verdadeiro ou falso, e o propósito da elocução é, normalmente, comunicar informação ao ouvinte. No entanto, há outros propósitos para os quais a linguagem pode ser usada. Suponha-s e que digo: "Fecha a porta!" Esta elocução não é verdadeira nem falsa. Não é uma afirmação de tipo algum; é uma ordem, o que é algo diferente. O seu propósito não é transmitir informação; o seu propósito é, antes, levar alguém a fazer qualquer coisa. Não estou a tenta r alterar as crenças de alguém; estou a tentar influenciar-lhe a conduta. Considere-se elocuções como as seguintes, que não são nem afirmações de factos nem ordens: "Um viva por Abraham Lincoln!" "Ai de mim!" "Quem me dera que a gasolina não fosse tão cara!" "Que se dane o Hamlet."