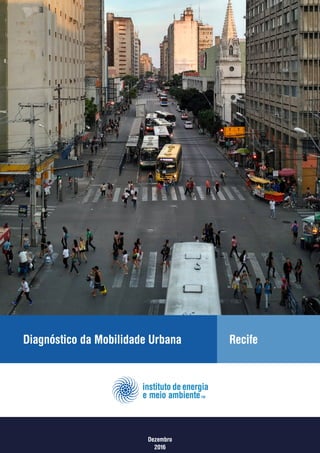
Dignóstico da Mobilidade do Recife 2016
- 1. Diagnóstico da Mobilidade Urbana Dezembro 2016 Recife
- 2. Diretor Presidente André Luís Ferreira Coordenador de Mobilidade Urbana Renato Boareto Equipe Técnica Hellem de Freitas Miranda João Alencar Oliveira Júnior Kamyla Borges da Cunha Pedro Lucas Guedes Rafael Godoy Bueno da Silva Tadeusz Gregório Alabi Organização e texto Hellem de Freitas Miranda João Alencar Oliveira Júnior Kamyla Borges da Cunha Pedro Lucas Guedes Revisão Hellem de Freitas Miranda Pedro Lucas Guedes Tadeusz Gregório Alabi Arte e editoração eletrônica Tadeusz Gregório Alabi Foto de capa Pedro Lucas Guedes Publicado por Instituto de Energia e Meio Ambiente www.energiaeambiente.org.br São Paulo, dezembro de 2016 DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE URBANA: RECIFE
- 3. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO................................................................................................................................................................................5 2 ESTRUTURANDO O RELATÓRIO.....................................................................................................................................................6 2.1 O levantamento do dados..........................................................................................................................................................7 2.1.1 Obtendo informações.............................................................................................................................................................8 2.1.2 Transparência..........................................................................................................................................................................8 3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA DO RECIFE..........................................................................10 3.1 Morfologia urbana e sua influência sobre o sistema de mobilidade.......................................................................................10 3.2 Dinâmica de viagens no território..........................................................................................................................................14 3.3 O Sistema de Transporte Coletivo...........................................................................................................................................17 3.3.1 A priorização do ônibus no sistema viário............................................................................................................................20 3.3.2 Cobertura do sistema de ônibus...........................................................................................................................................20 3.3.3 Demanda de usuários do sistema de ônibus metropolitano................................................................................................21 3.3.4 Índice de passageiros por Quilômetro- IPK..........................................................................................................................22 3.3.5 Política Tarifária....................................................................................................................................................................24 3.3.6 Opinião dos Usuários............................................................................................................................................................25 3.4 O Sistema Cicloviário de Transporte.......................................................................................................................................26 3.4.1 Infraestrutura existente e abrangência do sistema cicloviário.............................................................................................26 3.5 O Sistema de Transporte a Pé.................................................................................................................................................30 3.6 O Sistema de Transporte Individual Motorizado.....................................................................................................................33 3.7 A Segurança Viária..................................................................................................................................................................35 4 PLANOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA.........................................................................................................................38 4.1 Planos e Projetos Anteriores...................................................................................................................................................38 4.1.1 Plano Diretor da Cidade do Recife (1991/2008)...................................................................................................................38 4.1.2 Plano Diretor de Transportes Urbanos da Região Metropolitana do Recife – PDTU/RMR (2008 – 2020)...........................39 4.1.3 Plano Diretor de Mobilidade do Recife (2010 – 2011)........................................................................................................41 4.2 Planos e Projetos em Andamento...........................................................................................................................................42 4.2.1 Parque Capibaribe (iniciado em 2013)................................................................................................................................42 4.2.2 Plano Diretor Cicloviário (2014)...........................................................................................................................................43 4.2.3 O plano de mobilidade em elaboração – MobilidadeRECIFE (2015 – atual).......................................................................45 5 LEGISLAÇÃO SOBRE MOBILIDADE URBANA, CLIMA E QUALIDADE DO AR..................................................................................48 5.1 Mobilidade a pé......................................................................................................................................................................48 5.1.1 Arranjo Institucional............................................................................................................................................................48 5.2 Mobilidade por bicicleta.........................................................................................................................................................49 5.3 Licenciamento Urbanístico e Ambiental.................................................................................................................................51 5.4 Impactos no Meio Ambiente..................................................................................................................................................52 5.5 Diretrizes Gerais de Proteção ao Meio Ambiente...................................................................................................................53 5.5.1 Transportes e poluição do ar................................................................................................................................................53 5.6 Transportes e mitigação das emissões de GEE.......................................................................................................................53 6 REGULAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO....................................................................................................................55 6.1 O Consórcio Metropolitano de transporte.............................................................................................................................55 6.2 O Modelo Regulatório do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife.....................................................57 7 CONCLUSÕES..............................................................................................................................................................................63 REFERÊNCIAS.................................................................................................................................................................................65 i
- 4. ÍNDICE DE TABELAS Tabela 1 Elementos de avaliação da mobilidade urbana.....................................................................................................................................7 Tabela 2 Dados levantados e métodos de aquisição............................................................................................................................................9 Tabela 3 Distribuição das viagens diárias por motivo em 1972 e 1997.............................................................................................................16 Tabela 4 IPK equivalente mensal do STPP, 2013................................................................................................................................................23 Tabela 5 Tarifas do STPP para 2016....................................................................................................................................................................24 Tabela 6 Infraestrutura cicloviária no Recife por tipologia................................................................................................................................27 Tabela 7 Mortes no trânsito em 2012................................................................................................................................................................35 Tabela 8 Orçamento reduzido do PDTU.............................................................................................................................................................40 Tabela 9 Normas Jurídicas municipais relacionadas à mobilidade a pé............................................................................................................49 Tabela 10 Normas Jurídicas municipais relacionadas à mobilidade por bicicleta.............................................................................................50 Tabela 11 Normas jurídicas estaduais relacionadas à mobilidade por bicicleta................................................................................................50 Tabela 12 Atuação da CCU e do CDU..................................................................................................................................................................51 Tabela 13 Metas para os transportes urbanos...................................................................................................................................................54 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 Região Metropolitana do Recife – eixos viários, conexões metropolitanas e densidade demográfica..............................................11 Figura 2 Densidade demográfica no Recife........................................................................................................................................................11 Figura 3 Distância da população residente ao centro do Recife........................................................................................................................11 Figura 4 Distribuição geográfica do IDHM na RMR e no Recife.........................................................................................................................12 Figura 5 Concentração de empregos por microrregião.....................................................................................................................................13 Figura 6 Deslocamentos intermunicipais para trabalho e estudo na RMR.......................................................................................................13 Figura 7 Divisão modal na RMR..........................................................................................................................................................................14 Figura 8 Divisão modal e renda na RMR............................................................................................................................................................15 Figura 9 Índice de mobilidade e renda...............................................................................................................................................................15 Figura 10 Esquema do STPP/RMR..................................................................................................................................................................... 18 Figura 11 Sistema de transporte público coletivo do Recife..............................................................................................................................19 Figura 12 Infraestruturas de priorização do ônibus e densidade de linhas de ônibus......................................................................................19 Figura 13 Sistema viário com exclusividade para circulação de ônibus.............................................................................................................21 Figura 14 Índice anual de cumprimento de viagens do STPP, 1987 – 2013......................................................................................................21 Figura 15 Índice de cumprimento mensal de viagens do STCP em 2015......................................................................................................... 22 Figura 16 Oferta de viagens e demanda de passageiros entre 1983 e 2013....................................................................................................22 Figura 17 IPK do STPP/RMR em comparação com outras cidades brasileiras em 2013................................................................................... 23 Figura 18 Variação mensal dos custos do STPP ao longo de 2013, em relação ao valor de janeiro................................................................ 24 Figura 19 Evolução tarifária do STPP, 1994 – 2016............................................................................................................................................25 Figura 20 Motivação de viagem e tipo de usuário de bicicleta na RMR............................................................................................................26 Figura 21 Crescimento da infraestrutura cicloviária do Recife, separada entre permanente e efêmera.........................................................27 Figura 22 Sistema cicloviário do Recife e área de influência de 300m sobrepostos às regiões de maior IDHM..............................................27 Figura 23 Contagens de ciclistas feitas pela CTTU em 2008..............................................................................................................................28 Figura 24 Trechos de maior volume de bicicletas em 2008 sobrepostos às áreas de abrangência da infraestrutura cicloviária em 2016.....28 Figura 25 Sobreposição do sistema de bicicletas compartilhadas Bike PE (pontos em laranja) e da malha cicloviária intermitente (verde) sobre as áreas atendidas pela rede cicloviária (vermelho)................................................................................................................29 Figura 26 Largura média das calçadas das principais vias urbanas do Recife, sobrepostas à densidade de linhas de ônibus do STPP....... ....30 Figura 27 Vias de circulação exclusiva de pedestres..........................................................................................................................................30 Figura 28 Classificação dos trechos viários do Recife segundo sua arborização (esquerda) e presença de iluminação pública (direita).......31 Figura 29 Escadarias da Zona Norte sobrepostas ao IDHM...............................................................................................................................32 Figura 30 Comparação entre crescimento da frota de veículos e crescimento demográfico...........................................................................33 Figura 31 Distribuição da frota por tipo de veículo, 1990 – 2015.................................................................................................................... 34 Figura 32 Distribuição das vagas de Zona Azul na região central do Recife......................................................................................................34 Figura 33 Evolução do número de óbitos e feridos em Pernambuco entre 2001 e 2012.................................................................................36 Figura 34 Ocorrências de trânsito com vítima em 2014................................................................................................................................... 37 Figura 35 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade no Recife....................................................................................................37 Figura 36 Distribuição espacial da Zona 30 no Bairro do Recife........................................................................................................................37 Figura 37 Linha do tempo da mobilidade urbana no Recife: modos, planos, contagens e principais obras....................................................38 Figura 38 Projeto conceitual do Parque Capibaribe (Divulgação)......................................................................................................................43 Figura 39 Distribuição das pessoas ocupadas por local de exercício do trabalho principal, por município.....................................................43 Figura 40 Rede cicloviária proposta pelo PDC....................................................................................................................................................44 Figura 41 Rede prevista para o PDC até junho/2016 comparada com o que foi construído no período (valores em km)..............................44 Figura 42 Apresentação do ICPS descrevendo a Pesquisa nos PGVs.................................................................................................................46 Figura 43 Arranjo institucional...........................................................................................................................................................................52 ii
- 5. 1 INTRODUÇÃO O desafio de encontrar uma cidade grande brasileira que não cite a mobilidade como um de seus principais problemas tem ficado cada vez mais difícil. Nas regiões metropolitanas, a ausência de um planejamento adequado tem resultado num fenômeno em comum: um forte desequilíbrio entre a ocupação habitacional nas áreas periféricas e a oferta de funções urbanas (empregos, educação, saúde, saneamento, lazer e serviços em geral) nas áreas centrais, mais ainda nas cidades que são referência destas regiões. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1992 e 2013 o tempo médio de deslocamento diário casa/trabalho nestas regiões cresceu de 36 para quase 42 minutos, um aumento de 14,5%. Enquanto este índice é puxado pelas duas únicas RMs acima da média nacional- Rio de Janeiro e São Paulo-, algumas cidades viram o tempo deste percurso crescer consideravelmente mais que a média: Belém e Recife, por exemplo, sofreram aumentos de 49,5% e 23,5%, respectivamente, liderando a tendência entre as RMs de escala secundária no país. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) observou que, durante este período de 21 anos, a demora no trânsito no Recife - que se manteve entre 30 e 32 minutos de 1992 até 2004 e subiu para quase 40 minutos entre 2005 e 2013 - piorou ao ponto de os níveis de renda mais altos e mais baixos pesquisados terem tempos médios de deslocamento semelhantes desde 2009: apesar das diferentes condições destes dois grupos em termos de capacidade de escolha do local de moradia e de dependência do transporte público, todos estão no engarrafamento pelo mesmo tempo. A metade mais pobre do Recife sempre sofreu com os problemas de transporte de forma proporcional a outros problemas urbanos, mas agora todos empataram em pelo menos um quesito. Em 2015, um relatório publicado pelo Sistema FIRJAN sobre o custo dos deslocamentos nas regiões metropolitanas apontou que o problema não é apenas de tempo. Demorar muito no trânsito para o trabalho significa tempo perdido e improdutivo, e segundo os dados apresentados, em 2012 o custo da produção sacrificada na Região Metropolitana do Recife teve o maior aumento do Brasil em relação ao ano de 2011: subiu 14,6% de R$2,9 bilhões para R$3,3 bilhões, passando a custar o equivalente a 4,3% do PIB metropolitano daquele ano. A cada R$25 produzidos na RMR em 2012, R$1 foi desperdiçado apenas nos engarrafamentos. Não por acaso, agora a “mobilidade urbana” tornou- se assunto amplamente discutido entre os cidadãos recifenses de todas as classes, entrando no grupo seleto de problemas corriqueiros discutidos em diversos ambientes como previsão do tempo, corrupção e o preço da goma de tapioca. Ao alcançar o dia-a-dia da classe média, passou a ser também mais cobrado em ambientes políticos e empresariais, dando vazão a todo tipo de teoria, diagnóstico e solução, servindo de inspiração para novos jargões de conversa de elevador: “a solução pra essa cidade é o metrô”, “quando pobre não andava de carro era melhor”, “se os semáforos fossem sincronizados...”, “se houvesse transporte público de qualidade eu deixaria o carro em casa...” e “aqui não é Europa pra eu andar de bicicleta”, entre tantos outros. Todo esse interesse no assunto, enquanto a situação segue piorando, tem levado a muitos questionamentos: será que estamos tomando decisões erradas de propósito ou existe uma lacuna de conhecimento a ser preenchida para sanar o problema do tempo perdido nos percursos diários? Como devemos agir para eliminar as mortes no trânsito da cidade, que em 2014 igualaram-se às 560 mortes por CVLI (crimes violentos letais intencionais), segundo o DATASUS? Este estudo tem como objetivo elucidar estas questões e talvez abrir espaço para outras perguntas mais profundas. Ao utilizar-se de dados abertos e públicos para fazer cruzamentos e análises, demonstra com clareza que o problema enfrentado pela cidade não é necessariamente desinformação, falta de recursos financeiros ou colapso do sistema de transporte. Muitas vezes trata-se de desconhecimento tanto de dados existentes dentro da própria organização 5
- 6. governamental como também de soluções possíveis a partir da combinação de informações já existentes como a relação entre onde passam mais ônibus e quantos semáforos têm ciclo exclusivo para pedestres. Assim, o Diagnóstico da Mobilidade Urbana do Recife busca, a partir do trabalho de especialistas no assunto sobre os dados e informações levantadas, sistematizar e apresentar estas análises de forma simples e direta. Ao facilitar a compreensão dos deslocamentos na cidade do Recife para o público em geral e fomentar uma discussão qualificada, esperamos que esse documento possa direcionar as energias investidas no assunto para um resultado mais objetivo, positivo e transparente. *** 2 ESTRUTURANDO O RELATÓRIO Para realizar um diagnóstico de mobilidade urbana a primeira coisa a ser feita corresponde na definição dos elementos que serão considerados nessa avaliação. Para tanto tomou-se por base a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU (Lei Federal n°12.587/12), que define a mobilidade como a “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas1 no espaço urbano” sendo assim diretamente responsável pelo acesso à cidade, além de impactar no desenvolvimento urbano local. Por definição, os deslocamentos são realizados no espaço urbano, sendo esse, portanto, essencial para o entendimento mínimo das condições estruturantes para a realização de viagens. Assim deu-se especial atenção à informações como a distribuição espacial da população e empregos, que por sua essência indicam os pontos de produção e atração de viagens no espaço. Ainda que uma cidade não possua uma pesquisa OD, a simples caracterização do uso do solo permite uma compreensão mínima sobre a distribuição de viagens. Além disso, outros elementos são essenciais para o desenvolvimento da caracterização física dos sistemas de mobilidade urbana, sendo esses: identificação e caracterização da rede de transporte coletivo e suas infraestruturas (considerando todos os seus possíveis modos), rede de transporte cicloviário e suas infraestruturas, rede de calçadas, rede de transporte individual (considerando tanto infraestruturas disponíveis de vagas de estacionamento rotativo ou seu desempenho operacional como a velocidade média do tráfego e segurança viária), entre outros. A legislação existente sobre mobilidade urbana também é um elemento interessante a se considerar nesse processo, incluído elementos como o mapeamento das estruturas institucionais responsáveis pelo planejamento, gestão e execução de projetos de mobilidade urbana, espaços institucionalizados de participação social e democrática e de instrumentos de monitoramento das políticas, planos e programas em mobilidade urbana. 1 Ainda que o transporte de cargas seja essencial para a vida em cidade, sendo responsável pelo abastecimento de todo tipo de bens que garantam o suprimento das necessidades humanas, esse estudo optou por avaliar apenas os elementos inerentes ao deslocamento de pessoas. Tal fato se deu em razão da importância que a mobilidade de pessoas exerce sobre aas condições de vida da população que vive em cidades. 6
- 7. Cabe ainda indicar a necessidade de identificar os elementos que estruturam a regulação do transporte público, considerando os modelos de concessão e os processos de fiscalização. Também a política tarifária deve ser alvo de atenção. Por fim é interessante agregar ao diagnóstico informações referentes ao processo de planejamento, partindo do planejamento estruturador urbano (Plano Diretor) de forma a compreender o enquadramento dado à mobilidade no âmbito das políticas públicas gerais, passado pela análise do próprio Plano e Mobilidade Urbana local, seguindo por planos e projetos específicos como Plano Cicloviário, Plano de Transporte Coletivo, Plano de Calçadas, etc. Contrapor essas informações à realidade apreendida no levantamento das características físicas é fundamental para identificar o quão próxima se encontra o planejamento da realidade local. *** Uma análise agregada das referidas informações pode ser bastante rica e elucidativa, mas só fará sentido se considerar a adoção de parâmetros balizadores capazes de dar significância ao conteúdo observado. Nesse sentido a PNMU carrega em seu conteúdo elementos para nortear o planejamento da mobilidade por municípios, sendo esses interessantes para o desenvolvimento do diagnóstico da mobilidade urbana. Assim, os princípios, diretrizes e objetivos da PNMU foram separados de acordo com sua temática em quatro grandes grupos que resumem brevemente as expectativas quanto a desenvolvimento da mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Tais elementos, apresentados na Tabela 1, foram utilizados para avaliar minimamente as condições reconhecidas no decorrer desse diagnóstico. 2.1 O levantamento de dados O primeiro passo para o desenvolvimento do diagnóstico da mobilidade urbana do Recife teve início com a busca por informações. Esse é um processo importante segundo dois diferentes aspectos: i) a construção de um banco de dados necessário para o desenvolvimento das análises propriamente ditas; ii) a avaliação das condições de divulgação das informações disponíveis. Para o levantamento de informações, o objetivo do trabalho foi o de buscar o que já estava disponível ao cidadão por meio de Transparência Ativa que, segundo o Portal de Acesso à Informação do Governo Federal2 , consiste na “divulgação de dados por iniciativa do próprio setor público, ou seja, quando são tornadas públicas informações, independente de requerimento, utilizando principalmente a Internet. (...) A divulgação proativa de informações de interesse público, além de facilitar o acesso das pessoas e de reduzir o custo com a prestação de informações, evita o acúmulo de pedidos de acesso sobre temas semelhantes”. 2 Disponível em http://www.acessoainformacao.gov.br/perguntas-frequentes/aspectos- -gerais-da-lei#9 7 Tabela 1 Elementos de avaliação da mobilidade urbana
- 8. 8 Além de buscar fontes de dados com Transparência Ativa, o trabalho procurou ao máximo utilizar dados secundários, ou seja, aqueles que já estavam disponíveis e sistematizados no momento da coleta. Assim, mesmo que não estivessem disponíveis por meio de Transparência Ativa, os dados obtidos através de Pedidos de Informação (PINFs) pela Lei de Acesso à Informação (LAI- Lei Federal nº 12.527/2011) constam como dados secundários. Após a exaustão de busca por dados secundários é que se procurou produzir algumas informações- dados primários-, na maioria das vezes porque o órgão responsável pelo assunto não tinha o conteúdo solicitado em seus bancos de dados. 2.1.1 Obtendo informações Os processos mencionados para coleta das informações foram colocados em prática em seguidas investidas na tentativa de não deixar que nenhum elemento importante fosse deixado de lado. Como resultado foi possível chegar a um bom número de dados, nem todos nas condições ideais para a produção das análises desejadas, mas ainda importantes para a construção mínima de conhecimento. 2.1.2 Transparência A inexistência de informações ainda é algo esperado para quem realiza um trabalho de coleta de dados com o setor público. A questão que reside a partir da baixa expectativa em se obter as informações desejadas consiste no motivo para tal. Por que nem todos os dados são disponibilizados? E por que já estamos acostumados com a falta de informações? Isso não parece admissível ao se considerar que o planejamento das cidades e a solução de problemas sociais, econômicos e ambientais passam pela compreensão de um cenário inicial consistente. A Prefeitura do Recife demonstrou limitada capacidade em coletar, armazenar, organizar e divulgar dados referentes à mobilidade urbana. Poucas informações estavam disponíveis por meio de Transparência Ativa e, quando solicitados dados brutos por meio de PINF, a natureza e formato da resposta recebida demonstravam insegurança quanto ao assunto abordado, muitas vezes deixando transparecer que aquelas informações possivelmente nunca tinham sido acessadas ou organizadas antes, mesmo internamente. O mesmo pode-se dizer do Governo do Estado de Pernambuco, que é responsável pela gestão do STPP no Recife, uma vez que o Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT), que opera o sistema, é metropolitano. Além disso, alguns planos referentes à mobilidade urbana foram elaborados pelo Governo do Estado por tratar-se de planos também metropolitanos, porém nenhum deles estava disponível mediante consulta direta ou sequer via PINF. Enquanto à primeira vista as dificuldades na obtenção de informações possam ser interpretadas como má vontade dos responsáveis pela interlocução do lado do poder público, após um grande número de experiências e diálogos em ocasiões diversas, observa-se que o caso parece estar mais próximo de um problema administrativo. A aparente falta de qualificação técnica de alguns profissionais locais em relação às metodologias e à própria necessidade de organização de bases de dados parece refletir-se também na falta de comunicação entre secretarias e departamentos. Mesmo depois de quatro anos de existência da LAI, o sistema de busca de informações fornecido pelo Estado ainda é ineficaz. Enquanto dados advindos de informações menos transitórias como base viária, sistema hidrográfico e localização dos semáforos sejam bem sistematizados e disponibilizados, as informações que carecem de organização na sua captura e dependem de acompanhamento técnico para serem validadas não têm a mesma sorte. Além disso, existe a falta de informação que vem do desconhecimento da importância da sua existência, que muitas vezes denuncia graves lacunas no sistema de planejamento urbano da cidade. Apesar de a Prefeitura do Recife disponibilizar arquivos de base geográfica bastante completos como a infraestrutura viária urbana, o mesmo ainda carece de informações muito importantes para sua compreensão, a exemplo de dois dados essenciais que deveriam estar de posse dos órgãos competentes: hierarquia viária e velocidade máxima regulamentada, por exemplo, não há mapas disponíveis para consulta da população.
- 9. 9 Além da dificuldade de acesso de alguns dados da Prefeitura do Recife, a gestão metropolitana (estadual) do sistema de transporte coletivo dificulta bastante a situação. Tratando-se de uma concessão feita a um consórcio de empresas e com baixíssimo controle pelo órgão responsável, é especialmente difícil obter informações operacionais e custos do sistema, revelando um grave problema de transparência. Se no sistema de transporte coletivo – que conta com instrumentos, medições, prestações de conta e equilíbrios financeiros contratuais – a qualidade das informações é deficiente, a situação dos modos ativos de transporte não é muito melhor. Quando a informação existia, foram necessários mais de um PINF para obtê-la e, ainda assim, muitas vezes os dados chegavam incompletos ou desorganizados. Desta forma, as informações relativas à mobilidade a pé e por bicicleta foram as que mais exigiram pesquisas profundas e em certos momentos levantamentos em campo, pois as informações disponibilizadas por meio de Transparência Ativa e LAI não eram satisfatórias para suprir sua finalidade. Tabela 2 Dados levantados e métodos de aquisição
- 10. A MOBILIDADE URBANA DO RECIFE O processo de análise considerou a combinação de informações de diferentes naturezas, buscando sempre que possível situar os elementos verificados em um contexto local, seja metropolitano, municipal ou em uma escala pontual. Apesar das informações analisadas terem sido separadas nos grandes temas e suas subdivisões, todos os dados foram analisados a partir de uma visão de conjunto que se preocupou em ser abrangente e coerente com o cenário que se traçava. Assim, apesar da preferência já referida por dados secundários, já disponíveis, o objetivo deste trabalho inclui o cruzamento entre eles, sempre buscando encontrar tendências e relações entre informações de naturezas aparentemente distintas, como por exemplo a relação da densidade de linhas de ônibus com a largura das calçadas, ou até a localização dos postos de trabalho com a presença de infraestrutura cicloviária. Foi criado, assim, um banco de dados reunindo todas as informações, localizando-as geograficamente sempre que possível, com foco no período de 2010 até 2015, período para o qual estavam disponíveis quase a totalidade das fontes utilizadas. Também foram incluídas fontes mais antigas como referência, como é o caso por exemplo da Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino, cuja edição mais recente é de 1997 mas deveria ter sido repetida em 2007. Nestes casos, a inexistência dos dados passou a ser analisada, tanto em seus possíveis motivos como nas consequências observadas no processo de planejamento e na qualidade de serviços e equipamentos resultantes. *** 3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA DO RECIFE 3.1 Morfologia urbana e sua influência sobre o sistema de mobilidade O Recife é a quinta menor capital do Brasil em extensão territorial. Todos os seus 217,5km2 , que correspondem a sua área total são classificados como urbano, ainda que a área efetivamente urbanizada seja menor. Seus 94 bairros possuem extensão bastante variada: o maior é a Guabiraba, com 46,17km2 , enquanto o menor é o Totó, com 1,4km2 . A cidade é dividida politicamente em 6 Regiões Político-Administrativas (RPAs). A BR-101 corresponde a um importante elemento definidor da urbanização local, uma vez que agiu como barreira para a ocupação. Escapam de seus domínios as conexões com os municípios do entorno da capital pernambucana, onde não apenas foi transposta a barreira da rodovia, mas se fortalece o efeito da conurbação (facilmente percebida entre o Recife e Camaragibe, como pode ser observado na Figura 1). Considerando a estrutura municipal, o Recife é definido a partir de um sistema viário radial com avenidas que iniciam na região do centro antigo, próximo ao mar, estendendo-se para as demais áreas da cidade. Tais eixos são conectados por anéis que se iniciam na Avenida Governador Agamenon Magalhães, responsável por delimitar o Centro Expandido, e terminam na própria BR-101. Dentre as avenidas radiais destaca- se a Avenida Caxangá, que promove a ligação entre Recife e Camaragibe. Também merece destaque o arco desempenhado pela Avenida Beberibe, responsável por promover a conexão entre bairros da região Norte do Recife, o município de Olinda e a Avenida Norte. Segundo o IBGE, a Região Metropolitana do Recife registrou em 2015 população equivalente a 3.914.317 habitantes, dos quais 41% reside no Recife (1.617.183 habitantes). A distribuição demográfica não é uniforme no espaço, como pode ser observado na Figura 2 e na Figura 3. Há um perceptível vazio populacional na região central, resultado de um processo de esvaziamento do centro e concentração de usos, comum em cidades do mundo todo. A população do 10
- 11. 11 Recife assentou-se historicamente ao longo das margens do Rio Capibaribe, importante eixo indutor do desenvolvimento urbano, de forma a espalhar-se ao longo de sua planície até atingir área de relevo íngreme, como os morros da região norte e sul. Esses locais apresentam atualmente as maiores concentrações populacionais, além dos menores rendimentos médias mensais. O relatório Atlas Brasil (2010) aponta que “o IDHM do Recife é 0,772, o que situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e Figura 3 Distância da população residente ao centro do Recife Fonte: IBGE/2010. Figura 1 Região Metropolitana do Recife – eixos viários, cone- xões metropolitanas e densidade demográfica Fonte: IBGE/2010. Figura 2 Densidade demográfica no Recife Fonte: IBGE/2010.
- 12. 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,825, seguida de Renda, com índice de 0,798, e de Educação, com índice de 0,698”. No entanto, dentro do município as distorções entre o IDHM as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) demonstram que a média de IDHM alto não se aplica a toda a cidade. Com índices variando de 0,608 (Santo Amaro) a 0,955 (Espinheiro, Graças), a desigualdade social fica muito bem demonstrada num raio de menos de 2km, ver Figura 4. Apesar de não contar com nenhuma UDH3 com IDHM considerado muito baixo ou baixo, o Recife tem uma predominância de 50% do índice de IDHM médio. Curiosamente, a faixa da população com IDHM muito alto (30%)é maior do que a população com IDHM alto (20%), demonstrando uma polarização na qualidade de vida da população que espelha a desigualdade social que a cidade vive, inclusive criando um encolhimento da classe média em detrimento de populosas classes média baixa e alta. Além disso, 72% da população com IDHM muito alto está no Recife, demonstrando também o grande papel centralizador que o município exerce sobre a sua região 3 UDH (Unidade de Desenvolvimento Humano) é a menor subdivisão geográfica para a análise de dados do IDHM. Consiste em uma agregação dos setores censitários do IBGE com a intenção de gerar áreas mais homogêneas do ponto de vista das condições socioeconômicas do que a pesquisa do Censo. metropolitana, o que impacta fortemente na dinâmica da mobilidade urbana. Quanto à atividade econômica, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o Recife tinha, em 2010, 670.595 empregos formais, distribuídos de acordo com as seguintes categorias: • Agropecuária: 2.618 (0,03%) • Comércio: 115.971 (17,3%) • Construção Civil: 58.746 (8,7%) • Indústria: 50.129 (7,5%) • Serviços: 443.131 (66,1%) É notória a vocação econômica recifense em torno do terceiro setor da economia, uma vez que comércio e serviços são responsáveis por mais de dois terços dos empregos formais registrados na cidade. Indispensável é localizar onde estão distribuídos esses empregos na cidade, a Figura 5 indica quase um negativo da concentração populacional. As maiores ofertas de postos de trabalho acontecem na área central do Recife, estendendo-se ao longo de eixos viários na direção Oeste e Sul, formando os corredores de comércio e serviço. 12 Figura 4 Distribuição geográfica do IDHM na RMR e no Recife Fonte: Atlas Brasil, 2010.
- 13. Essas áreas atraem não apenas a mão de obra local como também a metropolitana, uma vez que o Recife corresponde a um importante polo econômico para sua região metropolitana. A Figura 6 apresenta as informações disponibilizadas pelo Censo Demográfico (IBGE, 2010) que tratam da dinâmica de circulação populacional diária na Região Metropolitana do Recife. Municípios como Ipojuca e a própria capital destacam- se por suprir as demandas de emprego e estudo de sua população residente, enquanto Camaragibe, Olinda e Paulista mostram-se incapazes de tal expectativa. É importante destacar a importância que a localização da população e postos de trabalho exercem sobre o cenário da mobilidade urbana. A distribuição demográfica e suas concentrações são responsáveis pela geração de viagens na cidade, uma vez que as pessoas saem diariamente de suas casas para exercer suas atividades rotineiras. Também a renda verificada nesses grupos populacionais merece especial atenção, uma vez que ela é fator determinante para a escolha do modo de transporte. Sabe-se que em grupos de renda mais elevados, a predisposição para usar o automóvel é muito superior aos grupos de renda mais baixos, que normalmente correspondem aos usuários do transporte coletivo. Bem como as residências, a localização dos empregos é determinante para a dinâmica de viagens, uma vez que esses são responsáveis pela atração de viagens. Tem-se assim os pares de geração e atração que conduzem ao balé diário dos movimentos populacionais no território. 13 “ A distribuição demográfica irregular e as concentrações de empregos em áreas específicas da cidade são responsáveis pela grande geração de viagens” Figura 5 Concentração de empregos por microrregião Fonte: DIEESE, 2010. Figura 6 Deslocamentos intermunicipais para trabalho e estudo na RMR Fonte: IBGE, 2010.
- 14. 3.2 Dinâmica de viagens no território Enquanto a localização dos usos do solo permite ter uma ideia de como se dá a dinâmica de viagens no espaço, pesquisas específicas podem aperfeiçoar essa percepção atingindo até mesmo um alto nível de aproximação com a realidade, como é o caso da Pesquisa Origem-Destino. Conhecida como OD, trata- se da mais completa das pesquisas de mobilidade que oferece informações sobre o perfil socioeconômico populacional, seu padrão de viagens e sua escolha modal. A Pesquisa OD é realizada a partir de entrevistas domiciliares em uma amostra determinada por critérios estatísticos para cada uma das zonas de tráfego definidas no espaço urbano. A partir dessa pesquisa é possível obter um amplo conhecimento das caraterísticas dos deslocamentos das pessoas, o motivo da viagem, o horário e o tempo de percurso e os meios de transporte utilizados, entre outras informações. De seus dados, deriva a matriz de origem e destino por modo que é representada por agregações territoriais (zonas de tráfego), fundamental para a análise das redes viárias e de transporte coletivo. Sua realização demanda altos custos, em caso de orçamentos modestos o tamanho da amostra de domicílios pode inviabilizar sua aplicação, dependendo do tamanho da cidade e da confiabilidade desejada. Por esse motivo muitas cidades deixam de fazê-la, como é o caso de Recife. O Recife viu sua última pesquisa OD realizada em 1997, tendo sido essa uma pesquisa de abrangência metropolitana. Infelizmente sua base de dados não foi disponibilizada pelo poder público, que forneceu apenas um relatório técnico com a análise de seus resultados. Ainda assim foi possível extrair informações importantes como a divisão modal metropolitana, conforme Figura 7. À época da pesquisa destacavam-se os modos coletivos de transporte como os mais utilizados pela população do Grande Recife (mais de 44% das viagens diárias). Destaca-se a proximidade entre o número de viagens realizadas por transporte individual e a pé (29% e 24% respectivamente), demonstrando a importância que o transporte a pé apresenta em toda a RMR. 14 A MORFOLOGIA URBANA DO RECIFE E SUA RELAÇÃO COM O SISTEMA DE MOBILIDADE SOB O OLHAR DA PNMU O esvaziamento populacional da região central, que levou o espalhamento de bairros de baixa renda e grande concentração de habitantes para a periferia (inclusive metropolitana), associado à concentração de empregos promoveu um cenário de distanciamento das oportunidades de emprego e moradia. Esse fenômeno pode gerar sobrecarga dos sistemas de transporte (especialmente para os modos coletivos e individuais motorizados), além dos óbvios problemas de segurança advindos do esvaziamento populacional das áreas restritas a certas atividades em horários específicos do dia, como as áreas estritamente comerciais no período noturno. A não conectividade entre tais elementos demonstra que o planejamento da mobilidade da cidade do Recife tem sido tratado de forma dissociada do planejamento urbano, ambiental, além de políticas habitacionais e se de segurança pública, embora essa seja uma diretriz clara da PNMU. Figura 7 Divisão modal na RMR Fonte: EMTU/1998. *Outros: inclui caminhão, barco e bicicleta. ** Individuais não motorizados: considera os modos a pé e bicicleta.
- 15. Interessante é considerar o modo de transporte utilizado de acordo com as faixas de renda da população. A análise da Figura 8 pode revelar algo já esperado no cenário nacional, o uso de modos de transporte coletivo ou a pé são utilizados massivamente por indivíduos representantes das faixas de renda até oito salários mínimos, de forma que o transporte individual satisfaz a demanda de viagens principalmente das classes de renda mais altas, classes essas que apresentam quase inexpressividade em viagens a pé, de bicicleta ou no transporte coletivo. Outra análise que agrega informações é a do índice de mobilidade. Esse é um indicador muito utilizado para avaliar o número de viagens médios que uma determinada população realiza diariamente. Ao se comparar viagens de acordo com as faixas de renda, fica evidente o quanto os grupos de menor poder aquisitivo são penalizados quanto à capacidade (ou disponibilida de) de viajar pela cidade, tirando proveito de suas oportunidades. A Figura 9 apresenta exatamente esse fenômeno, apesar de a busca por oportunidades e encontros ser o principal motivo pelo qual moramos em cidades, aqueles que têm mais recursos financeiros acabam tendo mais possibilidade de circular no espaço urbano, sendo que em 1997 a faixa de renda mais alta tinha uma taxa de mobilidade quase quatro vezes mais elevada que a daqueles com renda mais baixa. Considerando-se o motivo de viagem, é evidente que a viagem com destino domicílio são as em maior número. Para a realização de análises essas devem ser desconsideradas por serem consideradas obvias. Assim, passam a ganhar destaque as viagens por motivo trabalho e estudo, correspondendo a soma das duas a ¾ do total. As demais viagens apesar de não se destacarem tanto em importância são essenciais para 15 Figura 8 Divisão modal e renda na RMR Fonte: EMTU/1998. Figura 9 Índice de mobilidade e renda Fonte: EMTU/1998. “Aqueles que têm mais recursos financeiros acabam tendo mais possibilidade de circular no espaço urbano”
- 16. o emprego das funções urbanas. Lazer, compras, saúde e assuntos pessoais constituem motivos de viagem corriqueiros e sua inserção em qualquer análise que se deseje pertinente é indispensável. Assim, não se pode deixar de contemplar este tipo de viagens nas próximas pesquisas de OD a serem feitas no Recife, sob o risco de perder-se tanto a série histórica da proporção de viagens de trabalho e estudo, que vem caindo, quanto de outros tipos de viagem menos presentes, porém que vêm apresentando um aumento considerável, como é o caso do motivo “assuntos pessoais/negócios”, que, de 1972 para 1997, passou de 7,8% para 11%, ver Tabela 3. Outro fator avaliado pela Pesquisa OD de 1997 correspondeu ao número de transferências necessárias para a realização de viagens pela população, por modo de transporte. Esse número pode ser muito importante para a compreensão da operação dos modos e sua capacidade de trabalhar como sistema. Em cidades com sistemas de alta capacidade sobre trilhos, é comum que exista a alimentação desses por ônibus, que trazem passageiros das áreas que não possuem cobertura daqueles. Para o Recife observou-se reduzido número de transferências para o sistema de transporte coletivo, conforme explicação do resumo executivo transcrito a seguir: É interessante destacar o percentual elevado das viagens “Sem transferência” no modo ônibus (88,7%) e lotação (94,5%), o que representa uma oferta quase de ponto a ponto. Também deve-se ressaltar que o modo ônibus, base do transporte de massa da RMR, apresenta um percentual baixo de viagens com “1 transferência” (9,6%), significando uma oferta muito boa do serviço em termos de atendimento direto entre as diversas origens e destinos da população, diferente do sistema em via fixa que apresenta percentuais mais elevados (13,8% no metrô e 14,2% no trem), tendo- se em conta a amplitude da área atendida e as demandas significativamente menores desses modos.” Este comentário demonstra algumas noções claras sobre o sistema de transporte coletivo: 16 “Os grupos de menor poder aquisitivo são penalizados quanto à capacidade (ou disponibilidade) de viajar pela cidade” Tabela 3 Distribuição das viagens diárias por motivo em 1972 e 1997 Fonte: EMTU, 1998.
- 17. • Ao quantificar a oferta de atendimento direto como “muito boa” (em vez de “muito alta”, por exemplo), fica claro o posicionamento favorável da EMTU/Recife ao planejamento e sobreposição de linhas individuais para cada região da cidade em detrimento da troncalização do sistema de ônibus, já presente em 1997 em cidades brasileiras como Curitiba/PR e Porto Alegre/RS; • A cristalização desta ideia ao longo dos anos é um dos motivos mais fortes para a não-implantação de um sistema de integração temporal na RMR; 3.3 O Sistema de Transporte Coletivo Segundo o Diagnóstico do Plano de Mobilidade do Recife (2010), o Serviço de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife é composto, predominantemente, pelos seguintes sistemas: • Sistema de Transporte Público de Passageiros- STPP, gerido pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT). • Sistema de Transporte Complementar de Passageiros do Recife – STCP, gerido pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) da Prefeitura do Recife; • Sistema de Transporte de Passageiros Sobre Trilhos da Região Metropolitana do Recife – STPST-RMR, administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU, através da Superintendência de Trens Urbanos do Recife – METROREC; Esses três sistemas coexistem na cidade do Recife, dando origem à rede esquematizada na Figura 10 e mais detalhada na Figura 11. Considerando a • A ideia de que percentuais mais elevados de transferência no sistema sobre trilhos são apresentados como um problema é sintomática do desconhecimento do funcionamento dos diversos modais de transporte e demonstra certa superficialidade na análise, pois não se leva em conta que as transferências nestes sistemas são gratuitas e mais intuitivas, uma vez que o desembarque do metrô ou trem sempre é feito dentro de um terminal fechado, sendo a transferência parte da própria natureza do sistema sobre trilhos. importância do STPP sobre os demais, as análises aprofundadas sobre o transporte coletivo concentraram esforços sobre ele. O sistema de transporte público de passageiros da RMR – STPP A Lei Estadual nº 8.043, de 19 de novembro de 1979 instituiu o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife, atribuindo sua supervisão, coordenação e controle dos serviços e operação à EMTU/Recife. Em março de 1980, “iniciam- se efetivamente as atividades da EMTU/Recife” e, no mesmo mês “a Prefeitura do Recife repassa à EMTU/ Recife, através de convênio com o Governo do Estado, a gestão do STPP do município”. Após a extinção da EMTU/Recife foi criado formalmente, no dia 08 de setembro de 2008, o Grande Recife Consórcio de Transporte, a primeira experiência de consórcio no setor de transporte de passageiros no Brasil. O GRCT gerencia um sistema operacionalizado por 13 empresas de ônibus, que realizam mais de 26 mil viagens por dia, transportando cerca de 2 milhões 17 A DINÂMICA DE VIAGENS NO RECIFE SOB O OLHAR DA PNMU A pesquisa OD realizada em 1997 ainda é a principal fonte de dados sobre viagens utilizada para o planejamento da mobili- dade urbana, porém a sua desatualização pode não representar de forma correta a realidade atual. Ainda que desatualizada essa pesquisa revela traços na divisão modal que não diferenciam o Recife da realidade das demais cidades brasileiras: classes de renda mais alta além de possuírem maior acesso à cidade e suas oportunidades (reflexo do maior número médio de viagens diárias) também são as que mais utilizam o automóvel em seus deslocamentos. Já o trans- porte coletivo e os modos não motorizados de transporte são os mais utilizados pelas classes mais baixas de renda. A grande questão que fica no ar é: será que todos os modos de transporte recebem a mesma atenção do poder público em suas ações?
- 18. 18 de passageiros diariamente. São mais de 3 mil ônibus e 394 linhas atendendo a toda a RMR. São considerados objetivos do GRCT: • Planejar e gerir o STPP; • Contratar serviços de transporte através de licitação; • Regulamentar atividades concedidas; • Fiscalizar e atualizar contratos de concessão; • Agilizar a implantação do Sistema Estrutural Integrado – SEI. Sistema de Transporte Complementar de Passageiros – STCP Operado pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU, é destinado à função de irrigar áreas pouco acessíveis a ônibus grandes padrão e cumprindo trajetos economicamente deficitários. O Sistema Complementar de Transporte de Passageiros do Recife (STCP) tem como principal foco de atuação os morros de três das seis Regiões Político-Administrativas e opera com veículos menores em linhas alimentadoras (gratuitas) e interbairros. Obedecendo à mesma lógica do sistema metropolitano, ou seja, implantação de linhas baseadas em “origem- destino”, o Sistema Complementar acaba por se sobrepor à rede implantada, inclusive compartilhando longos trechos com o Sistema Estrutural Integrado. O Sistema de Transporte de Passageiros Sobre Trilhos da Região Metropolitana do Recife – STPST-RMR O sistema de transportes de passageiros sobre trilhos da RMR – Região Metropolitana do Recife é administrado pela CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos, através da Superintendência de Trens Urbanos do Recife – METROREC, unidade operacional que atende diretamente os municípios do Recife, Cabo, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe e, indiretamente, os demais municípios da Região Metropolitana, através da integração com o transporte sobre pneus. O sistema sobre trilhos possui três linhas implantadas nos corredores centro e sul da RMR – as Linhas Centro e Sul, eletrificadas, com padrão de trem metropolitano e a Linha Diesel, com tração a diesel e características de trem de subúrbio. O traçado da Linha Centro é definido por uma linha troncal que parte da Estação Recife, na área central da cidade, e segue no sentido oeste até a Estação Coqueiral, onde se divide em dois ramais: Jaboatão e Camaragibe. A Linha Sul inicia-se paralelamente à Linha Centro, com as estações Recife e Joana Bezerra comuns a ambas as linhas, e segue na direção sul até a Estação Cajueiro Seco. Atualmente, com 28 estações e 39,5 km de extensão, o sistema metroviário transporta aproximadamente 205 Figura 10 Esquema do STPP/RMR Fonte: PDTU/2008.
- 19. 19 mil usuários/dia, dispõe de integração física e tarifária com 62 linhas de ônibus através de 7 terminais fechados do Sistema Estrutural Integrado (SEI), permitindo aos usuários o acesso a toda a RMR mediante o pagamento de uma única passagem, além de dispor de integração somente tarifária com outras 30 linhas de ônibus. *** A distribuição de linhas de ônibus no Recife foi alvo de estudo para o Diagnóstico do Plano de Mobilidade do Recife, realizado em 2010 pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS). Segundo tal documento, o serviço de ônibus é estruturado da seguinte maneira: • 395 linhas/itinerários compõem o STPP; • 372 linhas/itinerários são geridas pelo Consórcio Grande Recife; • 23 linhas/itinerários são vinculadas ao Sistema de Transporte Complementar de Passageiros – STCP, gerido pela CTTU; • 377 linhas/itinerários transitam dentro da cidade do Recife (95,4% do total do STPP); • 281 linhas/itinerários acessam ao Centro Expandido do Recife (74,5% do total de linhas que transitam no Recife); • 190 linhas/itinerários transitam pelos 2km da Avenida Conde da Boa Vista (67,6% das linhas que acessam o centro do Recife e 48% das linhas do STPP). É surpreendente que no Centro Expandido do Recife, que possui uma área de apenas 9km², circulem diariamente 281 linhas de ônibus. Para um sistema que deseja, ou se autodenomina tronco-alimentado, essa é uma condição impensável. Mais marcante ainda é o caso da Avenida Conde da Boa Vista, utilizada por até 190 linhas. Essa condição compromete a operação do sistema, uma vez que o excessivo número de ônibus em circulação na mesma via pode tornar o sistema mais lento, com a formação de filas nos pontos de parada e maiores tempos para embarque e desembarque. A Figura 12 indica as áreas da cidade onde há concentração de ônibus em circulação, apresentadas na forma de mapa de calor. Figura 11 Sistema de transporte público coletivo do Recife Fonte: GRCT (2016) e PCR (2016). Figura 12 Infraestruturas de priorização do ônibus e densidade de linhas de ônibus Fonte: GRCT (2016) e PCR (2016).
- 20. 20 Chama atenção uma forte correlação entre a densidade de linhas e a concentração de empregos (ver Figura 5) indicando que o sistema de ônibus foi estruturado como forma de suprir a demanda por viagens de trabalho, que infelizmente não estão distribuídas de forma igualitária no território, especialmente nas regiões de maior concentração populacional. Considerando a escala urbana do Recife, uma vez que essa não é uma cidade com dimensões muito grandes comparada a outras capitais brasileiras, esse não chega a ser um problema; porém ao se transferir essa condição para cidades onde o centro localiza-se a muitos quilômetros de distância dos bairros residenciais, cria-se uma grave situação para a mobilidade urbana local. O sistema conserva, ainda, a noção “origem-destino” como o conceito para definir seus itinerários, quando “origem-destino” deveria ser utilizado como base para o dimensionamento de uma rede mais racional, com múltiplas conexões, como pressupõe o Sistema Estrutural Integrado – SEI. 3.3.1 A priorização do ônibus no sistema viário Existem diversos níveis de priorização do transporte coletivo no sistema viário, desde os mais complexos como os que promovem a inteira segregação dos ônibus, comumente utilizado nos serviços de BRTs, até os mais simples como faixas exclusivas implantadas à direita da via. Apesar de apresentar limitações de ganhos operacionais, se comparada com relação a opções mais complexas, a faixa exclusiva à direita da via possui baixo custo de implantação, podendo em muitos casos ser implantada com recursos próprios de municípios sem necessidade de recorrer a esferas estaduais ou federais para o financiamento das obras. Ademais, a implantação de faixas exclusivas à direita é um processo rápido, podendo ser realizado em um curto período de tempo, inclusive em vias que posteriormente receberão outro tipo de prioridade, como um corredor à esquerda. Dos 2.400 km de vias que compõem o sistema viário do Recife, 650 km são destinados à circulação dos ônibus do STPP e STCP. Desse total apenas 32,5km algum tipo de priorização frente ao tráfego geral (ver Figura 13 e detalhe na Figura 12). Isso significa que, de todas as ruas percorridas por ônibus no Recife, apenas 5% contam com faixa exclusiva de circulação. Este dado é importante e demonstra despreocupação para dar maior velocidade e melhores condições operacionais ao sistema de ônibus, resultando assim em melhor grau de confiabilidade4 por parte de seu usuário. Com 95% do percurso dos ônibus suscetíveis a engarrafamentos causado pelo excesso de veículos automotores particulares, a tarefa de alcançar o tão sonhado “transporte público de qualidade” torna-se de difícil cumprimento. Apesar de a frota de ônibus do STPP ser equipada com equipamentos GPS desde 2011, tendo apenas sua informação disponível ao vivo através do aplicativo móvel Cittamobi, não é disponibilizado ao público o dado de velocidade média operacional do transporte público por linha ou mesmo a velocidade média do sistema como um todo. Ou seja, não existem informações sobre as velocidades praticadas pelos ônibus atualmente permitindo a comparação do benefício obtido pela implantação de uma faixa exclusiva de ônibus. 3.3.2 Cobertura do sistema de ônibus A cobertura do transporte coletivo consiste na abran- gência do serviço sobre a população residente. Quanto maior a abrangência, maior a acessibilidade da popula- ção ao mesmo e assim provavelmente maior será sua utilização. Áreas não atendidas levam à população a bus- car modos alternativos de transporte. A cobertura é representada por uma relação direta entre o número de habitantes que se encontram dentro da área de cobertura do sistema de transporte coletivo urbano, considerando todos os seus modos, e o número total de habitantes inseridos no perímetro urbano municipal. É importante destacar que para um sistema de transporte coletivo, independentemente do modo utilizado, a área de cobertura é dada a partir do ponto 4 A confiabilidade de um sistema de transporte coletivo, segundo Ferraz e Torres (2004), está relacionada ao grau de certeza dos usuários de que os veículos de transporte coletivo vai passar na origem e chegar os destino no horário previsto, com, evidentemente, alguma margem de tolerância. Por definição, ela acaba refletindo na avaliação direta que o usuário faz a respeito do sistema de transporte. “De todas as ruas percorridas por ônibus no Recife, apenas 5% contam com faixa exclusiva de circulação”
- 21. 21 de acesso ao sistema, ou seja, estações, terminais e pontos de ônibus. Obviamente cada modo possui um nível de cobertura, de forma que aqueles que possuem maior capacidade como metrôs e trens metropolitanos possuem raios de abrangência bastante amplos (chegando a um quilômetro de extensão), diferente dos sistemas de ônibus alimentadores que possuem abrangência de 300 metros a partir do ponto de acesso. A população atendida imediata, ou seja, aquela que vive a menos de 300 metros lineares de um ponto de ônibus, é de 1.467.328 habitantes, ou 95,5% da população recifense, enquanto que a população não atendida, que mora a mais de 150 metros de pelo menos uma linha de ônibus, é de 70.376 pessoas (4,5% da população). Apesar de ser um número pequeno, fica bem claro que quem mora nas partes não atendidas da cidade é justamente quem mais se beneficiaria do transporte público, pois trata-se de regiões de baixo poder aquisitivo e de baixo desenvolvimento humano (perfil de usuários do sistema de transporte coletivo segundo a Pesquisa OD de 1997) em comparação com a média da cidade, como. Dentre essas áreas destacam- se: Santo Amaro, Nova Descoberta, Bola na Rede, Brejo da Guabiraba, Passarinho, Barro, Tejipió, Jordão, Ibura e Coque. 3.3.3 Demanda de usuários do sistema de ônibus metropolitano O Anuário Estatístico do GRCT (2013) traz informações a respeito da operação do sistema de ônibus metropolitano na grande Recife além de dados representativos da demanda de passageiros. Para compreender a demanda é necessário antes avaliar os elementos que refletem a operação do sistema como um todo, uma vez que a escolha pelo modo ônibus perpassa por fatores que dependem da qualidade, como: confiabilidade, disponibilidade, entre outros. Observando-se o índice de cumprimento de viagens (correspondente à proporção de viagens realizadas a partir do total de viagens programas), até o ano de 2010 situava-se acima de 99%, um resultado bastante positivo. No entanto, a partir do ano de 2011, este indicador sofreu uma queda brusca, tendo alcançado, em 2013, o índice de 96%, mais baixo do que o problemático ano de 2003, quando houve uma sobrecarga na demanda do sistema após a extinção do sistema informal de kombis que circulavam há muitos anos e mascarava a real demanda do sistema de ônibus. Ver detalhes na Figura 14. Figura 14 Índice anual de cumprimento de viagens do STPP, 1987 – 2013 Fonte: GRCT, 2013. Figura 13 Sistema viário com exclusividade para circulação de ônibus Fonte: GRCT (2016) e PCR (2016).
- 22. 22 Já os dados do Sistema Complementar de Transporte Público são bem mais preocupantes, tendo sido analisado apenas o ano de 2015. Mesmo para um sistema que pretende apenas preencher vazios de demanda entre morros e fazer algumas ligações estratégicas entre áreas isoladas e terminais integrados, a quantidade de viagens realizadas dentro das viagens programadas nunca ultrapassou os 93%, tendo inclusive tido o desastroso desempenho de 74% no mês de dezembro, como indicado na Figura 15. O STPP vem demonstrando instabilidade quanto sua demanda de passageiros ao longo dos últimos anos. O sistema apresentou queda contínua de passageiros na metade dos anos 1990 até o início dos anos 2000, com recuperação a partir de 2003. Esse fenômeno possivelmente está associado à extinção do serviço irregular que concorria com o atendimento formal dos ônibus, de maneira que os passageiros dos serviços de vans teriam migrado para o serviço regular, ver Figura 16. Interessante é observar que a queda no índice de cumprimento de viagens é registrada no mesmo período em que se registra a queda de passageiros transportados pelo sistema, é bem provável que um tenha influenciado o outro, uma vez que a demanda é diretamente suscetível aos padrões de qualidade. 3.3.4 Índice de passageiros por Quilômetro - IPK O IPK é utilizado para avaliar a produtividade (eficiência) de um determinado sistema de transporte, de forma que quanto mais alto seu valor, maior é o número de passageiros que estão sendo transportados por quilômetro rodado e, portanto, menor o custo unitário por passageiro. Considerando sua definição, ele não é um indicador bom para o passageiro, de forma que preza pelo maior número de pessoas por veículo (medida muito associada à lotação). No entanto, o IPK pode apresentar valores altos sem significar ônibus lotado, pela simples razão de que ele tem referência direta ao sobe e desce de passageiros. Isso quer dizer que uma linha que apresente um intenso volume de pessoas que sobem e descem dos ônibus em diversos momentos não necessariamente tem seus veículos lotados, e ainda pode transportar mais pessoas que uma linha que tenha por característica a pendularidade. Figura 15 Índice de cumprimento mensal de viagens do STCP em 2015 Fonte: PCR, 2016. Figura 16 Oferta de viagens e demanda de passageiros entre 1983 e 2013 Fonte: GRCT, 2013.
- 23. 23 Vale relembrar que o modelo de transporte coletivo verificado no Recife caracteriza-se pela pendularidade, com poucos transbordos e intensa concentração de linhas nos principais corredores, com uma oferta quase ponto a ponto (segundo relatório da Pesquisa OD – EMTU, 2008). Tal condição reflete os valores verificados para o IPK do STPP, conforme Tabela 4. O IPK é utilizado para definição da tarifa técnica, que serve de base para o cálculo do valor da tarifa do sistema. Nesse processo considera-se a divisão do custo médio do sistema por quilômetro rodado pelo IPK. O custo médio por quilômetro leva em conta tanto custos fixos quanto variáveis, perpassando por elementos como: preço do diesel, peças e acessórios, encargos e salários, custos de administrativos, entre outros. A Figura 17 compara o IPK do STPP/RMR com o de outras cidades do Brasil, demonstrando o baixo desempenho do sistema operado na cidade. Um dos motivos pode ser a já citada sobreposição excessiva de linhas combinada com a falta de integração tarifária temporal, que reforça o uso do ônibus como deslocamento pendular e cria linhas mais longas do que o necessário, reduzindo o número de subidas e descidas de passageiros por quilômetro. Apesar de cumprir, ainda que parcialmente, seu papel perante a Lei de Acesso à Informação e prestar dados de custo do sistema nos seu Anuários publicados no site, os dados disponibilizados são insuficientes para o desenvolvimento de uma análise aprofundada a respeito dos custos do transporte por ônibus. Essa é uma condição essencial para o início de qualquer Tabela 4 IPK equivalente mensal do STPP, 2013 Fonte: GRCT, 2013. Figura 17 IPK do STPP/RMR em comparação com outras cidades brasileiras em 2013 Fonte: IEMA, 2015.
- 24. 24 discussão sobre tarifas cobradas de seus usuários, uma vez que pelo atual modelo de remuneração do sistema de transporte coletivo, a tarifa é responsável pela remuneração do serviço prestado por seus operadores. Ainda assim é possível efetuar análises superficiais sobre custos do sistema. Observando-se as informações sobre custo de combustível, “rodagem” e veículo padrão do STPP, chama a atenção a oscilação nos valores mensais dos insumos, particularmente da rodagem no mês de maio e no diesel em dezembro (ver Figura 18). Se a rodagem está vinculada à pneus e câmaras, o que teria acontecido para levar um crescimento tão expressivo entre os meses de abril e maio? Quanto ao preço do diesel, o aumento verificado está diretamente associado ao aumento de custo desse insumo no mercado nacional, exatamente no mês de dezembro de 2013, embora esse ajusta tenha sido de apenas 8%, bem menor que o registrado para o Recife, conforme detalhado pelo Boletim Anual de Preços (ANP, 2014). Os dados fornecidos a respeito do Sistema Complementar foram inconclusivos para gerar qualquer análise, mesmo que ainda simplificada como as apresentadas para o STPP. 3.3.5 Política Tarifária Criado em 1984, o SEI- Sistema Estrutural Integrado, é o sistema troncal de integração de transporte público bimodal da RMR, o qual disponibiliza diversas alternativas de linhas pagando-se apenas uma tarifa por sentido. O SEI é caracterizado por um sistema troncoalimentador e operado por meio de integrações (ônibus x metrô) que são realizadas em terminais fechados. Em 1994 foi construído o primeiro Terminal Integrado na PE-15, onde também foram concebidas as primeiras linhas alimentadoras e uma troncal com sentido ao centro do Recife. Em 1996 outras linhas foram criadas, mais algumas troncais e linhas perimetrais e integrações de tarifas em terminais interligados as estações do metrô do Recife tornando o SEI a partir daí num Sistema Integrado Multimodal, desde então operacionalizando outros terminais. Figura 18 Variação mensal dos custos do STPP ao longo de 2013, em relação ao valor de janeiro Fonte: GRCT, 2013. “Os dados disponibilizados são insuficientes para o desempenho de uma análise aprofundada a respeito dos custos do transporte por ônibus” Tabela 5 Tarifas do STPP para 2016 Fonte: GRCT, 2016.
- 25. 25 Apesar da existência de tecnologia para permitir a integração temporal sem necessidade de um espaço físico confinado para a troca de ônibus – o próprio cartão VEM apresenta tecnologia para isso desde 2010 – existe uma grande presença da imagem dos TIs dentro do STPP. Contudo o Consórcio não dá esperanças para a adoção de uma integração tarifária temporal, tão comum nas cidades brasileiras de porte equivalente ao Recife. A partir do dia 19/01/2016, a tarifa principal do STPP – Anel A – era de R$ 2,80. No entanto, há múltiplos tipos de linhas e de tarifas, descritos na Tabela 5, incluindo o desconto “meia tarifa para todos” aos domingos (no metrô, a tarifa é de R$ 1,40 e não varia aos domingos). A questão que ressalta aos olhos está associada ao modelo tarifário estabelecido para o sistema. É comum e até esperado que linhas com abrangência mais distante apresentem tarifas mais caras. No entanto, ao se pensar na dependência que os municípios vizinhos apresentem frente ao Recife, especialmente quanto à oferta de empregos, considerando especialmente as condições socioeconômicas de suas populações, parece injusto que se pague uma tarifa tão cara para viajar. Essa é uma questão de difícil solução, mas que merece reflexão por parte do poder público e também da sociedade como um todo. 3.3.6 Opinião dos Usuários O anuário do Consórcio Grande Recife apresenta, de forma bastante superficial, uma pesquisa de satisfação de seus usuários. O documento do anuário é relativamente rico em dados, no entanto tem pouca ou nenhuma informação sobre a metodologia utilizada para a captação e o significado de cada conceito aplicado. Apesar desta falta de objetividade na análise da qualidade do serviço, as empresas são avaliadas pelo próprio consórcio através de um processo que pode, em caso de persistência de baixas notas, resultar na perda da concessão. O Relatório de Análise da Qualidade de Desempenho (RAQD) deveria se basear em critérios objetivos e dados gerados pelo próprio sistema, e foi amplamente divulgado na época da licitação como um instrumento de controle social do cumprimento das obrigações e melhoria na qualidade do serviço prestado. No entanto, a RAQD parece não ter sido implantada mesmo alguns anos após a assinatura dos contratos e não há sinal de sua execução ou divulgação nos canais oficiais do Consórcio. Figura 19 Evolução tarifária do STPP, 1994 – 2016 Fonte: GRCT, 2016. O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO RECIFE SOB O OLHAR DA PNMU A rede de ônibus do Recife, planejada para operar como um sistema tronco-alimentado, apresenta uma configuração de linhas que se distancia em muito do modelo previsto. A excessiva sobreposição de linhas e a operação quase porta-a-porta são indícios claros de que o sistema possui uma configuração bastante diferente daquela prometida. Possivelmente um dos maiores problemas associados a essa condição consiste na perda de eficiência, uma vez que o acentuado número de veículos trafegando no mesmo corredor viário resulta em congestionamento, aumento do tempo de viagem, redução da velocidade operacional, maior consumo de combustível, aumento dos custos de prestação do serviço, que levam à perda de confiabilida- de e perda de passageiros. Isso sem falar na piora das condições ambientais como o aumento das emissões de poluentes. Além disso, a falta de acesso à dados como informações detalhadas sobre a operação do sistema e seu custo levam a um cenário de distanciamento da gestão democrática e controle social dos gastos públicos.
- 26. 3.4 O Sistema Cicloviário de Transporte Utilizar a bicicleta no Recife é uma condição comum à população, embora a última Pesquisa OD, realizada em 1997, tenha tratado esse modo de transporte com desatenção. À época eram maiores os volumes de ciclistas que o volume de motociclistas na cidade, como retrata a referida pesquisa. No entanto o modo bicicleta foi agrupado a outros de menor peso sobre o universo de viagens enquanto o modo motocicleta foi tradado em separado, como os modos mais utilizados (ônibus, a pé ou automóvel). A opção por desconsiderar a bicicleta dentre os modos mais representativos parece ter uma relação direta no modo que as últimas administrações municipais a veem no cenário da mobilidade, não a enxergando como um modo efetivo de transporte. A realização do Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (PDC/RMR) indicou uma oportunidade de reconhecimento da bicicleta. Para seu desenvolvimento foi realizada uma pesquisa com ciclistas que tinha como pretensão identificar o perfil das pessoas que realizam suas viagens pedalando, tendo sido essa a mais interessante fonte de informações sobre esse modo de transporte até o presente momento. Os resultados obtidos indicam que mais de 50% dos ciclistas metropolitanos afirmam escolher a bicicleta para realizar suas viagens por esse ser um modo de se deslocar mais rápido e prático. Pode-se dizer que parte dos recifenses usa a bicicleta por opção, mas muitos a utilizam por necessidade e mais da metade das viagens em bicicleta dá-se por motivo de trabalho (58%), segundo a pesquisa de perfil do ciclista, ver Figura 20. Ainda segundo a mesma pesquisa, a duração média das viagens encontra-se entre 11 a 30 minutos, sem a necessidade de realizar transferências para outros modos de transporte. Também segundo o PDC, mais de 75% dos entrevistados disseram que usariam com maior frequência a bicicleta caso houvesse mais infraestrutura cicloviária e segurança no trânsito, deixando claro que o número de ciclistas nas ruas do Recife teria um grande aumento se a cidade fosse percebida como mais atrativa pela população. Isso quer dizer que há uma demanda reprimida para o uso da bicicleta na cidade, embora o poder público pareça não se preocupar com esse potencial (como será apresentado a seguir) e tem optado, nos últimos anos, por ignorar as informações que ele próprio investiu em coletar e sistematizar. 3.4.1 Infraestrutura existente e abrangência do sistema cicloviário À época do levantamento de dados (dezembro/2015), o Recife contava com cerca de 38,8 km de infraestrutura de circulação cicloviária, todos implantados nos últimos 10 anos (ver Figura 21). No início da atual gestão municipal, em 2013, foi iniciada uma expansão considerável da malha cicloviária temporária, ou seja, com circulação exclusiva de bicicletas em períodos limitados (domingos e feriados, das 7h às 16h). Após mais de um ano sem criar nenhuma infraestrutura cicloviária fixa (ciclovias e ciclofaixas), a Prefeitura do Recife aproveitou o lançamento do PDC para reafirmar seu compromisso feito durante a campanha eleitoral de 2012 de implantar 76 km de ciclovias e ciclofaixas até o fim do mandato. No entanto, a promessa não se cumpriu. Nos dois primeiros anos de governo foram executadas apenas duas ações em termos de infraestrutura cicloviária: (i) transformação de 3,74 km de ciclofaixas móveis em fixas, nos bairros de Afogados e Imbiribeira; (ii) criação da rota cicloviária ligando o Figura 20 Motivação de viagem e tipo de usuário de bicicleta na RMR Fonte: PDC, 2014. 26
- 27. bairro do Rosarinho ao bairro de Campo Grande, com 1,72km de ciclofaixas e ciclorrotas. O sistema cicloviário resultante é apresentado na Figura 22. A observação da infraestrutura cicloviária existente indica alguns pontos de cuidado. Em primeiro lugar chama atenção a falta de conectividade entre as ciclovias e ciclofaixas. É natural que existam interrupções no sistema de circulação de bicicletas, especialmente ao se transpor áreas de residenciais com baixo volume de veículos e tráfego acalmado. Porém o que se observa é praticamente o oposto, pois as grandes conexões viárias entre bairros e até mesmo metropolitanas foram esquecidas na implantação dessa infraestrutura. Em segundo lugar, fica clara a predileção pela implantação do sistema cicloviário em áreas de maior desenvolvimento humano, coincidentes com as de maior poder aquisitivo local. Embora essa não é uma regra, haja visto casos como o de Brasília Teimosa5 , por exemplo, que possui ciclofaixa conectada ao sistema da Boa Viagem de fronte ao mar. A Figura 22 retrata na cor verde as manchas que indicam as áreas do Recife que possuem os maiores índices de desenvolvimento humano municipal, mostrando uma grande sobreposição entre tais regiões e as áreas de influência do sistema cicloviário (considerada a partir de 300 metros do eixo da ciclovia na cor vermelha). A abrangência do sistema cicloviário existente considera 8% da população do Recife. 5 Assentamento de baixa renda e origem informal de localização privilegiada (na continuidade da Boa Viagem e muito próximo à região central do Recife). Figura 21 Crescimento da infraestrutura cicloviária do Recife, separada entre permanente e efêmera Fonte: PCR, 2016. Tabela 6 Infraestrutura cicloviária no Recife por tipologia Fonte: PCR, 2016. 27 Figura 22 Sistema cicloviário do Recife e área de influência de 300m sobrepostos às regiões de maior IDHM Fonte: PCR (2016) e IBGE (2010).
- 28. 28 O problema observado nas novas infraestruturas é de uma ordem bem mais importante do que apenas seu comprimento em quilômetros, e diz respeito à sua tipologia: foram feitas ciclofaixas e não ciclovias, contrariando as recomendações do PDC. Além disso, elas ainda foram implantadas com larguras bem inferiores aos mínimos recomendados não somente pelo plano elaborado, mas também por todas as publicações de referência no desenho de infraestrutura cicloviária de circulação no Brasil. Diante da falta de padronização das intervenções, a Prefeitura foi sistematicamente criticada na imprensa pela população e pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife (Ameciclo). Em resposta a isso, foi garantido que as próximas intervenções iriam seguir o traçado e especificações técnicas exigidos pelo PDC, além do anúncio de que entre novembro e dezembro desse ano seriam implantadas ciclovias nos bairros do Cordeiro e Engenho do Meio. Outro dado interessante que auxilia na caracterização do sistema cicloviário local consiste na contagem do volume de ciclistas realizado pela Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos – CTTU em 2008, publicado em 2010. Realizado nas principais vias da cidade, esse levantamento teve posteriormente seus resultados ratificados a partir de contagens realizadas pela Ameciclo no ano de 2013. Os volumes verificados nas contagens realizadas pela CTTU são apresentados na Figura 23. Chama atenção o altíssimo volume de ciclistas em vias específicas do Recife, especialmente em vias que promovem conexões metropolitanas importantes como a Avenida Beberibe e a Avenida Caxangá. Curioso é perceber que mesmo reconhecendo a alta demanda por viagens de bicicleta em determinadas regiões da cidade, na sua maioria em avenidas movimentadas, o poder público optou por implantar infraestruturas em vias laterais com baixa conectividade, incluindo longos trechos de ciclorrotas, inadequadas para a tipologia viária alocada. A Figura 24 retrata essa incoerência, apresentando as vias que obtiveram os maiores volumes registrados de ciclistas sobrepostas às áreas de abrangência do sistema cicloviário implantado. A única coincidência de rota encontrada corresponde à da Rua 21 de Abril, que possui apenas uma ciclorrota, sem separação física efetiva entre ciclistas e veículos motorizados. Figura 23 Contagens de ciclistas feitas pela CTTU em 2008 Fonte: PCR, 2010. Acesso em: http://www.ameciclo.org/ projetos/contagem Figura 24 Trechos de maior volume de bicicletas em 2008 sobrepostos às áreas de abrangência da infraestrutura cicloviária em 2016 Fonte: PCR, 2010. Acesso em: http://www.ameciclo.org/ projetos/contagem
- 29. 29 Além das infraestruturas cicloviárias permanentes há uma pequena rede intermitente presente aos domingos e com finalidade de lazer. Seu desenho (ver Figura 25) apresenta uma interessante configuração uma vez que permite a conexão entre diferentes áreas da cidade a partir do Centro, especialmente por fazer uso de pontes que normalmente não são convidativas aos ciclistas menos experientes. Tal rede curiosamente promove as conexões que faltam à infraestrutura perene, sendo que, se fosse transformada em permanente, seria de grande valia e de muito maior utilidade para os ciclistas locais. Outra infraestrutura importante para o sistema cicloviário do Recife consiste nas estações do sistema de bicicleta compartilhada. Com 80 estações implantadas em um serviço de natureza metropolitana (atende o Recife, Jaboatão dos Guararapes e também Olinda), o sistema de compartilhamento foi implantado a partir de condicionantes associados ao número de empregos, áreas de grande movimentação de pessoas (preferencialmente que realizam deslocamentos curtos) e boa infraestrutura urbana. Tais critérios levaram à instalação desse serviço nas regiões centrais, ou centralidades, do Recife, que por sinal são muito próximas às áreas onde operam as ciclofaixas de lazer aos domingos e feriados. Esse fato é mais uma vez representativo da estranha implantação das ciclovias e ciclofaixas permanentes, que pouco se associam às demais infraestruturas. O SISTEMA DE TRANSPORTE CICLOVIÁRIO DO RECIFE SOB O OLHAR DA PNMU O Recife parece ter dificuldades em enxergar a bicicleta como um modo efetivo de transporte, ainda que 58% das viagens realizadas pela mesma ocorram para o motivo trabalho. A rede cicloviária local conta com meros 38,8km que pouco se conectam entre si, sendo distribuídos em vias de baixa atratividade para os ciclistas - inexplicavelmente a expansão cicloviária do Recife tem desconsiderado os corredores viários de maior demanda de ciclistas. Além disso, problemas de infraestrutura também são frequentes, como larguras inferiores ao recomendado A forma como a política cicloviária tem sido conduzida, apresentando um enorme distanciamento entre as demandas da população e as ações do poder público, indicam não apenas a desatenção quando à priorização dos modos não motorizados de transporte, segundo previsão da PNMU, mas também a falta de equidade no uso do espaço público, já que as vias são reservadas quase que exclusivamente para o uso dos modos motorizados. Figura 25 Sobreposição do sistema de bicicletas compartilhadas Bike PE (pontos em laranja) e da malha cicloviária intermitente (verde) sobre as áreas atendidas pela rede cicloviária (vermelho) Fonte: PCR, 2016.
- 30. 3.5 O Sistema de Transporte a Pé Amplamente reconhecida como uma cidade de calçadas e ruas estreitas, o Recife apresenta historicamente uma problemática relação com os pedestres. Situação causada vezes por loteamentos muito econômicos em termos de passeio público e agravada por desastrosas reformas viárias que reduziram os passeios existentes, a situação das calçadas da cidade é alarmante. Realizado em 2012, o Relatório Calçadas do Brasil analisou as calçadas de 12 capitais brasileiras, incluindo o Recife, segundo os critérios: irregularidades no piso; largura mínima de 1,20 m, conforme norma ABNT; degraus que dificultam a circulação; outros obstáculos, como postes, telefones públicos, lixeiras, bancas de ambulantes e de jornais, entulhos etc; existência de rampas de acessibilidade; iluminação adequada; sinalização para pedestres; paisagismo para proteção e conforto. De acordo com tal avaliação, o Recife recebeu a quarta pior nota entre as cidades analisadas - 4,95 - tendo a maior nota dada à Avenida Boa Viagem (8,5), na zona sul, e a pior com a Rua do Hospício (3,0), na região central. Considerando a largura média das calçadas das principais vias da cidade, observa-se que grande parte dos logradouros possuem calçadas bastante estreitas. Se isso não bastasse, nas regiões que mais concentram atividades econômicas, circulação de transporte público e, por conseguinte, maior circulação de pedestres, as calçadas raramente ultrapassam os 4 metros de largura e em muitos pontos da cidade não passam de 2 metros. A Figura 26 apresenta um retrato dessa condição uma vez que associa a largura verificada para as calçadas à informação de intensidade de linhas do sistema de transporte coletivo por ônibus. Além de ficar clara a fragilidade do atendimento em áreas sujeitas à intensa circulação de pessoas, destaca-se a precária infraestrutura periférica. Urbanizadas nos anos 1960 e 1970, as principais avenidas da Zona Sul, Av. Boa Viagem e Domingos Ferreira, contam com calçadas largas e confortáveis, enquanto vias mais antigas no centro e zonas norte e oeste situam-se entre 2 e 3 metros de largura. O Recife conta com cerca de 2.400 km de sistema viário total, sendo que destes apenas 5 km são de circulação exclusiva de pedestres, todas no Centro Histórico e em ruas de altíssima concentração de atividade comercial e quase toda sua totalidade é de ruas onde nunca houve trânsito de veículos. A única iniciativa relativamente recente é a da Avenida Rio Branco, no bairro do Recife, fechada para os veículos motorizados no início de 2014, recebendo uma pintura provisória enquanto não era concluído o processo licitatório para uma obra de reurbanização completa. Após dois anos, a via segue apenas com seu asfalto pintado de verde, pois ditos problemas na licitação impediram o seu lançamento. 30 Figura 26 Largura média das calçadas das principais vias urbanas do Recife, sobrepostas à densidade de linhas de ônibus do STPP Fonte: PCR (2016) e GRCT (2016). Figura 27 Vias de circulação exclusiva de pedestres Fonte: PCR, 2016.
- 31. 31 Atualmente um dos maiores desafios enfrentados na manutenção de calçadas no Recife diz respeito à existência de árvores de grande porte. É comum que as árvores ocupem parte do passeio, obstruindo-o e criando uma situação em que, por falta de critérios de priorização efetiva do pedestre nas tomadas de decisão, opta-se pela erradicação de indivíduos saudáveis. Por consequência é prejudicada a experiência do pedestre na via. Nos últimos anos, tem sido comum observar podas supressivas e muito pronunciadas nas copas de árvores de grande porte, muitas vezes com o intuito de preservar a fiação aérea da rede elétrica. A opção por extinção da vegetação em favor da preservação da iluminação pública é refletida em uma realidade apresentada na Figura 28. A grande mancha vermelha, correspondente às áreas de menor renda e desenvolvimento humano, sem arborização, chama atenção se comparada à grande mancha amarela na imagem da direita, demonstrando que o Recife parece ter mais postes de iluminação do que árvores. Isso não quer dizer que a iluminação não seja necessária, muito pelo contrário, a questão que se faz presente é que as duas opções devem coexistir na cidade, pois não são excludentes. Além disso há que se avaliar a efetividade da iluminação pública existente, pois muitas vezes os postes são alocados de forma a iluminar prontamente a calha viária deixando na escuridão as áreas de circulação dos pedestres. Outro grande desafio para os pedestres no Recife é a predominância de escadarias nas áreas de morro. Na base de dados viária disponibilizada pelo poder público há várias delas cadastradas, ver Figura 28, no entanto a simples observação de fotos aéreas dá a percepção da existência de muito mais escadarias do que as registradas. Muitas vezes as escadarias são a única conexão de algumas vizinhanças ao restante da comunidade e às vias principais onde há transporte público, tornando o bom condicionamento e boa acessibilidade destes equipamentos uma questão primordial para o acesso destas populações às oportunidades que a cidade oferece. Porém há que se considerar que limitar o acesso à lotes residenciais apenas por escadarias representa um grande problema de acessibilidade para a cidade do Recife. A simples existência de moradores com restrições de mobilidade (cadeirantes, idosos, obesos) pode constituir algo além do acesso à cidade, mas ao direito de ir e vir e do direito de cidadania. Figura 28 Classificação dos trechos viários do Recife segundo sua arborização (esquerda) e presença de iluminação pública (direita) Fonte: IBGE, 2010.
- 32. O SISTEMA DE TRANSPORTE A PÉ DO RECIFE SOB O OLHAR DA PNMU A condição mais crítica para o transporte a pé no Recife está associada ao morador da periferia que encontra na porta de sua casa um sistema de escadarias correspondentes aos logradouros públicos. Essa rede de escadas incrustadas nos morros, onde reside maciçamente uma população de baixa renda, promove um grave problema de falta de inclusão social e acesso à cidade. Se essa condição não fosse um problema, ainda encontraríamos nas ruas do Recife calçadas estreitas, interrompidas, quebradas, inexistentes e até mesmo servindo para o estacionamento de automóveis. O modo mais comum e universal de transporte tem sido tratado com desdém pelas sucessivas gestões públicas, desrespeitan- do os princípios de inclusão social, equidade e priorização dos modos não motorizados. 32 Figura 29 Escadarias da Zona Norte sobrepostas ao IDHM Fonte: PCR (2016) e Atlas Brasil (2010).
- 33. 33 3.6 O Sistema de Transporte Individual Motorizado A renda familiar está diretamente relacionada à taxa de mobilidade de uma pessoa. É sabido que a população de renda mais elevada é usuária mais frequente do automóvel que grupos de rendas inferiores, haja visto os resultados da Pesquisa OD do Recife. Vasconcellos (2006) afirma que os automóveis em circulação ocupam de 70 a 80% do sistema viário das cidades brasileiras. A combinação dessas informações reflete em um cenário que pessoas de alta renda, que fazem uso do automóvel em suas viagens diárias, consomem muito mais espaço viário que seus pares com padrões de renda inferiores. Ainda segundo o autor, o consumo efetivo das vias é altamente influenciado pela renda e pelo modo de transporte, de forma que uma família de renda mais alta possa a vir consumir nove vezes mais espaço viário por dia que uma família de renda mais baixa. A reduzida ocupação média dos veículos nos centros urbanos é um dos fatores que levam aos cada vez maiores congestionamentos. Vasconcellos (2001) afirma que um usuário de automóvel consome 4,7 vezes mais espaço público para circular do que um usuário de ônibus, por exemplo. Nesse sentido a prioridade ao transporte coletivo no uso do espaço viário tem duplo objetivo: aumentar a eficiência da circulação urbana e aumentar a justiça e equidade na apropriação da cidade pela população. Tendo em mente tais conceitos, analisar o crescimento populacional do Recife frente ao crescimento da sua frota de automóveis indica um alerta. Enquanto o crescimento populacional nos últimos 14 anos correspondeu a aproximados 17%, a frota de veículos teve seu número dobrado (ver Figura 30). Obviamente há fatores conhecidos que promoveram essa condição, como a aumento do poder aquisitivo da população aliado à facilitação de crédito para compra de veículos. No entanto, deve-se ter em mente que a simples posse do automóvel (nesse caso representado pelo aumento da frota registrada no município) não pode ser considerada um mau efetivo para a mobilidade, por outro lado seu uso contínuo e desregrado é de fato prejudicial à toda circulação urbana. Por outro lado, a posse (que representa o acesso direto à escolha) do automóvel é o primeiro fator a levar a sua escolha para a realização de viagens. Nesse sentido, conhecer os padrões de deslocamento da população e as escolhas modais preferidas são fundamentais para toda e qualquer política que se deseje efetiva. O Recife falha primeiramente porque sua Pesquisa OD é bastante antiga, não refletindo a expansão da frota de automóveis dos últimos anos, muito menos o crescimento e invasão das cidades pelas motocicletas (um modo de transporte de fácil aquisição, ágil nas cidades cada vez mais congestionadas, porém cada vez mais letal). Segundo Vasconcellos (2006), os custos para utilizar um sistema de transporte qualquer são divididos em custos interno e externos. Custos internos são aqueles percebidos diretamente pelo viajante, sendo esses tanto o preço do combustível, valor da tarifa do transporte público ou mesmo o tempo despendido para viajar. Tais custos influenciam diretamente na escolha do modo de transporte pelo indivíduo. Os custos externos correspondem àqueles que não são pagos pelo seu usuário nem sequer são considerados em sua decisão de viajar (poluição do ar, congestionamentos e consequentes atrasos nos tempos de viagem). Figura 30 Comparação entre crescimento da frota de veículos e crescimento demográfico Fonte: Denatran e IBGE, 2014.
