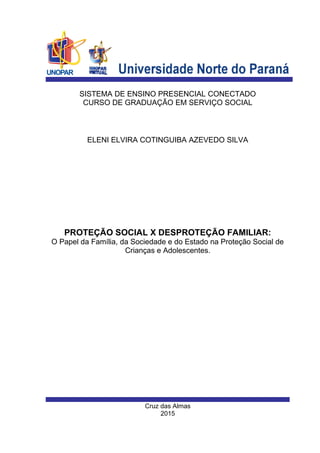
Proteção Social X Desproteção Familiar: O Papel da Família da Sociedade e do Estado na Proteção Social de Crianças e Adolescentes
- 1. Cruz das Almas 2015 ELENI ELVIRA COTINGUIBA AZEVEDO SILVA SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL X DESPROTEÇÃO FAMILIAR: O Papel da Família, da Sociedade e do Estado na Proteção Social de Crianças e Adolescentes.
- 2. Cruz das Almas 2015 PROTEÇÃO SOCIAL X DESPROTEÇÃO FAMILIAR: O Papel da Família, da Sociedade e do Estado na Proteção Social de Crianças e Adolescentes. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, como requisito parcial para a obtenção do título de Graduação em Serviço Social. Orientador: Profª. Adarly Rosana Moreira Goes; Tutora/Orientadora Eletrônica: Profª Celia Regina Macedo Fechio Spacino; Tutora de Sala: Claudia da Hora Cabral dos Anjos ELENI ELVIRA COTINGUIBA AZEVEDO SILVA
- 3. Dedico este trabalho em primeiro lugar ao Autor de minha vida; DEUS, a meus pais e minha família, a meu filho Moysés Júnior ao meu esposo Moysés Azevedo Silva, as Crianças e Adolescentes; frutos deste estudo.
- 4. AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar ao imenso amor e cuidado que a mim é dedicado pelo autor e consumador de minha fé: DEUS, ADONAI, único e soberano em todas as coisas, O SENHOR e provedor de minhas forcas e da minha sabedoria. Obrigada Senhor! Ao meu Esposo Moysés Azevedo Silva, pela paciência, incentivo nos momentos em que as dificuldades deveriam ser superadas. Por tanto amor e estímulo. Ao meu Filho Moysés Azevedo Silva Júnior pelo auxilio e dedicação nos momentos que foram necessários para esclarecer dúvidas e direcionar os estudos, Amor pra toda eternidade; Aos professores da UNOPAR que contribuíram na minha formação em todo o percurso desta jornada acadêmica. As tutoras e orientadoras do TCC: Clarice da Luz KernKamp, e Célia Regina Macedo Fechio Spacino. A Tutora de Sala: Claudia da Hora Cabral dos Anjos, amiga e orientadora de todas as horas, mesmos com as nossas diferenças de pensamentos e entendimentos. Aos meus colegas de sala pelo companheirismo, amizade e carinho, pelo aprendizado, cada um contribuindo com as suas diferenças para o crescimento profissional de todos! Saudades. A Assistente Social Danielle Sanches, minha coordenadora do estágio, por toda colaboração e paciência em ensinar-me na prática profissional, as crianças e adolescentes do Centro de Referência da Assistência- Social – CRAS, da Cidade de Cruz das Almas-Bahia. A Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social de Cruz das Almas- Bahia; Sra. Ivana Guerra, pela oportunidade de estágio e aprendizado. Aos colegas de trabalho que desejaram e incentivaram meus estudos e o sucesso na minha futura profissão. (Em especial A Flávia Guerra coo- responsável e incentivadora pela escolha do curso).
- 6. A criança é boa por natureza, a sociedade é que a corrompe. Jean-Jacques Rousseau
- 7. SILVA, Eleni Elvira Cotinguiba Azevedo. PROTEÇÃO SOCIAL X DESPROTEÇÃO FAMILIAR: O Papel da Família, da Sociedade e do Estado na Proteção Social de Crianças e Adolescentes: 2015,72 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Serviço Social – Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas, Universidade Norte do Paraná, Cruz das Almas, 2015. RESUMO Este estudo acadêmico se propõe a identificar através de pesquisas bibliográficas os meios e os programas oferecidos pelas politicas da Assistência Social nas causas da (DES)Proteção a integridade física de crianças e adolescentes, bem como as responsabilidades da família do estado e da sociedade em promover ações de proteção social no atendimento as vulnerabilidades sociais onde a família é tida como responsável, quando na verdade a responsabilidade de proteger é do conjunto Estado, Sociedade e Família conforme estabelece a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Único da Assistência Social, no estabelecimento dos direitos de cidadania. Palavras-chave: ECA, Direito, Proteção, Criança,. Adolescente, Cidadania, Família, (Des)Proteção,
- 8. SILVA, Eleni Elvira Cotinguiba Azevedo. SOCIAL PROTECTION X unprotected FAMILY: The Role of Family, Society and State in Social Protection of Children and Adolescents: 2015.72 pages. Completion work Course in Social Service - Center of Business and Social Sciences Applied, University of Northern Paraná, Cruz das Almas, in 2015. ABSTRACT This academic study aims to identify through library research means and programs offered by the policies of Social Assistance in cases of (DES) Protecting the safety of children and adolescents as well as the state of family responsibilities and society in promoting social protection actions in meeting the social vulnerabilities where the family is held responsible, when in fact the responsibility to protect is the whole state, society and family as established by the Federal Constitution, the Statute of Children and Adolescents and the Single System Social assistance in the establishment of citizenship rights. . Key-words: ECA, law, protection, Child, adolescents; Citizenship, Family ( Des ) protection;.
- 9. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ECA Estatuto da Criança e do Adolescente LOAS Lei Orgânica da Assistência Social UNIEF Fundo das Nações Unidas para a Infância CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CONADA Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CEDECA Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente DUDH Declaração Universal dos Direitos Humanos ART Artigo FUNABEM Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor SAM Serviço de Assistência so Menor CF Constituição Federal IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios CRAS Centro de Referência da Assistência Social PAIF Serviço de Proteção e Atendimento Integra a Família PNAS Politica Nacional da Assistência Social SUAS Sistema Único da Assistência Social CREAS Centro de Referencia Especializado da Assistência Social CAPS Cento de Assistência Psicossocial NOB Normas de Orientações Básicas
- 11. 1 INTRODUÇÃO O tema escolhido para este Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social reflete a trajetória dos estudos no curso de Serviço Social da prática do estágio, da aplicação do projeto de intervenção, e todas as experiências vivenciadas no percurso do aprendizado. O tema escolhido tem base na pesquisa bibliográfica e está contextualizado no estudo das politicas de proteção social, em contradição da desproteção familiar relacionado à violência da integridade física de crianças e adolescentes. A pesquisa bibliográfica parte dos direitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, na Declaração Universal dos Direitos Humanos ( 10 de dezembro de 1948), no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social, o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF – Brasil, os organismos públicos de promoção e proteção social: CRAS, CREAS, CMDCA, CONADA, CEDECA, Conselho Tutelar. Esclarecer o papel da família, do Estado e da sociedade como promotores de proteção social e da integridade física à crianças e adolescentes. Demonstra os pensamentos de autores sobre os questionamentos das formas de proteção social e de sua aplicabilidade e competências para esta parte representativa da sociedade, os papéis destinados a cada um, as responsabilidades sociais ante os dilemas da execução de programas para o fim de promover a proteção social. A centralidade e o futuro da família nas sociedades contemporâneas, suas responsabilidades e funções sociais, as suas estruturas no conceito de décadas anteriores e atuais, a construção dos marcos históricos da assistência e da população infantil no Brasil. 2 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GERAL Esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral, identificar através de pesquisa bibliográfica, os meios e os programas sócios assistenciais que são oferecidos pela Política da Assistência Social com referência a Proteção Social relacionado à responsabilidade da Família, da sociedade e do estado, na proteção da integridade física de Crianças e Adolescentes. 10
- 12. 2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 1- Apontar e fazer referências às leis de proteção a Crianças e Adolescentes; 2- Descrever o papel da família da sociedade e do estado, como autores de proteção social; 3- Relacionar as causas da desproteção familiar com as consequências da violência a integridade física de crianças e adolescentes; 4- Demonstrar as politicas/programas sociais que são desenvolvidos pela Assistência Social no âmbito da proteção social. 3 JUSTIFICATIVA Durante o período de estágio supervisionado no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, da convivência com os diversos grupos de usuários do Centro do despertamento para promover a proteção de crianças e adolescente, partiu da necessidade de proporcionar as crianças, aos adolescentes, seus pais e responsáveis mais conhecimento das políticas de proteção social, a importância da família no seu papel de respeitar, aplicar e fortalecer os vínculos do convívio social e esclarecer que a garantia de condições mínimas de se alcançar estes direitos, estão presente nas leis e em sua aplicabilidade, surge o interesse e a necessidade de escolha do tema para o projeto de intervenção e da finalização dos estudos; o Trabalho de Conclusão do Curso-TCC. A pesquisa bibliográfica justifica-se no estudo dos autores sobre as políticas de proteção social, e da abrangência das leis na busca de direitos legais no estabelecimento destas políticas. Demonstra o papel das Políticas Públicas de Proteção Social – os programas que são oferecidos para patrocinar esta proteção; a figura do Assistente Social como profissional coordenador e supervisor dos programas de proteção social e da importância e responsabilidade de suas ações no estabelecimento das políticas públicas de direitos para alcançar aqueles que dele necessitam. O presente trabalho levará o leitor a conhecer a trajetória das legislações de proteção social, a importância das Redes de Proteção Social, o histórico da conceituação de família, o papel 11
- 13. da sociedade e do estado na responsabilidade de prover direitos e proteção social; A pesquisa se justifica nos estudos de autores que desenvolveram seus trabalhos com ênfase na família, crianças e adolescentes e nas afirmativas que os vínculos afetivos e sociais entre os membros de uma família estabelece o direito, o respeito, a proteção e a dignidade como princípios legais de convivência tornando a família, segundo (DINIZ,2009, v.5, p.13) “Núcleo existencial integrado por pessoas unidas sócio afetivamente, onde se permite realizar experiências que fortalece a personalidade e os sentimentos de união entre seus membros”. 4 METODOLOGIA Para efetivação deste trabalho de conclusão de curso, foi realizada leitura e estudo sobre a temática, tendo como base a pesquisa bibliográfica em alguns autores como: Irene Rizzini, Francisco Pilotti, Maria Lúcia Martinelli, Marilda Vilella Iamamoto, Fausta Ornelas P.Melo, Maria de Lourdes B.Antonio, Maria Natalia O.P.B.Guerra. A presente pesquisa está baseada em dados secundários, coletados por meio das documentações de registros em arquivos e bases de dados, documentos oficiais, Constituições Federativas do Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis da Política de Assistência Social, O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Crianças e Adolescentes na Convivência Familiar e Comunitária, os livros das disciplinas do curso de serviço social, cartilhas, sites, instrumentos de pesquisa em indicadores sociais, revistas virtuais do Serviço Social & Sociedade, 4.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A primeira Constituição do Brasil foi outorgada por D. Pedro I em 1924, concentrava o poder no imperador, Era destituída de direitos; Partindo da Constituição Federativa do Brasil no Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos); Capítulo II ( Dos Direitos Sociais ); Título VIII (Da Ordem Social); Seção IV (Da Assistência Social) Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo--se aos brasileiros e aos 12
- 14. estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I. a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II. o amparo às crianças e adolescentes carentes; A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos direitos humanos e justifica-se sua inclusão nesta pesquisa: Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de Dezembro de 1948, através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos, inspirou as constituições de muitos Estados e democracias recentes. A DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte) e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu Protocolo Opcional, formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados desde 1945 expandiram o corpo do direito internacional dos direitos humanos eles incluem: a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948), a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), a Convenção 13
- 15. sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979), a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), entre outras. Entre seus artigos faz-se referência ao trabalho: Artigo XVI 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo XXV 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem- estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. A escolha do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, como direcionamento desta pesquisa na promoção de direitos para todas as crianças e adolescentes, entendendo-os como sujeitos de direitos e garantindo a eles um atendimento integral, que leva em conta as suas diversas necessidades, instituindo a corresponsabilidade da sociedade civil e do poder público no sentido de garantir o direito a uma vida saudável aos meninos e 14
- 16. meninas. Nesse, se encontram internalizadas uma série de normativas internacionais: a Declaração dos Direitos das Crianças, as Regras mínimas das Nações Unidas para a administração da Justiça e da Infância e da Juventude e as Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da Delinquência Juvenil. O Estudo da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) para esclarecimento da regulamentação da Assistência Social contribui de forma relevante para esta pesquisa, produz entendimento para a profissão e tem como objetivo apoiar os movimentos sociais, gestores municipais, estaduais e organizações não governamentais, governo federal, e congressistas, como parte do tripé da seguridade social. Os autores Irene Rizzini e Francisco Pilotti no livro: A Arte de Governar Crianças (Cortez,2009), constitui uma referencia fundamental para a compreensão da situação atualizada da infância brasileira por sua interpretação dos períodos históricos sobre as políticas da infância. Combina rigor acadêmico com um espírito de urgência política ao estudo da criança na história do Brasil, utilizando fontes documentais como busca de referencia à infância e a adolescência tendo como recortes aqueles(as) que eram alvo da assistência pública e privada no Brasil. A iconografia produzida por Ariès, História Social da Criança e da Família (1978) se apresenta como uma importante fonte de conhecimento sobre a infância, sendo considerada por autores, a citar Del Priore (2004) e Freitas (2001), como um trabalho pioneiro na análise e concepção da infância. Ariès traçou um perfil das características da infância a partir do século XII, no que diz respeito ao sentimento sobre a infância, seu comportamento no meio social na época e suas relações com a família. Através dos textos descritos é possível constatarmos a fragilidade da criança, bem como sua desvalorização. A autora Isa Maria F.Rosa Guerra na Cartilha: Redes de Proteção Social orienta – com cuidado e simplicidade – a ação protetiva junto ao grupo infanto-juvenil. Aponta alguns caminhos para buscarmos o desenvolvimento integral dessas crianças e adolescentes, garantindo uma efetiva proteção e religando sujeitos, serviços, espaços e oportunidades que assegurem o olhar totalizante sobre eles. Redes – tema central do caderno – é um conceito atual, que propõe uma inovação radical no modo de gestão social pública. Introduz novos valores, habilidades e processos, necessários à condução do trabalho social numa realidade que é complexa. 15
- 17. Luciana de Castro Álvares e Mário José Filho no artigo o Serviço Social e o Trabalho com Famílias(Serviço Social & Realidade, Franca, v.17, n. 2, p.9-26, 2008,) faz destaque da família como uma unidade dinâmica que apresenta diversas configurações na atualidade, apresenta algumas reflexões sobre esta temática abordando sobre: os diversos significados de família, suas funções, as configurações da família contemporânea, contextualizando-a na realidade sócio-política e econômica atual. Destaca-se a influência que o estado e as políticas vigentes ocasionam no âmbito familiar, considerando que as estratégias estatais adotadas atingem as relações trabalhistas, o mercado de trabalho e o salário, incidindo diretamente na unidade familiar. O relatório Situação Mundial da Infância, publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) desde 1980, na edição de 2011 a adolescência como foco de análise, em razão da importância e da urgência do tema, e em apoio ao segundo Ano Internacional da Juventude. O relatório argumenta que a adolescência deve ser entendida, antes de tudo, como uma fase especial de desenvolvimento, que precisa ser abordada a partir da perspectiva dos direitos. Embora historicamente a interpretação de documentos internacionais tenha dado ênfase à infância, os direitos dos adolescentes também estão contemplados na Convenção sobre os Direitos da Criança e em outros tratados internacionais de direitos humanos. O Caderno Brasil, usado para a pesquisa, faz parte do material de divulgação do relatório Situação Mundial da Infância 2011, contextualizando para a realidade brasileira, as reflexões e dados do relatório global. O objetivo de trazer esse relatório para este trabalho mostra a importância dos dados e sua relevância para esta pesquisa no que é proposto demonstrar. A preocupação com os estudos quanto à proteção de crianças e adolescentes. 5.DESENVOLVIMENTO A Proteção Social a infância e adolescência tem sido alvo de interesse social, acadêmico e teórico; de discussões abalizadas e legais, de preocupação sincera e de jogo das elites; e certamente alvo de ação, com viés filantrópico e fundamentação politica. Instituições foram erguidas, leis foram formuladas para protegê-los; diagnósticos alarmantes demandaram novos métodos para sua educação ou reeducação; experiências de atendimento 16
- 18. foram implementadas, visando debelar o abandono e a criminalidade. O problema a persiste e hoje atinge milhões de crianças. No decorrer do tempo a infância foi tratada de diversas maneiras. As relações sociais com a família, com a igreja, com o Estado e com outros estamentos da sociedade perpetuaram valores morais, religiosos e culturais, reproduzindo dominadores e subjugados em seus papeis. Em todos os tempos e em qualquer parte do mundo, existiram crianças desvalidas – sem valor para e sem proteção de alguém – órfãs, abandonadas, negligenciadas, maltratadas e delinquentes. A quem caberia a responsabilidade de assisti-las é uma questão que tem acompanhado os séculos, compondo uma intrincada rede de assistência provida por setores públicos e privados da sociedade. No Brasil, a história mostra que foram muitas as formas de se desenvolver politicas de proteção social às crianças e adolescentes. 5.1 HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL A primeira constituição do Brasil foi outorgada por D.Pedro I, em 1924 e concentrava o poder no imperador, era destituída de direitos; só ricos podiam votar; a igreja era subordinada ao Estado; os interesses da aristocracia eram garantidos; não cumpria qualquer ideal de isonomia entre a população brasileira; Esta constituição durou 65 anos e só perdeu sua vigência no fim do império. A Constituição de 1891 (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL) inaugurou a orientação da República no Brasil. Foi publicada no dia 24 de fevereiro de 1891 e vigorou até 1932. Foi a diretriz do período chamado como República Velha, comandada por oligarquias latifundiárias. Entre suas características destaca-se: Implantação da república federativa, estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados, grande parte do poder estava concentrado no poder executivo, divisão dos poderes em três: executivo (presidente da república, governadores, prefeitos), legislativo (deputados federais e estaduais, senadores e vereadores) e judiciário (juízes, promotores, etc). Estabelecia o voto universal masculino. Ou seja, somente os homens poderiam votar. Além das mulheres, não 17
- 19. podiam votar: menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados e analfabetos. No tocante aos direitos do cidadão determinava o seguinte: Todos eram iguais perante a lei. Ninguém poderia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Estabelecimento do ensino leigo em estabelecimentos públicos. Apesar de estabelecer que todos eram iguais perante a lei, fazia distinção de direitos de gênero e de classe. Em 16 de julho de 1934, foi noticiada uma nova constituição (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL), com 187 artigos, e durou apenas 3 anos. Em termos gerais, essa nova carta ainda preservava alguns pontos anteriormente lançados pela constituição de 1891. Entre muitos itens foram respeitados o princípio federalista que mantinha a nação como uma República Federativa. Na questão trabalhista, a Carta Magna proibia qualquer tipo de distinção salarial baseada em critérios de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil. Ao mesmo tempo, ofereceu novas conquistas à classe trabalhadora com a criação do salário mínimo e a redução da carga horária de trabalho para 8 horas diárias. Além disso, instituiu o repouso semanal e as férias remuneradas, a indenização do trabalhador demitido sem justa causa e proibiu o uso da mão- de-obra de jovens menores de 14 anos. No campo educacional, o governo incentivou o desenvolvimento do ensino superior e médio. Paralelamente, também assegurou a criação de um ensino primário público, gratuito e obrigatório. Além disso, defendia o ensino religioso nas escolas e o uso de diferentes grades curriculares para meninos e meninas. Na Constituição de 1934 estabelecem-se direitos à infância a juventude e a família conforme os artigos; Art. 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar; 18
- 20. b) estimular a educação eugênica; c) amparar a maternidade e a infância; d) socorrer as famílias de prole numerosa; e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono físico, moral e intelectual; f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças transmissíveis; g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais. Art. 144 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado. Em 1937, Vargas suspendeu os efeitos da Constituição de 1934 para substituí-la por uma carta autoritária, dando início ao Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anunciou uma nova fase política no Brasil e a implantação da quarta Carta Constitucional elaborada por Francisco Campos, o Ministro da Justiça, conhecida como “Polaca”, pois tinha inspiração na Constituição da Polônia, de caráter fascista; foi o início da ditadura no Brasil. Entre os artigos da Constituição ficava clara a concentração de poderes na mão do Presidente, Esta Constituição dissolveu a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais. O sistema eleitoral também foi modificado. A eleição para a Presidência da República seria feita de forma indireta e aumentavam para seis os anos de mandato. Partidos políticos foram proibidos. Quanto aos direitos trabalhistas, era retirado o direito do trabalhador à greve, admitida a pena de morte e permitido o expurgo de funcionários que eram contra o regime recém-instaurado. Nessa mesma direção, os direitos foram reprimidos. A Constituição, apesar de seu texto autoritário, não tinha plena vigência constitucional, ou seja, nem todos os seus artigos foram postos em prática. Era um documento de caráter formal, durou de 1937 a 1945, neste período o Brasil viveu praticamente sem Constituição, sob o domínio da Ditadura, onde era visível o extenso controle e poder na figura de Getúlio Vargas. Entre seus 19
- 21. artigos alguns merecem destaque para esta pesquisa, no que diz respeito à Família, a cultura, à infância; Art. 124 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado. Às famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção dos seus encargos. Art. 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação particular. Art.126 - Aos filhos naturais, facilitando-lhes o reconhecimento, a lei assegurará igualdade com os legítimos, extensivos àqueles os direitos e deveres que em relação a estes incumbem aos pais. Art. 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral. Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a subsistência e educação da sua prole. Art. 128 - A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. É dever do Estado, contribuir, direta e indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou fundando instituições artísticas, científicas e de ensino. 20
- 22. Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. Art. 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar. Art. 131 - A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. Art. 132 - O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, tendo umas; e outras por fim organizar para a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento, dos seus deveres para com a economia e a defesa da Nação. Getúlio Vargas entrou em descrédito após entrar na Segunda 21
- 23. Guerra Mundial e um movimento de oposição conseguiu retirá-lo do poder no ano de 1945. Com a queda do ditador, assumiu a presidência o general Eurico Gaspar Dutra. A Constituição de cunho autoritário não era mais adequada para o Brasil e precisava ser substituída. No dia 18 de setembro de 1946 o então presidente convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para que se pudesse promulgar uma nova carta constitucional, entre suas novas regulamentações estavam: igualdade perante a lei, ausência de censura, garantia de sigilo em correspondências, liberdade religiosa, liberdade de associação, extinção da pena de morte e separação dos três poderes. Vários intelectuais da época participaram da elaboração da nova Constituição. Pela primeira vez os comunistas também integraram as reuniões da Assembleia Constituinte. O resultado foi uma carta constitucional bastante avançada para a época, conquistando avanços democráticos e na liberdade individual de cada cidadão. As liberdades que o próprio Getúlio Vargas havia acrescentado à Constituição em 1934 e que foram retiradas por ele mesmo em 1937 voltaram a integrar a carta de 1946. A Constituição de 1946 ficou em vigência até o Golpe Militar, em 1964. Nessa ocasião, os militares passaram a aplicar uma série de emendas para estabelecer as diretrizes do novo regime até ser definitivamente suspensa pelos Atos Institucionais e pela Constituição de 1967. Três anos após o golpe de 1964, os militares patrocinaram uma nova Constituição, enterrando as previsões democráticas da Carta de 1946. A Constituição de 1967 foi a 6ª(sexta) do Brasil e a 5ª(quinta) da República. Buscou institucionalizar e tornar legal a ditadura militar, aumentando a influência do Poder Executivo sobre o Legislativo e Judiciário e criando desta forma, uma hierarquia constitucional, centralizadora. O texto restringia a organização partidária, concentrava poderes no Executivo, impunha eleições indiretas para presidente e restabelecia a pena de morte. O arcabouço legal da ditadura militar seria remendado nos anos seguintes por sucessivos decretos: mais 13 atos institucionais, 67 complementares e 27 emendas. O mais notório, o AI-5, decretado em 1968, suspendeu as mais básicas garantias, como o direito ao habeas corpus. Muito embora tenha sido amplamente elaborada de acordo com os interesses de quem estava no poder, pode ser considerada uma Carta Constituinte semi-outorgada. Desta forma, os militares garantiam a 22
- 24. imagem na política internacional de um país de certo modo democrático, mas a prática mostraria que o regime estabelecido no Brasil se tratava mesmo de uma ditadura. No ano de 1969 a Constituição de 1967 sofreu algumas alterações por causa do afastamento do presidente Costa e Silva que passava por problemas de saúde. A Junta Militar que assumiu o poder em seu lugar baixou a Emenda Nº 1 acrescentando o Ato Institucional Número Cinco e permitindo o poder da Junta Militar, mesmo havendo um vice-presidente. A Constituição de 1967 vigorou durante o restante do regime militar como órgão máximo da antidemocracia. Só foi substituída em 1988, quando a ditadura já havia acabado. A constituição de 1988 é a atual carta magna da República Federativa do Brasil. Foi elaborada no espaço de 20 meses por 558 constituintes entre deputados e senadores à época, e trata-se da sétima na história do país desde sua independência. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ganhou quase que imediatamente o apelido de constituição cidadã, por ser considerada a mais completa entre as constituições brasileiras, teve a colaboração e participação do povo, por meio de abaixo-assinados, liderados pelos sindicatos de classe, entidades religiosas e demais segmentos da sociedade. A constituição está organizada em nove títulos que abrigam 245 artigos dedicados a temas como os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do estado, dos poderes, defesa do estado e das instituições, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira e ordem social. Na nova constituição, a classe trabalhadora adquiriu vários direitos, como de licença maternidade para 120 dias, licença paternidade de 5 dias, redução da jornada de trabalho de 48 horas semanais para 44 horas , além de direito à greve, liberdade sindical, abono de férias de um terço do salário e o 13o salário para os aposentados. Foram realizadas mudanças para a consolidação da democracia como o direito de voto aos analfabetos e facultativo aos jovens com idade entre 16 e 18 anos, as eleições que antes eram de apenas um turno com a nova constituição passa a ser de dois, para os candidatos ao cargo de presidente, governador e prefeito, no caso de prefeito ocorre segundo turno somente nas cidades que possuem mais de 200 mil eleitores, quando ocorrer de um dos candidatos alcançar 50% dos votos, e o 23
- 25. mandato do presidente sofreu uma redução de 5 para 4 anos. Entre outras alterações ficou definido o fim da censura familiar, com a implantação do divórcio e a inserção dos direitos da criança e adolescente. A prática do racismo antes tratada com displicência torna-se crime inafiançável com reclusão, os índios foram reconhecidos como cultura, e o governo ficou incumbido de definir as terras reservadas a eles, além de garantir a sua proteção e de suas riquezas. A Constituição de 1988, visando dar efetividade aos fundamentos do Estado brasileiro, em especial, o da dignidade da pessoa humana, bem como, concretizar seus objetivos previstos no art. 3º, dentre os quais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, instituiu um importante instrumento de proteção social, o qual visa a proteção de todos os cidadãos nas situações geradoras de necessidades: Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária; II. Garantir o desenvolvimento nacional; III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para proteger a todos, o constituinte uniu três direitos sociais, (saúde, assistência social e educação) os quais, cada um dentro de sua área de atribuição, protege seus destinatários e, no conjunto, todos serão protegidos. Para tanto, a seguridade social apresenta duas faces: uma delas garante a saúde a todos; a outra, objetiva a garantia de recursos para a sobrevivência digna dos cidadãos nas situações de necessidade, os quais não podem ser obtidos pelo esforço próprio. Esta previsão encontra-se nos artigos 203 e 204: Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 24
- 26. I. a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II. o amparo às crianças e adolescentes carentes; III. a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: I. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; II. Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. A constituição Federal de 1988 reconhece a atividade que promove a Assistência Social como fundamental para o desenvolvimento social, incluindo como objetivo do Estado brasileiro (portanto dever da administração pública) a proteção de todos, da maternidade à velhice. 5.2 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A legislação nas primeiras décadas do Brasil Império que fazem menção à infância será em torno da preocupação com o “recolhimento 25
- 27. de creanças órfãs e expostas” – preocupação fundada na ideologia cristã de amparar a infância órfã e abandonada. ( Irene Rizin, Francisco Pilotti,2011). No Brasil, desde a época do descobrimento, a situação de precariedade com que se tratava a infância e a juventude poderia ser verificada, inicialmente, com o abandono dos filhos malquistos das famílias portuguesas mais pobres nas colônias e, logo em seguida, com o abandono dos filhos de escravos e de crianças indígenas que não se encaixavam no quadro social (SOUZA, 2008). Essa fase da história, inserida entre os séculos XV e XVIII, é conhecida na doutrina como fase da caridade, em que a proteção à infância ficava em maioria por conta da Igreja. Acentua Souza (2008, p. 67) acerca da fase da caridade que “além da visão caridosa das pessoas benevolentes com o sofrimento alheio e o forte conteúdo religioso das ações protetivas, percebe-se a inexpressiva atuação do Estado”. Até 1830 se tem a vigência das Ordenações Filipinas (punição cruel), feito para Portugal, mas que foi estendido à todas as colônias de Portugal. Foi somente nas Ordenações Afonsinas, seguidas pelas Ordenações Filipinas, que a tutela de menores apareceu pela primeira vez na legislação brasileira. Além disso, mais adiante, no século XIX, o Código Criminal do Império, de 1830, e o Código Penal de 1890 trouxeram disposições destinadas às crianças e aos adolescentes. (CUNHA; LÉPORE; ROSSATO, 2010). Percebe-se, assim, que até o início do século XX aos menores apenas cabia a imputação penal, sem delimitação de direitos e deveres de outra ordem a não ser a criminal, não possuindo, ainda que nessa esfera, qualquer distinção significativa de tratamento jurídico em relação aos adultos. Embora o Decreto n. 1.313 de 1891 tenha determinado a idade mínima para trabalho em 12 anos, ele não foi efetivo. Os menores de todas as idades ainda trabalhavam. Em 1927, foi promulgado o primeiro Código de Menores, popularmente conhecido como Código Mello Mattos, que regia apenas os menores em situação irregular, regulamentando questões como trabalho infantil, abandono em instituições religiosas (antigas “rodas”), tutela, pátrio poder, delinquência e liberdade vigiada, e concedia plenos poderes ao juiz. No período autoritário do Estado Novo, precisamente em 1942, foi criado o Serviço 26
- 28. de Assistência ao Menor (SAM), que consistia em um órgão do Ministério da Justiça que atuava como um sistema penitenciário para os menores. Posteriormente, na década de 1960, este órgão foi considerado repulsivo pela opinião pública mais politizada. Durante a ditadura militar no Brasil, foi promulgada a Constituição Federal de 1967 e duas legislações acerca da criança e do adolescente, quais sejam: a criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM – (Lei 4.513 de 01/12/64) e o novo Código de Menores de 1979 (Lei 6.697 de 10/10/79). A primeira não alterou o regime dos SAMs e o novo Código constituiu-se em uma revisão do Código de Menores de 1927, todavia, manteve sua linha de repressão. Em 1959, o Estado Brasileiro ratificou a Declaração Universal dos Direitos da Criança. O movimento pelos direitos da criança e juventude se arrastou ao longo da década de 80, fomentando debates no meio acadêmico, em organizações de classe e no meio empresarial. Os primeiros resultados da movimentação social pela cidadania da juventude brasileira se deram com a Convocação da Assembleia Constituinte e a consequente promulgação da Constituição Federal de 1988, que reservou vasto rol de direitos e garantias aos menores de 18 anos (NAVES, 2004), conhecida como Constituição Cidadã, que introduziu no ordenamento jurídico o compromisso firmado neste tratado, instituindo os princípios da prevalência absoluta dos interesses dos menores, da proteção integral, da cooperação, da brevidade, da excepcionalidade e da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Não por outro motivo, foi com o advento da Convenção sobre os Direitos da Criança que a sociedade internacional passou de fato a refletir acerca do tratamento às crianças e aos adolescentes como sujeitos de direitos e como merecedores de proteção, concomitantemente. Por isso, no Brasil a Convenção de 1989 foi destaque no movimento social em favor da aprovação de um novo texto normativo sobre os direitos da infância e da juventude (MELO, 2010). Em 14 de julho de 1990, enfim, correspondendo ao engajamento dos diversos setores da sociedade brasileira, foi promulgada a lei 27
- 29. 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio promover a efetividade de tais princípios para a plena garantia do desenvolvimento dos menores. Cumpre salientar que o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre todos os direitos já abrangidos para a sociedade, levando-se em consideração a condição específica dos menores E representa a maior evolução legislativa no tratamento à menoridade. A lei 8069/1990, conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é o principal regimento jurídico sobre os direitos dos infantes vigente no brasil. advindo no ensejo dos dispositivos constitucionais de proteção da infância e da juventude, principalmente do artigo 227, já comentado, o eca estabeleceu definitivamente a posição desses indivíduos como sujeitos de direito no ordenamento jurídico brasileiro, portanto, bem colocado o entendimento de naves (2004, p. 75): “se as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos, isto é, têm, a priori, por sua própria condição, direitos inalienáveis, esses direitos podem, por um lado, ser exigidos com base na lei e, por outro, levar aqueles que os violam por desrespeito ou omissão a responderem em juízo por seus atos (sic).” Nessa senda, o que se depreende do artigo 227 da CF, e o que diz literalmente no estatuto, é que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que devem receber cuidados com prioridade absoluta. Por isso, entende-se que o ECA não apenas modificou o tratamento da infância na lei, mas também passou a definir práticas para a efetividade desse novo texto legal, tendo em conta que veio em substituição do já defasado código de menores. Além disso, tem-se que o direito da infância e da juventude brasileira fundamenta-se na doutrina da proteção integral, surgida a partir da interpretação dos dispositivos constitucionais acerca do tema. Nesse sentido, versa o artigo 1º do ECA: “esta lei dispõe sobre a proteção integral à infância e ao adolescente”. E diz quão abrangentes são as responsabilidades de todos os cidadãos, já que devem as crianças e adolescentes ter proteção plena dentro das expectativas de respeito e cuidado. “no art.2º considera-se criança, para efeitos desta lei a pessoa até 28
- 30. 12 anos de idade incompletos, e adolescentes aqueles entre doze e dezoito anos de idade” (brasil,1990). O art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros, meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Apesar de dizer aparentemente o óbvio, o presente dispositivo traz uma importante inovação em relação à sistemática anterior ao eca, na medida em que reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, e não meros “objetos” da intervenção estatal. Tal disposição é também reflexo do contido no art. 5º, da CF/88, que ao conferir a todos a igualdade em direitos e deveres individuais e coletivos, logicamente também os estendeu a crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes são vistos como pessoas em desenvolvimento, os quais se constituem dever de todos (sociedade e estado) de assegurarem a proteção e preferência (médica, política, serviços públicos, etc) quando em comparação com um adulto. Dos atrigo 7º aos 69 trazem inúmeras regras de garantias destes direitos: direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito a convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito a profissionalização e à proteção no trabalho. No “art.86 a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios”. 5.3 CONTEXTO SOCIAL DE FAMILIA – DEFINIÇÕES Quando se pensa em família é comum fazer a relação com os laços de parentesco e de consanguinidade que unem as pessoas entre si. O dicionário da Língua Portuguesa, descreve com nitidez esta definição: Pessoas aparentadas, que vivem em geral, na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos, ou ainda, pessoas do mesmo sangue, e grupo formado por indivíduos que são ou se consideram consanguíneos uns 29
- 31. dos outros, ou por descendentes dum tronco ancestral comum (filiação natural) e estranhos admitidos por adoção (FERREIRA, 1986, p.609). OSÓRIO (1996) concebe a família como um grupo no qual se desdobram três tipos de relações: a aliança - relativa ao casal, a filiação- entre pais e filhos e a consanguinidade - entre irmãos. Segundo este autor, a família, com os objetivos de preservação, proteção e alimentação de seus membros e ainda com a atribuição de propiciar a construção da identidade pessoal, desenvolveu em sua história atribuições diferenciadas de transmissão de valores éticos, culturais, morais, religiosos. MIOTO (1997), ao abordar o tema família, extrapola os conceitos apresentados anteriormente e nos aponta que a família contemporânea abrange uma heterogeneidade de arranjos familiares presentes atualmente na sociedade brasileira, não se podendo falar em um único conceito de família, mas sim de ‘famílias’, a família pode ser definida como um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e que se acham unidas (ou não) por laços consanguíneos. Ela tem como tarefa primordial o cuidado e a proteção de seus membros, e se encontra dialeticamente articulada com a estrutura na qual está inserida (MIOTO, 1997, p.120). SZYMANSKI (2002) afirma que a família na atualidade é constituída por um grupo de indivíduos que, devido à existência de laços afetivos, optam por conviverem juntos, com o acordo do cuidado mútuo entre seus membros. Este significado acolhe em seu seio numerosos tipos de possibilidades que há vários anos coexistem na sociedade e que nunca puderam ser oficialmente reconhecidos como uma família. Visto a diversidade das estruturas e organizações das famílias na contemporaneidade, e na comparação com a família nuclear ou tradicional, se faz necessário refletir sobre a convivência destes grupos de pessoas, em suas diversas configurações, seus desafios em frente das mudanças sociais construídas na sociedade capitalista, possibilitando a compreensão histórica da família, e fundamentalmente nas questões das politicas publicas como direcionamento do trabalho social em que a família é chamada a assumir sua 30
- 32. responsabilidade quanto a questão de proteção à criança e ao adolescente e a questão da proteção social pelos organismos públicos. A Constituição Brasileira de 1988 define, no Art. 226, parágrafo 4: “entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes”. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 25, define como família natural “a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”. Estas definições colocam a ênfase na existência de vínculos de filiação legal de origem natural ou adotiva, independentemente do tipo de arranjo familiar onde esta relação de parentalidade e filiação estiverem inseridas. Em outras palavras, não importa se a família é do tipo “nuclear”, “monoparental”, “reconstituída” ou outras. A ênfase no vínculo de parentalidade/filiação respeita a igualdade de direitos dos filhos, independentemente de sua condição de nascimento, imprimindo grande flexibilidade na compreensão do que é a instituição familiar, pelo menos no que diz respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Torna-se necessário desmistificar a idealização de uma dada estrutura familiar como sendo a “natural”, abrindo-se caminho para o reconhecimento da diversidade das organizações familiares no contexto histórico, social e cultural. Ou seja, não se trata mais de conceber um modelo ideal de família, devendo-se ultrapassar a ênfase na estrutura familiar para enfatizar a capacidade da família de, em uma diversidade de arranjos, exercer a função de proteção e socialização de suas crianças e adolescentes. 5.3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS- FAMILIA BRASILEIRA A formação histórica e cultural da família brasileira destaca-se por sua formação multiétnica e pluricultural, e se faz necessário um entendimento na sua formação social. O aspecto mais importante a destacar é sua formação e pluricultural. A imensa extensão territorial brasileira, colonizada por povos de diferentes etnias, determinou o aparecimento de uma grande diversidade de culturas, e consequentemente de famílias. Segundo Bruschini (2000), nos primeiros séculos de colonização temos como modelo dominante de organização a família tradicional, patriarcal, extensa, rural que resultou da adaptação do modelo de família trazido pelos portugueses. O estilo de família Colonial Português, subjugou os índios e, considerava os escravos negros 31
- 33. como seres inferiores e submissos. Com uma distribuição extremamente rígida e hierárquica de papéis, a família patriarcal caracteriza-se também pelo controle da sexualidade feminina e regulamentação da procriação, para fins de herança e sucessão. A família patriarcal era um extenso grupo composto pelo núcleo conjugal e sua prole legítima, ao qual se incorporavam parentes, afilhados, agregados, escravos e até esmo concubinas e bastardos, todos abrigados sob o mesmo teto, na casa grande ou na senzala. Essa característica senhorial foi observada também pelas famílias não proprietárias, das camadas intermediárias – comerciantes funcionários públicos, militares profissionais liberais. (Ibidem, 2000). A partir da segunda metade do século XIX, com o início do processo de industrialização, opera-se uma mudança na família e o modelo patriarcal, vigente até então, passa a ser questionado. Começa a se desenvolver a família conjugal moderna, na qual o casamento se dá por escolha dos parceiros, com base no amor romântico, valorizando a autonomia e o respeito mutuo, pela cooperação de tarefas e com uma relação de igualdade, justiça e ética. Colocando esta nova mulher no papel de mãe, educadora – dos filhos e também de suporte ao homem na labuta diária. Esse novo modelo de família institui novos padrões de educação dos filhos, e atribui alto valor à privacidade e intimidade nas relações entre pais e filhos. A domesticidade, o amor romântico e o amor materno tornaram-se suas pedras angulares. A existência de traços da família patriarcal na família conjugal moderna persiste até o século XX, fundamentada inclusive na legislação, pois, no Brasil, somente na constituição de 1988 a mulher e o homem são assumidos com igualdade no que diz respeito aos direitos e deveres na sociedade conjugal. Alguns pesquisadores do campo da família, entre eles: Sarti (2003) e Mioto (1997) entendem que os “modelos” patriarcal e conjugal permanecem existindo como tais até os dias atuais, havendo a predominância de um ou de outro, dependendo da camada social a que pertence a família. Na contemporaneidade, as mudanças ocorridas na família relacionam-se em uma sociedade onde a tradição em sendo abandonada. Assim, o amor, o casamento, a família, a sexualidade e o trabalho, antes vividos a partir de papéis preestabelecidos, passam, a ser concebidos como 32
- 34. parte de um projeto em que a individualidade conta decisivamente e adquire cada vez mais importância social. É a partir dos anos 90 que a família brasileira apresenta mudanças significativas em todos os seguimentos da população. Segundo Mioto (1997), com base na análise da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio-IBGE (PNAD), a família dos anos 90 tem uma configuração marcada pelas seguintes características populacionais: 1) Número reduzido de filhos. A família brasileira entra nos anos 90 com uma média de 2,5 filhos, em contraposição aos anos 60, cuja média era de 6,3 filhos. Este dado indica queda acentuada da taxa de fecundidade das mulheres brasileiras. 2) Concentração da vida reprodutiva das mulheres nas idades mais jovens (até trinta anos). Isto significa que as mulheres passam menos tempo de sua vida em função da reprodução e têm mais tempo para se dedicar a outras atividades (trabalho, relação conjugal). 3) Aumento da concepção em idade precoce. Isto implica o aumento da gravidez entre adolescentes. 4) Aumento da coo-habitação e da união consensual. Este aspecto tem como consequência o fato de a coo- habitação não ser mais considerado como sinal de pobreza. E, paralelamente ao aumento das uniões consensuais, houve um avanço da união legal (aumento do número de casamentos civis) em contraposição à união religiosa (queda do número de casamentos religiosos). 5) Predomínio das famílias nucleares (pai, mãe, filhos). Embora se registre uma queda desse tipo de organização familiar (em 1981, 81% das famílias eram nucleares; em 1989 essa porcentagem caiu para 79,5%), as famílias nucleares ainda são predominantes ao contexto brasileiro. 6) Aumento significado das famílias monoparentais, com predominância das mulheres como chefes da casa. Em 33
- 35. termos de dados, em 1981 registrou-se 16,8%. 7) Aumento das famílias recompostas. Este fato é consequência do aumento das separações e dos divórcios nos últimos anos. 8) População proporcionalmente mais velha. O crescimento da população idosa está condicionada ao aumento da expectativa de vida média da população. A média de identidade da população brasileira em 1950 era de 18,8 anos e apenas 4,2% tinham mais de sessenta anos. Em 1991 a idade média ficou em 24,8 anos, e a população acima de sessenta anos passou a ser de 7,8%. Isto significa um aumento de encargos da família relacionado ao cuidado com idosos. 9) Aumento de pessoas que vivem sós (PNAD 1977: 118- 119). Essas mudanças têm sido compreendidas como decorrentes de uma multiplicidade de aspectos. Sarti (2007) referencia a pílula anticoncepcional, que foi difundida a partir da década de 1960, como aquela que separou a sexualidade da reprodução e interferiu decisivamente na sexualidade feminina. Esse fato criou condições para que a mulher deixasse de ter sua vida e sua sexualidade atadas à maternidade como um “destino” e com isso, recriou o mundo subjetivo feminino e, aliado a essa expansão, ampliou as possibilidades de atuação da mulher no mundo social, e diante de sua família. Mais tarde, a partir dos anos 80, as novas tecnologias reprodutivas – seja inseminações artificiais, seja fertilizações in vitro – dissociaram a gravidez da relação sexual entre homem e mulher. Isso provoca “mudanças substantivas”, as quais novamente afetaram a identificação da família com o mundo natural, que fundamenta a ideia de família e parentesco do mundo ocidental judaico-cristão. (Strathern, 1955 apud Sarti, 2007). A saída da mulher do mundo privado para o público através do trabalho remunerado, o modelo desenvolvimentista do Estado brasileiro, que provocou um empobrecimento das famílias, a migração do campo para as cidades e a entrada de mulheres e crianças no mercado de trabalho, abalou os alicerces familiares, pois até pouco tempo atrás o homem era o provedor e à mulher cabia quase que exclusivamente o cuidado dos filhos e da casa. 34
- 36. Essas mudanças, ocorridas com a família na contemporaneidade tiveram profundas implicações na configuração familiar originando vários modelos de família. 5.3.2 PROTEÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA A Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004) descreve que “a família, independente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente os deslocamentos entre o público e o privado, bem como geradora de modalidades comunitárias de vida”. A importância da família no contexto da vida social está explícita no artigo 226 da Constituição Federal do Brasil (1988), “Família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, no artigo 16 da Declaração dos Direitos Humanos, que traduz a família como sendo o núcleo natural e fundamental da sociedade e com direito à proteção da sociedade e do Estado, e nas legislações específicas – Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e na Lei Orgânica da Assistência Social. Nesse contexto, pressupõe que para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário garantir condições de sustentabilidade para tal. Por isso, a política de Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, seus membros e dos indivíduos, com cunho universalista através de redes socioassistenciais que suportem as tarefas cotidianas de cuidado e que valorizem a convivência familiar e comunitária. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) precisa se inserir e se articular com outras políticas sociais como: de saúde, educação, cultura, esporte, emprego, habitação, entre outras para que as ações não sejam fragmentadas e o acesso e à qualidade dos serviços sejam para todos os membros da família e indivíduos. Essa política possui três níveis de proteção à família: Proteção Social Básica - tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 35
- 37. (ausência de renda, precária ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) (PNAS, 2004:27). Os serviços dessa proteção são executados de forma direta nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) cujos serviços são de fortalecimento dos vínculos internos e externos de solidariedade. Nesse equipamento são executados os seguintes programas: - Programa de Atenção Integral às Famílias; - Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza; - Centros de Convivência para Idosos; - Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens; - Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; - Centros de informação e de educação para o trabalho, voltado para jovens e adultos. Proteção Social Especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras (Ibidem: 31). Com vistas a definir os serviços socioassistenciais, entre eles os de Proteção Social Básica, a Resolução nº109/2009 instituiu a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais, deliberando que a Proteção Social Básica deveria passar a ofertar três tipos de serviços, e que a responsabilidade de implementá-los é do município: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. (CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009). O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço realizado em grupos de acordo com o ciclo de vida dos usuários. “Organiza-se de modo a ampliar 36
- 38. trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária” (BRASIL, 2009, p.9), devendo estar articulado ao PAIF. “O Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários” (BRASIL, 2009, p.16). Objetiva garantir direitos, gerar a inclusão social, equiparar oportunidades, promover a participação e o desenvolvimento da autonomia de pessoas idosas e com deficiência. Reconhecer que os serviços da proteção básica visam atendimento à família, como também a indivíduos, em uma perspectiva geracional na tentativa de fortalecer os seus vínculos, entre os seus membros ou deles com a comunidade. O seu desenho neste formato permite atingir tanto a família como o grupo ou seus integrantes em particular. De acordo com a PNAS (BRASIL, 2004) os serviços de proteção social básica devem ser ofertados primordialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), podendo ser oferecidos em outras unidades públicas de Assistência Social ou por instituições conveniadas, que, a partir da promulgação da Lei 12.101/2009, passaram a ser reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social, ficando sob a responsabilidade dos CRAS a gestão da proteção social básica no território e a execução do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Como principal equipamento da Proteção Social Básica, o CRAS [...] é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada a sua capilaridade nos territórios se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social de assistência social (BRASIL, 2009, p.9). Conforme está disposto nas Orientações Técnicas sobre o Centro de Referência de Assistência Social (BRASIL, 2009, p.9) O CRAS desenvolve serviços e ações que visam prevenir, proteger e promover os seus usuários e suas respectivas famílias. Além disso, oferta exclusivamente o PAIF 37
- 39. e é responsável pela gestão da rede socioassistencial de serviços de proteção básica no território, que são as suas funções exclusivas. Nessa perspectiva, [...] o CRAS vai desenvolver a chamada “proteção social básica” que objetiva o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a superação de vulnerabilidades que decorrem da pobreza, da exclusão e da violência social. Atuam na comunidade, com as famílias onde os vínculos estão preservados. Promovem, articulam e/ou executam o trabalho com famílias da comunidade que estão inseridas em programas diversos, como transferência de renda, socialização de crianças e adolescentes, grupos de convivência para idosos, entre outros (AFONSO, 2006, p. 172). Todo e qualquer serviço em nível de proteção básica desenvolvido fora do CRAS deve ser a ele referenciado e permanecer vinculado ao SUAS. Logo, “[...] o ponto focal da rede socioassistencial territorial local é o CRAS. Esta ação contribui para dar unidade aos objetivos e concepções do SUAS.” O CRAS deve prestar serviço, potencializando as mudanças significativas para a população, com vistas a mudar suas condições efetivas e torná-la sujeito de sua própria vida. Desta forma, as ações desenvolvidas no CRAS devem ser propostas de modo a produzir impactos significativos e duradouros na vida dos sujeitos sociais, por meio de estratégias que sejam capazes de interferir na maneira em que os próprios sujeitos, as famílias e os membros da comunidade gerem as suas relações, com a finalidade de torná- los preparados para encontrar soluções hábeis para interromper o ciclo de vulnerabilidades, sem, contudo, excluir a responsabilidade e participação ativa e permanente do Estado neste processo. O CRAS, no planejamento e execução dos serviços e ações deve materializar dois eixos organizacionais da Política Pública de Assistência social: matricialidade sociofamiliar e territorialização. A PNAS apresenta o conceito de matricialidade sociofamiliar informando que é primordial reconhecer a família como sujeito de direito e colocá-la como eixo central nas ações da Assistência Social. Uma vez que ela “[...] é mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, [...] se caracteriza como um espaço contraditório, [...] é marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, além de que nas sociedades capitalistas a família é fundamental no âmbito da proteção social” (BRASIL, 2004, p.41). Conforme apresentado nos Cadernos de Assistência Social 38
- 40. (2006), a família, historicamente, vem passando por diversas alterações, o que exige da Assistência Social e de seus trabalhadores uma nova mentalidade: proteger quem protege. Dessa forma: [...] a importância atribuída às famílias, [...] deriva do fato de que, entre outras coisas, elas constituem a instância mais básica da sociedade, na qual se desenvolve o sentimento de pertencimento e de identidade social das pessoas e se transmitem os valores e as práticas culturais. A família é também o grupo social que cuida e torna possível o acesso de seus membros (crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e também os adultos) aos direitos garantidos pelas demais instituições sociais (AFONSO, 2006, p.68). 5.3.3 A (DES) PROTEÇÃO FAMILIAR E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES Como descrito anteriormente o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, em seu artigo 5°, que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão (...)”, sendo dever constitucional da família, da sociedade e do Estado colocá-los a salvo de tais condições. No seu artigo 18, o ECA estabelece que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” Conforme o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, as violações de direitos podem vir a ocorrer no seio da própria família, na relação que os pais, responsáveis ou outros membros do grupo familiar estabelecem com a criança e o adolescente. Por toda a argumentação já desenvolvida até agora sobre a coo-responsabilidade do Estado, da família e na sociedade diante dos direitos de crianças e adolescentes, é preciso refletir também sobre a sua coo-responsabilização nas situações de violação desses direitos tanto quanto no esforço para a sua superação. Assim, a violação de direitos que tem lugar no seio da família pode refletir, ainda que não necessariamente, também uma situação de vulnerabilidade da família diante dos seus próprios direitos de cidadania, do acesso e da inclusão social. Depreende-se que o apoio sociofamiliar é, muitas 39
- 41. vezes, o caminho para o resgate dos direitos e fortalecimento dos vínculos familiares. Os direitos negados ou não adquiridos nas politicas de proteção social desencadeiam fatores de violação dos seus membros. Reconhecer a ameaça ou a violação dos direitos é dever dos demais membros da família, da comunidade e do próprio Estado. Dentre as situações de risco vividas por crianças e adolescentes, relacionadas à falta ou à fragilização dos vínculos familiares e comunitários, que merecem atenção e intervenção da sociedade e do Estado, destacam-se a negligência, o abandono e a violência doméstica. Segundo Azevedo e Guerra “a negligência se configura quando os pais (ou responsáveis) falham em termos de atendimento às necessidades dos seus filhos (alimentação, vestir, etc.) e quando tal falha não é o resultado das condições de vida além do seu controle” (grifo do autor). A negligência assume formas diversas, que podem compreender descasos: com a saúde da criança, por exemplo, ao deixar de vaciná-la; com a sua higiene; com a sua educação, descumprindo o dever de encaminhá-la ao ensino obrigatório; com a sua supervisão, deixando-a sozinha e sujeita a riscos; com a sua alimentação; com o vestuário; dentre outras. Pode-se dizer que o abandono, deixando a criança à própria sorte, em situação de extrema vulnerabilidade, seria a forma mais grave de negligência. “Para que se confirme a negligência nessas famílias, precisamos ter certeza de que elas não se interessam em prestar os cuidados básicos para que uma criança ou adolescente cresça saudável e com segurança.” Veronese e Costa (2006), conceituando-se “a palavra violência vem do termo latino vis, que significa força. Assim, violência é abuso da força, usar de violência é agir sobre alguém ou fazê-lo agir contra sua vontade, empregando a força ou a intimidação”. A violência doméstica ou intrafamiliar é um fenômeno complexo e multideterminado em que podem interagir e potencializar-se mutuamente. Características pessoais do agressor, conflitos relacionais e, por vezes, transgeracionais, fatores relacionados ao contexto socioeconômico da família e elementos da cultura, explica o fato da violência doméstica não ser exclusiva de uma classe desfavorecida, perpassando indistintamente todos os estratos sociais. Ela acontece no espaço privado, na assimetria das micros relações de poder estabelecidas entre os membros da família, e abrange a violência física, a violência psicológica e a violência sexual, 40
- 42. podendo acarretar sequelas gravíssimas e até a morte da criança ou do adolescente. A família é uma instituição social que se altera de acordo com as transformações históricas de cada sociedade, estando atravessada por relações de poder e dominação tais como as demais instituições sociais. A família vem sendo considerada como um espaço privilegiado de atenção das políticas públicas. Conforme Kaloustian (1998) é a família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal e é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados valores culturais. As formas de sociabilidade existentes entre os integrantes da família organizam-se por relações estruturalmente complementares, porém de natureza distinta. A divisão sexual e etária do trabalho é um princípio fundamental que delimita posições e papéis diferenciados de acordo com o gênero e a idade dos componentes da unidade doméstica. No Brasil, especificamente, as sociabilidades sociofamiliar e as redes de solidariedade foram e são, para as camadas populares, a sua condição de resistência e sobrevivência. A família alargada, o grupo de conterrâneos, por exemplo, são possibilidades de maximização de rendimentos, apoios, afetos e relações para obter emprego, moradia, saúde. A família, enquanto forma específica de agregação tem uma dinâmica de vida própria, afetada pelo processo de desenvolvimento socioeconômico e pelo impacto da ação do Estado através de suas políticas econômicas e sociais. Por esta razão, ela demanda políticas e programas próprios, que deem conta de suas especificidades, quais sejam, a divisão sexual do trabalho, o trabalho produtivo, improdutivo e reprodutivo, a família enquanto unidade de renda e consumo e forma de prestação de serviços em seu espaço peculiar que é o doméstico. Há no desenho da política social contemporânea um particular acento nas micros solidariedades e sociabilidades sociofamiliar pela sua potencial condição de assegurar proteção e inclusão social. Sob esta ótica, 41
- 43. Kaloustian (1998) afirma que a família, em meio a discussões sobre a sua desagregação ou enfraquecimento, está presente e permanece enquanto espaço privilegiado de socialização, de prática de tolerância e de lugar inicial para o exercício da cidadania. Tal desagregação das relações familiares está muito relacionada, conforme aponta Almeida (2005), às mudanças no mundo do trabalho que atinge famílias inteiras pelo desemprego estrutural. Na atual conjuntura, onde existe essa desagregação crescente das relações familiares, o Estado mais do que nunca tende a se desobrigar da reprodução social e a transferir quase que exclusivamente para as famílias responsabilidades que, em nome da solidariedade, da descentralização ou parceria, as sobrecarregam. Isto é, por detrás de uma criança, que está inserida em uma relação de trabalho precoce urbano ou rural, existe uma responsabilização da família sobre essa situação, que não é assistida ou, quando é, a política social implementada é inadequada, pois não corresponde às suas necessidades e demandas para oferecer o suporte básico para que a família cumpra, de forma integral, suas funções enquanto principal agente de socialização dos seus membros, crianças e adolescentes principalmente. De acordo com Guimarães e Almeida (2005), sem política social que corresponda às suas necessidades, essas famílias estão diante do desafio de enfrentar carências materiais e financeiras. A esses desafios somam-se episódios cotidianos de violência urbana, originada pelos grupos do narcotráfico e do crime organizado, compondo um quadro de acúmulo e potencialização da violência familiar. Em outras palavras, as famílias pobres são o microcosmo da contradição social e o paiol de conflitos que, na maioria das vezes, eclodem em múltiplas formas de violências. Contraditoriamente, descrevem uma epopeia hercúlea e solitária contra a enorme pressão social e econômica que joga a favor de seu estilhaçamento e da eliminação física de seus membros. Apesar de as legislações vigentes de proteção à criança e ao adolescente considerarem-nos detentores de direitos e em situação de desenvolvimento peculiar (BRASIL,1990; UNICEF, 1987), muitos jovens vivenciam a violação de seus direitos, como a violência intrafamiliar. A violência tem sido considerada um problema de saúde e fator de risco para o desenvolvimento, sobretudo em crianças e adolescentes (SÁ et al.,2009). A violência contra a criança e o adolescente não se constitui uma novidade da 42
- 44. sociedade contemporânea, contudo é, na atualidade, que a concepção de que eles devem ser protegidos de todas as formas de violência foi estabelecida. Muitos pesquisadores têm se debruçado sobre o estudo da violência, reconhecendo sua complexidade e polissemia. Para Minayo e Souza (1998), a violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes e nações que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, mental ou espiritual. A violência é um fenômeno pluricausal, que tem como determinantes a pobreza, o desemprego, a criminalidade, doença mental, entre outros (COSTA; PENSO, 2005;). Da mesma forma, a violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente não tem uma causa única. Aspectos como características da criança, violência conjugal, ausência de rede de apoio da família, pobreza, desemprego, vivência de violência pelos pais na infância, aceitação do castigo corporal como forma de educação, entre outros têm sido encontrados nas famílias com violência intrafamiliar (COSTA et al., 2007; COSTA; PENSO, 2005; MINAYO; SOUZA, 1998). Por tratar-se de um fenômeno complexo e de difícil enfrentamento que envolve questões legais e de proteção, a violência intrafamiliar exige o envolvimento de toda a sociedade. Para que isso ocorra, de maneira eficiente e eficaz, algumas condições devem ser satisfeitas: • a existência e a adequada estruturação de uma rede de serviços de atenção e proteção à criança, ao adolescente e à família, capazes de prover orientação psicopedagógica e de dialogar com pais e responsáveis, criando espaços de reflexão quanto à educação dos filhos, bem como de intervir eficientemente em situações de crise, para resguardar os direitos da criança, fortalecendo a família para o adequado cumprimento de suas responsabilidades ou propiciando cuidados alternativos à criança e a ao adolescente que necessitem para sua segurança e após rigorosa avaliação técnica, ser afastados da família. • difusão de uma cultura de direitos, em que as famílias, a comunidade e as instituições conheçam e valorizem os direitos da criança e do adolescente, especialmente a sua liberdade de expressão e o direito de 43
- 45. participação na vida da família e da comunidade, opinando e sendo ouvidos sobre as decisões que lhes dizem respeito; • a superação de padrões culturais arraigados, característicos de uma sociedade patriarcal, marcada pelo autoritarismo, em que se admite a imposição de castigos físicos e outros tipos de agressão como “educação” dada à criança e ao adolescente; • a capacidade dos membros das famílias, da comunidade e dos profissionais que atuam junto a crianças, adolescentes e famílias, especialmente nas áreas de educação, saúde e assistência social, de reconhecer os sinais da violência contra a criança e o adolescente, denunciá-la e enfrentá-la, desenvolvendo uma atitude coletiva e proativa de proteção e “vigilância social”, em lugar da omissão; • a existência e a adequada estruturação dos Conselhos Tutelares, bem como a capacitação dos conselheiros para o exercício de suas funções em defesa dos direitos da criança e do adolescente, em estreita articulação com a Justiça da Infância e da Juventude, o Ministério Público e com os demais atores do Sistema de Garantia de Direitos. • a oferta de serviços de cuidados alternativos à criança e ao adolescente que necessitem - para sua segurança e após rigorosa avaliação técnica - ser afastados da família de origem; e • a oferta de serviços de apoio psicossocial à família visando a reintegração familiar, bem como de acompanhamento no período pós- reintegração. O conselheiro tutelar, o técnico, a autoridade judicial, ou qualquer outro ator institucional ou social, na sua missão de velar pelos direitos da criança e do adolescente, ao se deparar com uma possível situação de negligência, ou mesmo de abandono, deve sempre levar em conta a condição socioeconômica e o contexto de vida das famílias bem como a sua inclusão em programas sociais e políticas públicas, a fim de avaliar se a negligência resulta de circunstâncias que fogem ao seu controle e/ou que exigem intervenção no sentido de fortalecer os vínculos familiares. Não cabe neste espaço aprofundar cada uma dessas categorias, apenas situar a gravidade do fenômeno, no mesmo plano da violência urbana e da violência estrutural, e a imperiosa 44
- 46. necessidade de preveni-lo e enfrentá-lo, em todas as suas facetas e gradações. São considerados fatores de vulnerabilidade da família: ♦ famílias baseadas numa distribuição desigual de autoridade e poder, conforme papéis de gênero, sociais ou sexuais, idade, etc., atribuídos a seus membros; ♦ famílias cujas relações são centradas em papéis e funções rigidamente definidos ♦ famílias em que não há nenhuma diferenciação de papéis, levando ao apagamento de limites entre seus membros; ♦ famílias com nível de tensão permanente, que se manifesta através da dificuldade de diálogo e descontrole da agressividade. Ca 5.4 REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL As redes de proteção é o caminho atual para que as politicas públicas possam caminhar num novo modo de ação para alcançar com efetividade e com eficácia a gestão pública de integração entre parceiros na busca de soluções, para atender as pessoas ou grupos se encontram mais vulneráveis. A busca da intersetorialidade entre as diferentes áreas do governo, otimizando espaços, serviços e competências, é condição imprescindível para que as crianças e os adolescentes sejam atendidos de modo integral, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. As conexões necessárias à articulação de políticas sociais públicas não são apenas as de ordem comunitária e territorial, mas exigem a vinculação a redes temáticas e institucionais de toda a cidade, apesar das dificuldades do percurso, os necessários pactos de complementaridade e de cooperação entre atores sociais, organizações, projetos e serviços são essenciais para uma mudança cultural na forma de relação entre comunidades locais, regionais, nacionais e entre serviços e programas de organizações governamentais e não governamentais. A proteção social não está circunscrita apenas ao âmbito do Estado e apresenta-se originariamente nas relações da família e comunidade. Não obstante, o Estado tem entre suas responsabilidades fundamentais a de oferecer políticas sociais que garantam a proteção social como direito e deve fazê-lo em conjunto com a sociedade promovendo ações que 45
- 47. focalizam as pessoas, as famílias e os grupos sociais que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Essa vulnerabilidade pode ser decorrente da insuficiência ou ausência de renda, desemprego, trabalhos informais, doenças etc., dificuldades de acesso aos serviços das diferentes políticas públicas, ruptura ou fragilização dos vínculos de pertencimento aos grupos sociais e familiares. É na política de Assistência Social, entretanto, que se organizam a rede de proteção básica com os serviços destinados ao acompanhamento de famílias em situação de maior vulnerabilidade e os serviços e programas de proteção especial que possibilitam a atenção aos casos de ameaça ou risco pessoal e social. Articuladas, as redes de proteção básica e especial promovem a acolhida da criança, do adolescente e de sua família em situação de vulnerabilidade e risco, fortalecendo vínculos e providenciando os apoios necessários a cada caso. O próprio sistema de gestão do SUAS enfatiza a necessidade de se estabelecerem relações interinstitucionais, Intersecretarias e intermunicipais que possam atender mais adequadamente e com maior eficiência as demandas sociais da população. Embora as estruturas e processos das políticas sociais sejam mais formais, quando se fala de trabalho em rede, são as relações sociais entre agentes públicos e outros atores que pertencem a esferas diferentes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente – SGDCA que dão efetividade e eficácia à intervenção. Não é apenas a organização e o tipo de troca que define a qualidade das relações, e sim a clara intenção dos participantes em atuar cooperativamente por um objetivo comum. A conexão em rede pode movimentar atores e agentes sociais que atuam em esferas diferentes de ação e, muitas vezes, segundo princípios de ação também diversos. A construção do direito da Assistência Social é recente na história do Brasil. Durante muitos anos a questão social esteve ausente das formulações de políticas no país. O grande marco é a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que confere, pela primeira vez, a condição de política pública à assistência social, constituindo, no mesmo nível da saúde e previdência social, o tripé da seguridade social que ainda se encontra em construção no país. A partir da Constituição, em 1993 temos a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), no 8.742, que regulamenta esse 46
- 48. aspecto da Constituição e estabelece normas e critérios para organização da assistência social, que é um direito, e este exige definição de leis, normas e critérios objetivos. Esse arcabouço legal vem sendo aprimorado desde 2003, a partir da definição do governo de estabelecer uma rede de proteção e promoção social, de modo a cumprir as determinações legais. Dentre as iniciativas, destacamos a implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 2005, através de uma deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília (DF) e pleiteava a universalização dos direitos a Seguridade Social e proteção social pública com a composição da politica pública de assistência social em todo o território nacional, conforme determinações da LOAS e da Política Nacional de Assistência Social. Conforme o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: O Sistema Único de Assistência Social (Suas) é um sistema público que organiza os serviços de assistência social no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é, municípios, estados e a União, para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus- tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. No Suas também há a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma integrada aos 47
- 49. serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. O Suas também gerencia a vinculação de entidades e organizações de assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social (CNEAS) e concedendo certificação a entidades beneficentes. A coordenação de tais ações e iniciativas, bem como a construção de uma verdadeira “rede de proteção” aos direitos infanto-juvenis, é tarefa que cabe, primordialmente, aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, cuja principal característica é a composição paritária entre governo e sociedade. Assim sendo, sob a coordenação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente (notadamente em nível municipal, haja vista que a municipalização do atendimento é a diretriz primeira da política idealizada pela Lei nº 8.069/1990 para proteção integral dos direitos infanto- juvenis), os mais diversos serviços públicos (a exemplo dos prestados pelos CREAS, CRAS, CAPS etc.), assim como programas de atendimento executados por órgãos e entidades governamentais e não governamentais, devem se articular, estabelecendo “protocolos” de atendimento interinstitucional, definindo fluxos e “referenciais”, que permitam a rápida identificação dos setores e profissionais que deverão ser acionados sempre que surgir determinada situação de ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes, que deverão agir de forma integrada, na perspectiva de que o problema seja solucionado da forma mais rápida e eficaz possível. 5.5 SOCIEDADE CIVIL NA A PROTEÇÃO SOCIAL Sobre a origem do termo sociedade civil: A origem do termo sociedade civil – koinonéia politiké- está em Aristóteles e designava a cidade como forma de comunidade diferente e superior à família. As transformações socioeconômicas ocorridas no mundo, a partir da década de 70 foram significativas para a apropriação da terminologia - sociedade civil-expressava possibilidade de mudança e era considerada como uma relação antiestatal. 48
- 50. A partir do final da década de 70 do século XX, o neoliberalismo, ascende no cenário mundial, com o governo de Margaret Thatcher, tendo como principais características: a precarização das condições de trabalho; flexibilização dos direitos sociais; coibição das ações dos sindicatos e aumento do trabalho feminino, No Brasil, não diferente do que acontecia no mundo era iniciado um processo de valorização do mercado em detrimento da desvalorização estatal. Difundia-se o discurso de ineficiência do Estado, visto como burocrático, incapaz e gigantesco, precisando ser reformado para ajustar sua economia à nova competitividade internacional. Instituiu-se então a ideia de crise do Estado, que passa por uma reforma para ajustar sua economia à nova competitividade internacional. Por exemplo, da administração pública burocrática, o Estado passa a utilizar a administração pública gerencial, inspirada na administração empresarial. Menos Estado era uma das modificações exigidas para que os países se adequassem à competitividade internacional. Essa competitividade fazia parte do processo de globalização a que todos os países, à sua forma, tiveram que ingressar. Não há uma definição universalmente aceita para o termo globalização. O que é comum neste entendimento é o “encolhimento das distâncias”. A partir do final da década de 80 e início da década de 90, o conceito de Sociedade Civil é cooptado pelo discurso neoliberal e tem como características: a) Ser uma esfera não estatal, entendida como pré- estatal, antiestatal, ou mesmo, pós-estatal. Reduzida ao “terceiro setor”; b) Ser um espaço virtuoso para o enfrentamento das questões sociais, desconsiderando-se os diversos interesses que compõe essa esfera social; c) Ser um espaço de solidariedade transformando-se quase um sinônimo de cidadania. 49
- 51. Essas interpretações caracterizam uma ação despolitizada de sociedade civil, reduzindo seu conceito ao “terceiro setor”, considerado naturalmente hábil para resolver as questões sociais. Além disso, o uso em voga do termo sugere ainda, ser essa uma esfera homogênea e composta somente por boas intenções. Sociedade civil é representada por organismos “privados” e voluntários como: escolas, partidos, famílias, igrejas, empresas, as diversas organizações sociais e os meios de comunicação. Tem como característica o exercício do consenso sobre a sociedade, dando a direção moral e política dessas. Em resumo: O termo sociedade civil torna-se mais comum no Brasil na década de 70, significando uma oposição ao governo militar. É representado por movimentos sociais politizados, contrários à ação governamental. Na década de 90 sua ação é caracteristicamente antiestatal. Sendo assim, sociedade civil não se resume às ONGs, ou a pessoas físicas e empresas como considerado pela fundadora da ONG estudo de caso. Pensar sociedade civil de forma fragmentada enfraquece sua força. Ao contrário, as ONGs fazem parte de um sistema maior que é constituído por pessoas, ONGs, empresas Estado, enfim, pelas diferentes instituições que formam uma sociedade. Embora nossas experiências sejam influenciadas por práticas autoritárias e clientelistas, esse cenário se transforma um pouco com a Constituição de 1988 trazendo à tona o protagonismo popular. São exemplos deste os conselhos de direito, que resgatam o exercício da participação dando voz e voto a sujeitos antes “invisíveis” e que agora participam do espaço público, defendendo seus interesses e participando do controle social, expressão da sociedade democrática pela qual tanto lutamos. Democracia, direitos, equidade são conceitos que ficam abalados com as reorganizações autônomas da sociedade em detrimento do Estado. Essas últimas décadas têm sido polarizadas pela relação Estado – Não-Estado enfraquecendo esses conceitos e desconstruindo a importância do papel do Estado na área social, o que destrói perspectivas de coletividade e universalidade. 50
- 52. A atuação de diferentes atores intervindo no social deixa clara que há novas possibilidades, mas que elas devem ser administradas. O Estado deve ter um controle maior da qualidade das ações prestadas pelas ONGs, assim como a população deveria controlar mais a qualidade dos serviços oferecidos pelo Estado. Atualmente os Conselhos são uma forma de controle social nos quais a sociedade deve participar, já que esses podem ser meios de influir na Proteção Social. Resultado de reivindicações da sociedade civil nas décadas de 70 e 80, a Constituição de 88 regulamenta a existência dos conselhos gestores como espaços descentralizados de participação popular. Participação popular e descentralização das decisões são importantes princípios que nortearam esse processo, na perspectiva da democracia deliberativa. Para além da representação, a democracia deliberativa propõe o exercício do poder a partir do debate público entre cidadãos com iguais condições de participação. Assim Luchmann conceitua a democracia deliberativa: “trata-se de um processo pautado em relações dialógicas entre os diferentes participantes, ou de um processo que, articulando cooperação e conflito, seja capaz de influenciar e alterar as preferências e interesses no sentido de endereçá-las para o bem comum” (2002:32). Os conselhos são de representação bipartite, ou seja, Governo e a sociedade civil e tem caráter deliberativo. Por ser um espaço representativo, só tem acesso o representante dos grupos e seus suplentes. São importantes espaços de participação, pois influenciam nas políticas a que se destinam, contribuindo para o controle social do Estado. Outra relevância dos conselhos é seu potencial de inclusão social de sujeitos historicamente excluídos. Para Cunha (2003:25) “são segmentos em situação de vulnerabilidade social que passam da condição de objeto da política para a condição de sujeitos, com direito a voz e voto. Esses novos sujeitos trazem para os conselhos novos temas, antes nem mesmo levados à agenda pública, publicizando diferentes interesses, opiniões e 51
