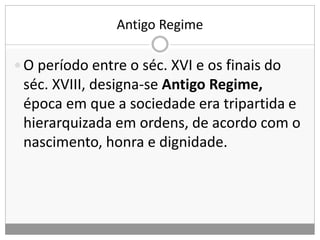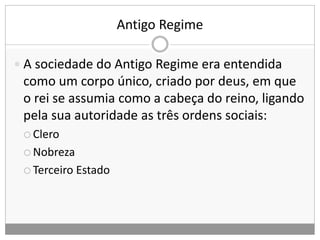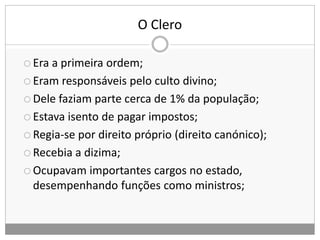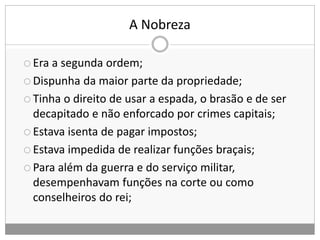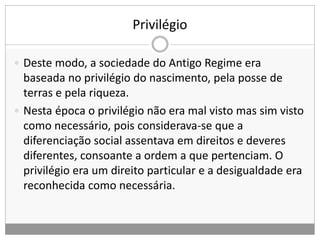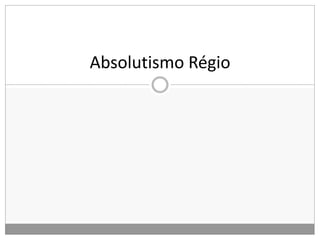O documento descreve a sociedade do Antigo Regime em Portugal e na França entre os séculos XVI e XVIII. A sociedade era tripartida e hierarquizada em ordens, sendo o clero no topo, seguido da nobreza e do terceiro estado. O documento detalha as características de cada ordem social e como o absolutismo régio reforçou a autoridade do monarca nesta época.