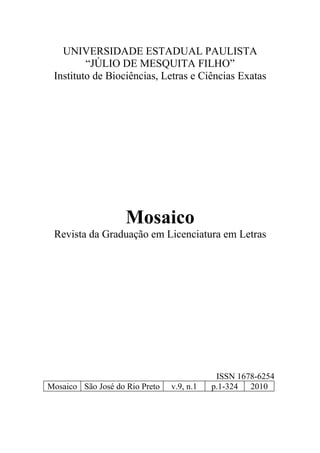
Revista mosaico unesp rio preto em 2010
- 1. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas Mosaico Revista da Graduação em Licenciatura em Letras ISSN 1678-6254 Mosaico São José do Rio Preto v.9, n.1 p.1-324 2010
- 2. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” Reitor Prof. Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald Vice-reitor Prof. Dr. Júlio Cezar Durigan INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, LETRAS E CIÊNCIAS EXATAS Diretor Prof. Dr. Carlos Roberto Ceron Vice-diretor Prof. Dr. Vanildo Luiz Del Bianchi CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS Coordenador Prof. Dra. Solange Aranha Vice-coordenador Profa. Dra. Luciani Ester Tenani Comissão Editorial Aline Maria Miguel Kapp, Ana Carolina Freschi, Bárbara Assis Loureiro, Daiana Priscila Estaca, Felipe Masquio de Souza, Fellipe Bruno da Silva Oliveira, Gabriela Oliveira, Gustavo da Silva Andrade, Isaac de Faria Ruy, Letícia Camara, Leticia Ferreira dos Santos, Marco Aurélio Frassi Orides, Nathanael da Cruz e Silva Neto e Vivian de Assis Lemos. Conselho Editorial Anna Flora Brunelli (ad hoc) Arnaldo Franco Junior (ad hoc) Cláudia Maria Ceneviva Nigro Cláudio Aquati (ad hoc) Douglas Altamiro Consolo Eli Nazareth Bechara (ad hoc) Erotilde Goreti Pezatti Fabiana Cristina Komesu Flávia Nascimento (ad hoc) Gentil de Faria Gisele Cássia de Sousa (ad hoc) Giséle Manganelli Fernandes (ad hoc) Jaime Guinzburg José Luís Vieira de Almeida José Luiz Fiorin Julyana Chaves Nascimento (ad hoc) Lúcia Granja (ad hoc) Luís Augusto Schmidt Totti Márcio Scheel Marcos Antonio Siscar Maria C. Tommasello Ramos Maria Helena Vieira Abrahão Maria Heloisa Martins Dias (ad hoc) Marize M. Dall’Aglio Hattnher Marta Kfouri (ad hoc) Orlando Nunes de Amorim Raul Aragão Martins Roberto Gomes Camacho Roxana G. Herrera Álvarez Sebastião Carlos L. Gonçalves Sérgio Vicente Motta (ad hoc) Solange Labbome (ad hoc) Sônia Piteri (ad hoc) Susanna Busato (ad hoc) Publicação Anual/ Anual Publication Solicita-se permuta/Exchange desired Mosaico Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth CEP: 15054-000 – São José do Rio Preto/SP Mosaico (Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – UNESP) São José do Rio Preto, SP – Brasil, 2010. 2010, 1 – 9 ISSN 1678-6254 Capa “Mosaico” – Ilustração de Humberto Perinelli Neto e Filipe Talon Mendes
- 5. Apresentação Um dos objetivos fundamentais da universidade é o de constituir-se como um espaço aberto, amplo e democrático no qual saberes e conhecimentos devem ser construídos e articulados de forma a atender não só aos interesses acadêmicos, mas, sobretudo, às necessidades do tempo e da sociedade em que vivemos. Nesse sentido, há uma espécie de compromisso essencial da universidade com o pensamento, a reflexão e a crítica – sempre múltiplos, privilegiando a diversidade de ideias, temas e perspectivas; sempre singulares, buscando novas e insuspeitadas abordagens teóricas; sempre dinâmicos, colocando em jogo a aventura da reflexão como uma tarefa infinita, inesgotável. Se o ensino é uma das vertentes primordiais desse processo, já que torna possível vivenciar uma relação dialética com os saberes e conhecimentos partilhados, a pesquisa, por sua vez, é importante na medida exata em que investiga, põe à prova, consolida ou questiona os limites, pertinências e a própria legitimidade do conhecimento. Sendo assim, além dessa sistemática construção de saberes e conhecimentos, cabe à universidade criar veículos, meios e mecanismos que possibilitem a circulação dos mesmos pensamentos que ela incita, estimula e provoca. A Revista Mosaico cumpre, com todos os méritos, esse papel. Resultado de um dedicado e decantado trabalho editorial, a revista consolida, a cada novo número, sua proposta de servir como esse instrumento, como esse lugar a partir dos quais os trabalhos de pesquisa produzidos por nossos alunos se difundem, ganhando contornos, autonomia e voz. Ao valorizar a produção intelectual discente, a Revista Mosaico contribui, de forma decisiva e salutar, não apenas com a manutenção da pesquisa, em nível de estágio básico, iniciação científica, mestrado ou doutorado, não importa, mas também com a própria essência do projeto universitário: o interesse sempre renovado pela tarefa crítica, pela análise, pela reflexão teórica. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 2010 3
- 6. O presente número compõe-se de onze artigos que refletem, de forma bastante significativa, os interesses científicos e a produção intelectual desenvolvidos no espaço acadêmico ibilceano. Contemplando a área dos estudos literários, esses trabalhos transitam pelas veredas dos gêneros literários, abordando questões poéticas, narrativas e dramáticas, sob as mais diferentes perspectivas e a partir dos mais diferentes autores e obras. Novo mérito da Mosaico: privilegiar a diversidade, estimulando a riqueza de ideias e reflexões que só a abertura a um pensamento plural pode encenar. Vale ressaltar que a organização do volume prima pelo equilíbrio de temas e pela assimilação de um debate sempre profícuo no que diz respeito aos estudos literários: a relação entre tradição, ou entre aquelas obras que já se consagraram criticamente e, por isso mesmo, ganharam o estatuto de clássicas, e contemporaneidade. É assim, por exemplo, que nas abordagens do texto teatral, encontramos os artigos de Daniele Fernandes Nardelli e de Mateus de Oliveira dos Santos. A primeira propõe uma leitura da evolução do trágico, seguindo de perto as definições aristotélicas de tragédia, a partir da análise comparativa entre o Édipo Rei, de Sófocles, e Macbeth, uma das mais importantes tragédias políticas de Shakespeare. O artigo de Mateus de Oliveira, por sua vez, concentra-se sobre os dois principais textos dramáticos de Samuel Beckett, Esperando Godot e Fim de Partida, com o propósito de refletir acerca dos elementos caracterizadores daquele que ficou conhecido como Teatro do Absurdo. Entre os estudos da narrativa, que se revelam como uma tendência muito marcada no espaço dos estudos literários, pois somam cinco dos onze artigos publicados, encontramos os trabalhos de Thamires Madi Pinheiro Morette, Ana Cláudia Bertini Ciencia, Bruna Flávia Rodrigues Venâncio, Maraiza Almeida Ruiz e Vivian de Assis Lemos. Mais uma vez, a Revista Mosaico prima pela abertura de temas, interesses e perspectivas teóricas no trato com o fenômenos literário. Desse modo, os artigos de Thamires Morette e de Vivian Lemos abordam a narrativa machadiana, mais especificamente o conto, sob prismas diversos: a primeira, numa leitura de “O Enfermeiro”, atenta para a construção do discurso narrativo a partir da figura do narrador MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 20104
- 7. em primeira pessoa e de suas implicações e influências sobre uma diegese na qual ele é o maior interessado; a segunda, ao atentar para um dos recursos estilísticos mais frequentes na obra de Machado de Assis, a ironia, busca demonstrar de que modo esta é conscientemente usada, no conto “Noite de Almirante”, para instabilizar alguns dos pressupostos fundamentais da estética romântica, como a idealização, por exemplo. O artigo de Ana Claudia Ciencia envereda pela teoria crítica feminista, uma das formas de abordagem consagradas pelos estudos culturais, para pensar a representação da mulher em duas obras separadas por seis séculos de distância: The Lord of the Rings, de Tolkien, e Le Morte Darthur, de Thomas Malory. Bruna Venâncio, em sua leitura do conto “La Ajorca de Oro”, de Gustavo Adolfo Bécquer, também coloca em jogo a problemática do narrador e sua tendência a dessacralizar, por intermédio da ironia, a tradição religiosa espanhola. Ao investigar o uso das lendas e os caracteres do gênero fantástico, o artigo investiga de que modo a narrativa estabelece uma crítica em relação aos conflitos instituídos entre os excessos da fé e do nacionalismo. Por fim, Maraiza Ruiz parte do estudo comparado entre O Asno de Ouro, obra da tradição romanesca clássica, o Lazarillo de Tormes e as Memórias de um Sargento de Milícias, para estabelecer, a partir da perspectiva teórica da carnavalização, quais os elementos estruturais comuns aos três romances e que permite pensar de que forma eles pertencem a um mesmo modelo literário. Nesse sentido, se o presente número da Revista Mosaico privilegia um diálogo entre diferentes tradições, época e contextos, tal tendência fica ainda mais evidente nos estudos poéticos aqui contemplados. Ronice Kelmis de Oliveira Silva, por exemplo, volta-se para El Hacedor, uma das obras mais importantes do escritor argentino Jorge Luis Borges, propondo, por meio da leitura do poema “Arte Poética”, uma análise dos artifícios e procedimentos estéticos de que Borges lança mão em seu processo de criação poética. Com uma chave de leitura analítica muito parecida, Fernanda Perpétua Pereira, Marília Molina Furlan e a próprio Ronice Kelmis, num artigo assinado em conjunto, propõe uma análise da poética de Sebastião Uchoa Leite levando em conta os artifícios de que sua poesia se vale para MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 2010 5
- 8. situar-se nos interstícios entre tradição e contemporaneidade como uma forma de construir, a um só tempo, o sujeito lírico e seu objeto poético. A construção do sujeito lírico também é o tema do artigo de Larissa de Macedo Raymundo, que busca pensar de que modo, no poema “El viajero”, do poeta espanhol Antonio Machado, tempo, sujeito e memória configuram-se como um construto poético que se torna concreto e visível no exercício narrativo que poema encena. Trata-se de um artigo que coloca em jogo uma temática e uma perspectiva teórica sempre renovadas, assim como o faz Paulo Barbosa Gaspar de Lima ao propor uma leitura crítica das relações entre o concretismo poético e a música de vanguarda, voltando-se para a obra “poetamenos”, de Augusto de Campos, inspirada na música de Anton Webern, e refletindo de que modo diferentes linguagens e registros artísticos podem estabelecer um intercâmbio estético transformador e seminal. Assim, a multiplicidade de temas e perspectivas teóricas, de posições críticas e tendências estéticas contempladas pelos artigos aqui presentes revelam que a Revista Mosaico já é parte fundamental do universo acadêmico ibilceano – não só no que diz respeito à circulação de saberes e conhecimentos, mas, também e sobretudo, na construção deles. Márcio Scheel MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 20106
- 9. Prezados leitores, E assim surge o nono exemplar da Revista Mosaico, fruto da produção científica e do trabalho desta comissão editorial, que não mediu esforços para esta publicação. Este número representa uma vitória para os colaboradores da revista, pois fechamos um ciclo para iniciarmos uma nova fase. Buscamos, com isso, maior visibilidade e abrangência da revista, expandindo seu território de alcance. Salientamos a importância da divulgação da revista para outros ambientes não só pelo próprio crescimento, mas também pela divulgação do conhecimento científico produzido pelos nossos colegas. Este crescimento não seria possível sem a colaboração dos autores, dos pareceristas, do Prof. Dr. Carlos Roberto Ceron, do seu vice Prof. Dr. Vanildo Luis Del Bianchi, da FAPERP, do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, de Letras Modernas e de Educação. Então, sejam bem-vindos a um grande passeio por caminhos cientificamente linguísticos e literários ainda não navegados. Nesta viagem esperamos que vocês se deliciem e se entusiasmem com as novas descobertas e se impressionem ainda mais com aquilo já visto. Os preparativos desta viagem foram cuidadosa e carinhosamente por nós tomados, a fim de que vocês, viajantes, aproveitem ao máximo tudo o que lhes pode ser proporcionado nessas milhas que estão por vir. Em meio a esta viagem, vocês se depararão com temas como o ensino de línguas por meio de contexto digital, os prazeres evocados pelo objeto literário e aspectos relacionados à descrição e ao conhecimento de nossa língua. Transponham-se para cá! Atenciosamente, Comissão Editorial MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 2010 7
- 10. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 20108
- 11. SUMÁRIO/CONTENTS Artigos/Articles Linguística/Linguistics A classificação semântica dos substantivos em livros didáticos The semantic classification of nouns in textbooks Ana Carolina ARAÚJO Jaqueline Moraes da SILVA Mirian da SILVA Raphael MENDES Simone Martins da SILVA ........................................ p. 19 Variação ou especialização entre as preposições A, PARA e EM? A consciência do potencial distintivo das preposições Variation or specialization between prepositions a, for and in? the conscience of the potential distinctive of prepositions. Anderson Augusto Messias DOS SANTOS Everton José Felipe DOMINGUES Mateus Henrique Ramos POLTRONIERI ................ p. 37 O alçamento das vogais pretônicas O e E no noroeste paulista: que fatores contribuem para que tais vogais sejam pronunciadas como U e I em determinados contextos? The raising of pretonic vowels /o/ and /e/ in the northwest of the state of Sao Paulo: which factors contribute to such vowels are pronounced as /u/ and /i/ in certain contexts ? Mateus Henrique Ramos POLTRONIERI................. p. 49 MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 2010 9
- 12. Materialidade discursiva: a voz do representante estudantil em foco Discursive materiality: student representative’s voice in focus Adelaide Maria Nunes CAMILO Camila Sthéfanie COLOMBO Carollina FERNANDES Jaqueline Padovani da SILVA Michele Cristina Barquete UEDA............................ p. 57 Os usos da vírgula em textos de alunos da última série do ensino fundamental The uses of the comma in the texts of students in the last grade of primary school Geovana Carina neri SONCIN................................. p. 73 O português brasileiro no século XVII, XVIII, XIX e XX: uma abordagem diacrônica e sincrônica The Brazilian Portuguese in the seventeenth, eighteenth and twentieth centuries: a synchronic and diachronic approach. Bruna Roberta dos SANTOS Carolina Cau SPÓSITO Manuela Graton MARCELLO Mariana Fontes DELFINO ..................................... p. 91 Literatura/Literature A “arte poética”, de Jorge Luis Borges: os artifícios que distinguem a maestria de El hacedor The Art of Poetry, by Jorge Luis Borges: the devices that distinguish the mastery of El hacedor Ronice Kelmis de Oliveira da SILVA ...................... p. 111 MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 2010101
- 13. A problemática do narrador em “O enfermeiro” de Machado de Assis The narrator problems in Machado de Assis’ “O enfermeiro” Thamires Madi Pinheiro MORETTE........................ p. 123 Mulheres em Tolkien e Malory: um breve estudo comparativo entre The Lord of the Rings e Le Morte Darthur Women in Tolkien and Malory: a brief comparative study about The Lord of the Rings and Le Morte Darthur Ana Cláudia Bertini CIÊNCIA ................................. p. 135 Música e poesia na “culturmorfologia” concretista Music and poetry at concretist “culturmorphpology” Paulo Barbosa Gaspar de LIMA.............................. p. 151 A queda de Pedro: uma leitura de “La ajorca de oro”. De Gustavo Adolfo Bécquer Pedro’s falling: an analisys of “La ajorca de oro” from Gustavo Adolfo Bécquer Bruna Flávia Rodrigues VENANCIO ...................... p. 169 A evolução do trágico: comparação entre as obras Édipo rei, de Sófocles, e Macbeth, de Shakespeare The Evolution of the Tragic: Comparison between the works Oedipus Rex, Sophocles, and Macbeth, Shakespeare Daniele Fernandes NARDELLI................................ p. 177 Entre a tradição e a ruptura: os interstícios da poética contemporânea de Sebastião Uchoa Leite Between tradition and rupture: interstices of Sebastião Uchoa Leite contemporary poetics Fernanda Perpétua PEREIRA Marília Molina FURLAN Ronice Kelmis O. da SILVA ..................................... p. 193 MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 2010 11
- 14. O Asno de Ouro, Lazarillo de Tormes e memórias de um sargento de milícias: obras de mesma estirpe The Golden Ass, Lazarillo de Tormes AND Memórias de um sargento de milícias: works OF the same family Maraiza Almeida RUIZ …....................................... p. 209 “Noite de Almirante” e a ironia com a idealização romântica do amor.. “Admiral’s Night” and the irony with the romantic ideal of love Vivian de Assis LEMOS ........................................... p. 227 O absurdo Beckettiano em Waiting for Godor e Endgame Beckettian Absurd in Waiting for Godot and Endgame. Mateus de Oliveira SANTOS………………..……….. p. 245 Tempo, sujeito e memória em “El viajero”, de Antonio Machado Time, Subject and Memory in “El viajero”, by Antonio Machado Larissa de Macedo RAYMUNDO……………………. p. 261 Educação/Education O projeto Teletandem Brasil: as relações entre as comunidades virtuais e as comunidades discursivas The Teletandem Brazil project: the relations between virtual communities and discourse communities. Jaqueline Moraes da SILVA..................................... p. 277 Refletindo sobre o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira em teletandem Reflecting about foreign language teaching and learning process in “Teletandem.” Drielli Naiara Camilo TONZAR…………………..…. p. 293 MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 2010121
- 15. Índice de assuntos ............................................................. p. 309 Subjetc Index ..................................................................... p. 313 Índice de autores/Authors index ........................................ p. 317 Normas para apresentação de original .............................. p. 319 MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 1-324, 2010 13
- 17. ARTIGOS/ARTICLES MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 15-307, 2010 15
- 19. LINGUÍSTICA/ LINGUISTICS MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 17-106, 2010 17
- 20. MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201018
- 21. A CLASSIFICAÇÃO SEMÂNTICA DOS SUBSTANTIVOS EM LIVROS DIDÁTICOS Ana Carolina ARAÚJO Jaqueline Moraes da SILVA Mirian da SILVA Raphael MENDES Simone Martins da SILVA1 RESUMO: Neste trabalho, trataremos das subclassificações de base semântica do substantivo com o objetivo de explicitar a inadequação do tratamento dado ao tema em livros didáticos. Argumentamos que a abordagem presente no livro didático parece estar essencialmente preocupada com a “categorização” dos substantivos, revelando uma tentativa de simplificação de questões complexas referentes à sua semântica. UNITERMOS: livro didático; substantivo; ensino. Introdução Dentro da classe dos substantivos, observamos comportamentos distintos para uma mesma categoria lexical. Tais comportamentos podem ser classificados segundo critérios morfossintáticos, semânticos e textuais. Semanticamente, podemos classificar os substantivos em: comuns ou próprios, concretos ou abstratos e contáveis ou não-contáveis. Neste trabalho, trataremos das subclassificações de base semântica do substantivo com o objetivo primário de explicitar a inadequação do tratamento dado ao tema em materiais didáticos. Por meio de um levantamento bibliográfico, elegemos autores que apresentassem uma abordagem linguística para o tema, como Camacho et. al. (2008) e Neves (2000), e também autores que, apesar de serem considerados normativos por alguns, apresentam 1 Universidade Estadual Paulista – UNESP. Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE. Departamento de Estudos Lingüísticos e Literários (DELL). São José do Rio Preto – SP – Brasil. Orientação: Prof. Dr. Sebastião Carlos Leite Gonçalves e Profa. Dra. Maria Antonia Granville. MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 19
- 22. uma visão mais descritiva do tema em questão, a saber: Bechara (1999) e Mira Mateus et. al. (1989). A abordagem dos substantivos feita por esses autores é contrastada com aquela constante na Proposta Curricular São Paulo faz Escola, em um livro didático adotado pela rede estadual de ensino e em um material didático apostilado adotado por uma escola da rede particular de ensino. A importância de tal trabalho está calcada na necessidade de levar o professor de Língua Portuguesa à reflexão quanto à natureza heterogênea da língua, que se reflete, por exemplo, nas possibilidades de classificações diversas para um mesmo item lexical, ressaltando a questão da não discretude categórica dos substantivos, tradicionalmente classificados de uma forma ou de outra, sem que se leve em conta o contexto de uso. O artigo foi estruturado da seguinte maneira: na seção 1, abordaremos o tratamento linguístico dado ao tema por meio da apresentação dos subsídios teóricos extraídos da análise de manuais de linguística e gramáticas descritivas; na seção 2, faremos a descrição dos materiais didáticos que serão analisados por meio de um confronto com os subsídios teóricos da seção anterior; na seção 3, apresentaremos uma proposta de como abordar o tema em sala de aula; por fim, na seção 4, retomaremos os principais pontos abordados nas seções anteriores, destacando o papel do professor na avaliação do conteúdo. Subsídios teóricos As subcategorias comum e próprio dos substantivos Observando as definições das subcategorias comum e próprio apresentadas pelos quatro autores citados, percebemos que, de um modo geral, os autores convergem para uma mesma definição: a de que os substantivos comuns denominam a classe de entidades à qual pertence o seu referente e a de que os substantivos próprios são designadores de referentes fixos e únicos. MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201020
- 23. Com relação a essa subcategoria, o que mais nos chamou a atenção foi a discussão acerca de substantivos próprios que passam a funcionar como comuns. Com efeito, tal discussão se faz presente em Camacho et. al. (2008), Mira Mateus et. al. (1989) e Bechara (1999), os quais argumentam que, nos termos de Camacho et. al. (2008), “um substantivo próprio pode perder suas características individualizantes, ao deixar de fazer referência ao indivíduo ou à coisa nomeada e passar a ser usado como substantivo comum” (CAMACHO et. al., 2008, p.48). Essa discussão se faz importante para nossa investigação por indiciar a não discretude das classificações semânticas do substantivo, corroborando, portanto, a nossa proposta de evidenciar a necessidade de o ensino das classificações semânticas do substantivo ser feito atrelado a contextos de uso. As subcategorias concreto e abstrato dos substantivos Em Bechara (1999), encontramos uma definição de substantivos concretos e abstratos muito próxima às definições apresentadas pelos livros didáticos. De fato, são definidas duas subcategorias que estabelecem relação dicotômica entre si: substantivo concreto versus substantivo abstrato. O critério apresentado para a definição desses dois pólos é a dependência ou independência dos seres designados pelo substantivo. Cabe ressaltar que tal critério mostra-se relativo, podendo causar classificações diferentes para um mesmo substantivo, fato esse que contraria a proposta do autor, o qual vê as categorias concreto e abstrato como sendo discretas. Por exemplo, dependendo da crença de determinado indivíduo, o substantivo “Deus” pode ser visto como um ser de existência independente, portanto, concreto, ou como um ser de existência dependente, ou seja, que precisa de alguém que acredite em sua existência para que ele realmente exista, classificado, portanto, como abstrato. Camacho et. al. (2008) classificam os substantivos como concretos ou abstratos a depender da ordem a que pertencem as entidades a que os substantivos se referem. Tais ordens são estabelecidas dependendo da extensionalidade das entidades MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 21
- 24. referidas. Essa definição de substantivos concretos e abstratos aproxima-se, em parte, da definição proposta por Bechara (1999), pois também apresenta o critério da dependência ou independência dos seres designados pelo substantivo. Entretanto, ao afirmarem que “a identificação das subcategorias concreto e abstrato tem implicação referencial e depende, portanto, dos planos de funcionamento do substantivo: o SN, a sentença e o texto.” (CAMACHO et al., 2008, p. 51), eles verificam que “os mesmos substantivos podem comportar diferentes graus de abstração dependendo de sua distribuição no SN” (p. 51). Logo, as categorias concreto e abstrato são vistas como não discretas, ou seja, não possuem fronteiras rígidas. Assim, esses autores reconhecem uma “gradação da abstração”, a qual “evidencia-se plenamente no nível do texto, em que um mesmo termo assume seu estatuto de substantivo abstrato ou substantivo concreto” (p.52). Seguindo esse mesmo ponto de vista, que considera as subcategorias concreto e abstrato como não discretas, Mira Mateus et. al. (1989) apresentam definições do que seriam substantivos concretos e substantivos abstratos prototípicos e propõem que essas definições sejam vistas como dois pólos de um mesmo continuum. Segundo as autoras, “os diferentes tipos de nominais [...] mostram a necessidade de conceber a oposição tradicional concreto/abstrato como uma grandeza escalar, assumindo os vários tipos de nominais, diferentes valores (posições) na escala concreto-abstrato”. (p. 54). Assim, não podemos “encaixar” os substantivos em duas classes rígidas: concreto ou abstrato, mas, ao classificarmos o grau de concretude e o grau de abstração de um substantivo, devemos sempre fazê-lo comparando o substantivo em análise a um outro da escala concreto-abstrato. Exemplificando, “na escala concreto-abstrato, gulodice desse urso é mais abstrato do que urso, e violência do rapto é mais abstrato do que rapto.” (p. 54). Neves (2000) vale-se do conceito de referenciação para classificar os substantivos como concretos ou como abstratos. Segundo ela, é apenas nessa função que podemos defini-los como tais. De acordo com a autora, “as subcategorias concreto e abstrato não são entidades discretas, pois a individualização se MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201022
- 25. faz, na fala, em diferentes graus, de acordo com: a) o modo como é feita a referenciação no sintagma nominal; b) o modo como o sintagma nominal é inserido na oração; c) a organização referencial do texto.” (p. 89). Como se vê, os autores aqui comentados são unânimes ao apontar o caráter não-discreto das noções de concreto e abstrato e ao afirmar a necessidade de se consider, na análise dos substantivos, seu funcionamento no universo textual, tratando-os também como objeto do discurso. As subcategorias contável e não-contável dos substantivos A gramática tradicional não se mostra sensível à diferença entre as subcategorias contável e não contável dos substantivos. Entretanto, tais subcategorias reúnem propriedades bastante importantes para a semântica do substantivo. Analisando as definições das propriedades contável e não- contável dos substantivos presentes nos três autores pesquisados, é possível dizer que há um entrecruzamento entre elas. Segundo Camacho et. al. (2008), substantivos contáveis referem-se a grandezas discretas, descontínuas e suscetíveis de numeração, como cachorro; substantivos não-contáveis referem-se a grandezas contínuas, não-discretas e, por isso, não suscetíveis de numeração, como água. (p. 52). Bechara (1999) defende que as subcategorias contável dos substantivos são constituídas por objetos que existem isolados como partes individualmente consideradas; já com relação às subcategorias incontável, o autor salienta que estas se referem “a objetos contínuos, não separados em partes diversas, que podem ser massa ou matéria ou ainda uma idéia abstrata”. (p.114) De acordo com Mira Mateus et. al. (1989), nos nomes contáveis, a oposição singular-plural apresenta um significado extensional. Tais nominais referem-se a conjuntos caracterizados como grandezas descontínuas e discretas, em que se pode distinguir partes plurais e partes singulares, e enumerá-las. Na forma marcada do singular, os nomes contáveis designam uma parte singular de um dado conjunto e, na forma plural, esses designam uma parte de um dado conjunto. Exemplos: MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 23
- 26. a) “O bebê é muito amoroso” [Forma marcada do singular] (Bebê: uma parte singular de um dado conjunto) (MIRA MATEUS, 1989, p.59) b) “Essas canecas de estanho são lindas” [Forma marcada do plural] (Canecas: partes plurais de um conjunto de objetos) (MIRA MATEUS, 1989, p.59) Com relação aos nomes massivos (incontáveis), segundo Mira Mateus et. al. (1989), estes nominais não podem se referir a partes singulares de conjunto, “[...] são mais dificilmente pluralizáveis do que os nomes contáveis e nos casos em que admitem variação de número, a oposição singular/plural não corresponde a subconjuntos enumeráveis, mas a diversidade de qualificações da entidade” (p.59). Estes nominais referem-se a conjuntos encarados como grandezas contínuas e não discretas, em que não se pode distinguir partes plurais e partes singulares, e enumerá-las. Exemplos: • Na forma marcada do singular, podem designar uma substância encarada como simples substância, simples intenção, sem ser considerada como porção ou grandeza: a) “A água dissolve o sal/ O ar é indispensável à vida humana”. (MIRA MATEUS, 1989, p.60) • Na forma marcada do plural, podem designar objetos feitos de uma dada matéria ou partes quantificadas de uma substância de acordo com certo padrão de medida: (= duas garrafas de água): b) “Dê-me duas águas.” (MIRA MATEUS, 1989, p.60) MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201024
- 27. Segundo Neves, (2000) “[...] os substantivos contáveis referem-se a grandezas discretas, descontínuas e heterogêneas, suscetíveis de contagem e, portanto, de pluralização. Trata-se de referência a elementos individualizados de um conjunto passível de divisão em conjuntos unitários.” (p.82). E com relação aos substantivos não-contáveis, de acordo com a autora, trata-se de grandezas contínuas, descrevendo entidades não-suscetíveis de numeração. Referem-se a uma substancia homogênea, que não pode ser dividida em indivíduos, mas apenas em massas menores, e que pode ser expandida indefinidamente, sem que sejam afetadas suas propriedades cognitivas e categoriais. As propriedades contável e não-contável dos substantivos, além de não serem abordadas pelos livros didáticos, geram controvérsias entre os linguistas no que diz respeito à questão classificatória e também no que diz respeito à nomenclatura adotada. Com relação à nomenclatura, em Mira Mateus et. al. (1989), há referência aos nomes que se referem a grandezas contínuas, não-discretas e não suscetíveis de numeração denominando-os nomes massivos, diferentemente dos outros três autores pesquisados, que adotam a expressão incontável ou não- contável para se referirem a tais nominais. No que diz respeito à questão classificatória, Neves (2000), diferentemente de Mira Mateus et. al. (1989), Camacho et. al. (2008) e Bechara (1999), defende que, embora as categorias contável e não-contável sejam explicadas como uma propriedade lexical, sendo os nomes marcados no léxico com os traços + contável / - contável, a ativação dessa propriedade só se faz, realmente, na função nominal de referenciação. Sendo assim, pode-se dizer que a grande maioria dos substantivos concretos podem ser empregados ora como contáveis ora como não- contáveis, dependendo do contexto em que são inseridos. É importante ressaltar que os diferentes empregos implicam em diferentes significados, já que um substantivo não-contável se refere a um tipo de substância e um substantivo contável se refere a uma unidade de determinada classe. Exemplo: MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 25
- 28. (a) “Beth Faria tratou de arranjar um frango de estimação” (NEVES, 2000, p.82) (Frango: Um indivíduo referenciado/ Contável) (b) “Segundo especialistas em nutrição, a opção de usar frango para a alimentação de peixes pode não ser boa”. (NEVES, 2000, p.82) (Frango: Uma massa ou substância/Não contável) Além da flutuação entre contáveis e não-contáveis, segundo Neves (2000), tal propriedade também pode ser notada entre substantivo próprio e substantivo contável e entre substantivo coletivo e substantivo não-contável. Com relação a este último par, a autora destaca a existência de um paralelo semântico entre eles, pois os coletivos, assim como os não-contáveis, não fazem referência a elementos individualizados. Entretanto, ressalta que, mesmo no singular, os coletivos pressupõem uma composição de indivíduos, fato que não ocorre com os não-contáveis: (a) “A boiada vai sair” (NEVES, 2000, p.87) A subcategoria dos substantivos coletivos Outra forma de classificar semanticamente os substantivos diz respeito à possibilidade de nomear um conjunto que é visto como uma unidade. Essa é a definição básica dos substantivos coletivos, e parece ser aquela adotada por grande parte dos livros didáticos atuais. O que podemos observar, contudo, é uma abordagem bastante superficial e pouco reflexiva do tema nesses materiais, em contraste com um tratamento mais minucioso dado em gramáticas descritivas e manuais de lingüística. Uma conceituação mais esclarecedora de substantivos coletivos pode ser encontrada, por exemplo, em Neves (2000), que os classifica em função de dois principais critérios: MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201026
- 29. i) sua genericidade/especificidade: “Dona Leonor e eu formávamos um terceiro GRUPO, bem no meio do aposento.”(NEVES, 2000, p. 121) “Entregou a Wanda um BUQUÊ de angélicas.” (NEVES, 2000, p. 128) ii) e sua definição/indefinição numérica: “A floresta transformou a terra num vasto LAMAÇAL.” (NEVES, 2000, p. 130) “O QUINTETO provoca risos e muitos aplausos.” (NEVES, 2000, p. 131) Esses macro-critérios admitem subclassificações a depender do tipo de unidades que constituem a coleção, a saber: pessoas, animais, vegetais, coisas, etc. Cabe ressaltar que a abordagem dos substantivos coletivos e das outras possíveis formas de classificá-los semanticamente, além de divergir entre os manuais de linguística e os livros didáticos, também não é consensual mesmo entre os linguistas. Por exemplo, enquanto Bechara (1999) considera uma distinção entre coletivos e nomes de grupos (defendendo que estes requerem a determinação explícita da espécie de objetos que compõem o conjunto), Neves (2000) não se atém a tal diferenciação: para a autora, são nomes coletivos tanto aqueles que podem estar acompanhados por um sintagma especificador quanto os que podem não estar. Descrição e análise A classificação semântica do substantivo foi analisada em três materiais didáticos distintos: na Proposta Curricular São Paulo faz Escola – mais especificamente, no volume 1 do caderno do 6º ano do Ensino Fundamental (ano de 2009) –, a qual é utilizada em uma escola da rede estadual de ensino juntamente com o livro didático Português: linguagens, 6º ano (CEREJA, 2006), que também foi nosso objeto de análise; e em um material MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 27
- 30. didático apostilado da Gênese Sistema de Ensino, adotado por uma escola da rede particular de ensino também para o 6º ano do Ensino Fundamental. Na Proposta Curricular São Paulo faz Escola, não encontramos as classificações semânticas do substantivo, somente há uma definição geral para toda classe dos substantivos: “Substantivos são palavras que servem para dar nome aos seres.” (p.10). Tal definição é apresentada juntamente com a de adjetivo a partir de um exercício em forma de teste que pede para os alunos assinalarem a alternativa que contém a finalidade em comum entre as palavras destacadas em um texto dado anteriormente. Apesar de o ensino da classe dos substantivos partir de um contexto de uso (no caso, o texto), os exercícios não promovem nenhuma reflexão por parte dos alunos, sendo respondidos de forma mecânica. Além disso, no tópico intitulado “Lição de casa”, há uma indicação para que sejam feitos mais exercícios sobre substantivos, os quais devem ser retirados do livro didático, que, segundo professoras da escola, é utilizado para complementar o conteúdo gramatical da Proposta. Por meio da tabela abaixo, apresentamos as definições de substantivo e de suas classificações semânticas encontradas em Cereja (2006) e no material didático apostilado da Gênese Sistema de Ensino. MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201028
- 31. Tabela 1. Definições encontradas nos materiais didáticos CEREJA Gênese Sistema de Ensino Substa ntivo “Substantivos são palavras que nomeiam seres – visíveis ou não, animados ou não –, ações, estados, sentimentos, desejos e idéias.” (p.79) “Substantivo é a palavra variável que dá nomes aos seres e pode vir precedida de artigo.” (p.51) Substa n-tivo Comu m “Comuns são os substantivos que se referem a todos os seres de uma espécie, sem particularizá- los.” (p.80) “Indicam o nome comum a todos os seres da mesma espécie.” (p.54) Substa ntivo Própri o “Próprios são os substantivos que nomeiam um ser em particular, destacando-o na espécie ou no grupo; por isso, são grafados com letra maiúscula.” (p.80) “Indicam o nome particular de cada ser da espécie.” (p.54) Substa ntivo Concr eto “Concretos são os substantivos que nomeiam seres de existência autônoma, isto é, que não dependem de outro para existir, e que podem ser reais ou imaginários: bicicleta, fada, lua, Deus, Brasil.” (p.80) “Indicam o nome de um ser que tem existência própria, independente.” (p.55) Substa ntivo Abstra to “Abstratos são os substantivos que nomeiam seres de existência não autônoma, isto é, que dependem de outro para existir. Designam sentimentos, ações e qualidades: tristeza, medo, cambalhota, esforço, vaidade, emoção.” (p.80) “Indicam o nome de um ser (substantivo) que depende de um outro ser (substantivo) para existir.” (p.55) Substa n-tivo Coleti vo “São os substantivos que, mesmo estando no singular, transmitem a idéia de agrupamento de vários seres da mesma espécie.” (p.81) “Indica um grupo, uma coleção, um conjunto de seres da mesma espécie.” (p.55) MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 29
- 32. Em Cereja (2006), já encontramos uma abordagem consideravelmente mais adequada para o ensino do substantivo e de suas classificações semânticas. O conceito é construído a partir do trabalho com um poema e os exercícios apresentam o substantivo de uma forma contextualizada, chamando a atenção dos alunos para a classificação do substantivo de acordo com seu uso. Entretanto, os conceitos são trabalhados de forma dicotômica (comum versus próprio e concreto versus abstrato) e não há uma separação entre as classificações de ordem semântica e morfológica. No material didático apostilado da Gênese Sistema de Ensino, a abordagem utilizada para o ensino do substantivo e de suas classificações semânticas é totalmente descontextualizada, levando os alunos à concepção de que os substantivos possuem classificação única e invariável. Por meio de exercícios baseados em listas de palavras a serem classificadas, percebe-se a necessidade de rotulação, ou seja, a ênfase dada às nomenclaturas. Dessa maneira, o papel semântico é deixado de lado e o aluno classifica mecanicamente, sem refletir sobre o sentido. Com efeito, os problemas de classificação parecem ser evidentes nos materiais de Ensino Fundamental e Médio. Nesses materiais, a conceituação de coletivos, por exemplo, é pouco aprofundada: “nomeia um conjunto visto como unidade: cacho, biblioteca” (cf. Português, João Domingues Maia, Ática, 2001, Ensino Médio, p. 189). Definições como essa, bem como aquelas em termos de contável e massivo, concreto e abstrato, ou ainda próprio e comum, induzem à cristalização de noções categóricas e dicotômicas quanto à classificação semântica do substantivo. Essas noções ficam ainda mais arraigadas em decorrência dos exercícios de fixação de conteúdo, que, no caso específico dos coletivos, pedem em geral: i) que os alunos informem o coletivo de uma dada lista de seres (cf. Material didático apostilado Gênese, p. 57) ou ii) que eles descubram, a partir de uma dada lista de coletivos, qual deles corresponde a expressões em destaque num conjunto de frases (cf. W. R. Cereja & T. C. Magalhães, Linguagens, 2006, 6º ano, p. 82). Acreditamos que, para fins estritamente didáticos pensando-se principalmente no Ensino Fundamental, a existência de exercícios nesses moldes não MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201030
- 33. é totalmente condenável. O problema talvez resida no fato de que a abundância de tais exercícios acaba por exigir do aluno certa obrigatoriedade de memorizar listas de coletivos e os respectivos conjuntos que denotam, o que não se mostra uma forma eficaz de aprendizagem, dado que os alunos do Ensino Fundamental e Médio, bem como os que estão se preparando para o vestibular, tendem a memorizar conceitos, fórmulas e listas apenas para fins de avaliação. Enfim, a abordagem da classificação semântica no livro didático está calcada na apresentação de classificações dicotômicas do tipo abstrato versus concreto, contável versus incontável e próprio versus comum. Isso revela uma tentativa de simplificação das questões mais complexas referentes à semântica dos substantivos, que podem, por exemplo, encaixar-se em mais de uma classificação simultaneamente. Tem-se, portanto, uma concepção de que alunos de ensino fundamental e médio são incapazes de compreender questões linguísticas como o fato de o substantivo ter distintos papéis semânticos dependendo do contexto em que está inserido. Tomando como exemplo os três substantivos violência, rapto e urso, semanticistas defenderiam uma escala de gradiência com uma direcionalidade do mais concreto para mais abstrato ou vice-versa: violência seria menos concreto que rapto que por sua vez seria mais abstrato que urso, ou seja, “violência”, por se tratar de uma noção abstrata, em comparação a “rapto”, apresenta traços mais abstratos do que este, que se caracteriza como uma ação, e, por sua vez, apresenta traços mais abstratos do que “urso”, que se caracteriza como um ser animado que possui matéria física, localizando-se, portanto, em um pólo mais prototipicamente concreto. De fato, por meio de tal escala, um substantivo não é “rotulado” simples e unicamente como concreto ou abstrato; como pudemos ver no exemplo citado, rapto pode ser visto como “mais concreto” se comparado a violência e como “mais abstrato” se comparado a urso. Entretanto, a abordagem didática atual leva os alunos a não titubearem ao classificar esses substantivos em dois pólos: violência e rapto como abstratos e urso como concreto, independentemente do contexto de uso e da MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 31
- 34. possibilidade da não discretude na classificação semântica desses substantivos. Um substantivo passível de uma classificação não tão clara, por exemplo, poderia ser a palavra construção que, a depender do contexto, pode assumir um significado mais concreto (“Aquela construção ficará pronta logo.”), ou outro mais abstrato (“A construção da ponte levará anos.”). Contudo, o quadro geral dos exercícios dos livros didáticos mais correntes parece ignorar a relevância do contexto na formulação dos exercícios e também o aspecto heterogêneo e fluido das classificações semânticas. É relevante também mencionar a questão da diferenciação das propriedades contável e não-contável dos substantivos. Os livros didáticos não se mostram preocupados em discutir tal diferenciação motivados talvez por uma dificuldade de consenso entre os elaboradores de materiais didáticos, já que há divergências entre os próprios linguistas nessa questão classificatória. Por exemplo, de acordo com Mira Mateus et. al. (1989), substancias líquidas, como água ou café, são consideradas massivas independentemente do contexto. Tal definição é considerada mesmo em frases como “Dê-me duas águas”, em que o substantivo é flexionado no plural. Ao contrário, Neves (2000) defende que as propriedades contáveis e não contáveis dos substantivos são identificadas e diferenciadas pelo contexto de uso. Deste modo, substancias líquidas, como as citadas, apresentam uma flutuação em sua classificação em contáveis e não contáveis dependendo do contexto em que se encontram. Encaminhamentos Diante da descrição e análise feita na seção anterior, ressaltamos a necessidade do ensino das classificações semânticas do substantivo ser feito atrelado a contextos de uso. De fato, tais classificações não podem ser feitas de maneira categórica, pois, como se tratam de categorias linguísticas, devemos levar em consideração o caráter não discreto dessas classificações. Assim, uma abordagem possível para a temática das classificações semânticas dos substantivos deveria evidenciar aos MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201032
- 35. alunos que tais classificações, além de fluidas, não se excluem mutuamente, de forma que um mesmo substantivo apresenta mais de uma categorização semântica. Logo, a preocupação deve deixar de ser a “rotulação” e passar a ser o sentido evocado pelos substantivos em diferentes contextos. Dessa forma, contribuiremos com a formação de usuários da língua materna competentes e críticos. Considerações finais Na análise de livros didáticos de circulação em escolas das redes estadual ou particular de ensino, percebemos que o tratamento dado às classificações semânticas do substantivo está essencialmente preocupado com nomenclatura classificatória, revelando uma tentativa de simplificação de questões mais complexas referentes à semântica dos substantivos. Logo, o aspecto heterogêneo e fluido das classificações semânticas é totalmente ignorado em favor do ensino de classificações semânticas rígidas e dicotômicas. Assim, os alunos são preparados para a necessidade mecanicista de situar os nomes em um pólo ou outro, sem jamais atentar para a possibilidade mais natural de concebê-los em um continuum que abarca, além dos extremos representados pelos nomes mais prototipicamente abstratos/contáveis/comuns e pelos mais prototipicamente concretos/massivos/próprios, os nomes intermediários. O professor do ensino fundamental e médio deve adotar uma postura mais reflexiva e crítica em relação ao trabalho apoiado nos materiais didáticos correntes. Isso significa questionar a natureza simplista e ineficaz das noções teóricas e dos exercícios desses materiais, que levam os alunos a solicitar respostas categóricas e dicotômicas no que concerne à categorização semântica da classe dos substantivos. Caberia ao professor mostrar, de forma gradual, a heterogeneidade da língua e a não discretude dos itens lexicais, ressaltando, por exemplo, que, embora a tradição seja pedir para classificar os substantivos em concreto ou abstrato, um substantivo é, de um ponto de vista mais MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 33
- 36. essencialmente linguístico, mais concreto ou mais abstrato em relação a um outro substantivo em um dado contexto. ARAÚJO, A. C.; MENDES, R.; SILVA, J. M.; SILVA, M.; SILVA, S. M. The semantic classification of nouns in textbooks. Mosaico. São José do Rio Preto, v. 9, n. 1, p. 19-35, 2010. ABSTRACT: In this paper, we deal with the semantic classification of nouns in order to show the inadequacy in approaching the issue in teaching materials. We argue that the approach in those materials seems to focus essentially on the noun “labeling”, which shows an attempt to simplify complex questions related to the semantics of nouns. KEYWORDS: teaching materials, noun, teaching. Referências Bibliográficas BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. ver. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. CAMACHO, R. G. et al. O substantivo. In: CASTILHO, A.T. et al. (orgs). Gramática do Português Falado Culto. V. II: Classes de palavras e processos de construção. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens, 6º ano. 4. ed. São Paulo: Atual, 2006. Gênese Sistema de Ensino. (Material didático apostilado) MAIA, João Domingues, Português: Série Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2001. MIRA MATEUS, M. H. et. al. Gramática da Língua Portuguesa. 4. ed. Lisboa: Editorial Caminho, 1989. MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 201034
- 37. NEVES, M. H. M. Gramática de Usos do Português. São Paulo: Editora UNESP, 2000. Proposta Curricular SÃO PAULO FAZ ESCOLA (5ª série, Ensino Fundamental, volume 1 – 2009). MOSAICO, São José do Rio Preto, v. 9, n.1, p. 19-35, 2010 35
- 39. VARIAÇÃO OU ESPECIALIZAÇÃO ENTRE AS PREPOSIÇÕES A, PARA E EM? A CONSCIÊNCIA DO POTENCIAL DISTINTIVO DAS PREPOSIÇÕES Anderson Augusto Messias DOS SANTOS Everton José Felipe DOMINGUES Mateus Henrique Ramos POLTRONIERI2 RESUMO: A partir de alguns inquéritos extraídos do projeto Iboruna, do Ibilce, que estuda a fala da população de São José do Rio Preto e sua região, tentaremos mostrar por que é tão difícil seguir as normas preposicionais impostas pela gramática. Veremos casos onde o falante usa uma preposição em lugar da indicada pelas gramáticas tradicionais e nos perguntaremos se essa troca provoca mudanças no sentido do enunciado ou se se trata apenas de uma variação da língua. UNITERMOS: Preposições; variação; língua portuguesa; especialização. Introdução Ao tentar seguir as prescrições preposicionais trazidas pelas gramáticas tradicionais, muitas vezes, encontramos dificuldades em aplicá-las na língua efetivamente corrente. Por outro lado, deparamo-nos com várias outras possibilidades de uso preposicional não indicado pelas gramáticas e que, no entanto, fazem sentido para nossa condição de falante e ouvinte do português brasileiro. Por vezes, chegamos a acreditar que dizer de um jeito ou de outro não traz alterações para o enunciado, mas então por que, quando não seguimos as gramáticas tradicionais, escolhemos dizer de um jeito e não de outro e vice-versa? Neste trabalho, a partir da seleção de 6 inquéritos extraídos do banco de dados do Iboruna - sendo três deles de informantes entre a faixa etária de 7 a 17 anos e três entre a faixa de 36 a 55 -, investigamos o uso das preposições a, para e em com verbos de movimento, transferência e comunicação, buscando explorar 2 Graduandos do 5º ano do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, câmpus de São José do Rio Preto-SP. Artigo apresentado à disciplina Sintaxe Descritiva da Língua Portuguesa, sob orientação da Profª Drª Gisele Cássia de Souza. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 2010 37
- 40. quais fatores favoreceram a utilização de uma em detrimento de outra e se essas escolhas afetam ou não o sentido do enunciado, ou seja, se há nessa variedade contextos de especialização das preposições ou se apenas se trata de variações do português. Para ou em? Ou ainda, a? a) eu fui numa festa. b) elas vão para a festa do biscoito, né? Enquanto as gramáticas tradicionais apontariam como forma mais adequada a preposição a para essas duas frases, condenando o uso de outras preposições, outras linhas de pesquisa considerariam a escolha preposicional das frases acima pura variação linguística, em que se usam formas diferentes para se dizer a mesma coisa. Entretanto, como veremos, essas não são escolhas ingênuas e nem livres de peso semântico bem demarcado. Ao evitar a preposição a, os informantes optaram por preposições distintas, ou seja, em e para. Uma das hipóteses possíveis para entender o uso dessas preposições pode ser o fato de cada falante querer priorizar um dado diferente da frase construída: na primeira frase, há a priorização da festa em si, do local, marcada pela preposição em (ou em + uma) enquanto, na segunda, do ato de deslocamento, marcada pela preposição para, já que a frase só foi construída por conta da dúvida que existia em relação ao ato de ir, ao ato de deslocar-se ou não para a festa. É claro que são hipóteses e não conclusões engessadas. Portanto, podemos observar que a prática linguística dos falantes proporciona a esses um complexo entendimento da capacidade distintiva de sua língua e leva-os a derrubar as barreiras estabelecidas pelas gramáticas tradicionais em favor da exploração desse potencial semântico-pragmático, pois, ao contrário das gramáticas tradicionais, os falantes tendem a preocupar-se mais com a função semântica das preposições que com a sintática: MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 201038
- 41. (...) a variação entre a, para e em em frases construídas com verbos do tipo ir e chegar não deve ser tratada como “formas diferentes de se dizer a mesma coisa”, pois (...) essa variação constitui um caso de variação léxico-sintática, haja vista que a mudança de uma preposição por outra nos contextos dados não só implica uma subespecificação do termo locativo, como também salienta propriedades predicativas distintas dos verbos envolvidos nessas construções (...). (FARIA, 2006, p.215) Os exemplos acima também põem em contexto a suposição de Mollica (1996) de que ambientes mais fechados favoreceriam a presença da preposição em, por trazer a ideia de dentro, enquanto ambientes menos fechado favoreceriam as preposições a e para. Nos exemplos apresentados, o ambiente é o mesmo, a festa, mas o que está em jogo é a prioridade da frase, que pode ser na festa em si ou no deslocamento. A escolha da preposição para/em/a (esta última, de acordo com os inquéritos pesquisados, de uso mais raro, que veremos mais adiante), como poderemos observar, é decorrência de várias percepções dos falantes. Assim, em um dado momento, como vimos nos exemplos acima, a escolha entre as preposições para e em deve-se a qual elemento da frase que o falante quer enfatizar. Em contrapartida, em outros casos, a escolha de uma ou outra preposição possibilita valores semânticos distintos na frase: c) ele quer voltar para o rancho d) ir pra FEBEM e) ...leva essas molecadas na creche O que há de comum nessas frases é a percepção aguçada do falante ao empregar preposições que lhe garantam o sentido desejado da frase por ele construída. Esse sentido está relacionado à duração do evento citado e consequentemente ao papel desempenhado pelos sujeitos da oração construída. Vejamos mais detalhadamente. Na frase c, quando o falante afirma que “ele (o seu avô, de acordo com a íntegra do inquérito pesquisado) quer voltar para o rancho”, o ouvinte não tem dificuldade para entender que o avô do falante deseja voltar a morar no rancho, pois a preposição para garante à frase a ideia de maior permanência no local citado. Ao MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 2010 39
- 42. contrário, se o falante tivesse dito que “o avô quer voltar no rancho”, fatalmente, a menos que houvesse antes uma boa contextualização, o ouvinte entenderia que o avô deseja voltar ao rancho a passeio, para buscar alguma coisa etc., já que a preposição em (ou a fusão em+o = no) pressupõe uma menor permanência, logo não a moradia do sujeito em questão. Desfechos semelhantes observamos nas frases d e e. Dizer “ir pra FEBEM” não é o mesmo que dizer “ir na FEBEM”. O primeiro implica a permanência do sujeito no local citado, o segundo, a presença do sujeito no local por um tempo relativamente pequeno. Daí a influência dessas preposições na determinação da duração dos fatos. “Ir pra FEBEM” implica a moradia do sujeito no local e a sua caracterização como delinquente. Já “ir na FEBEM” o sujeito no papel de delinquente para colocá-lo no papel de visitante ou trabalhador: “Pedro vai trabalhar todos os dias na FEBEM”. Caminho inverso percorre o exemplo e. Quando alguém “leva as molecadas na creche”, certamente alguém as buscam de volta; caso contrário, levá-las-ia para a creche. Maior permanência, talvez o mesmo que colocá-las para doação. A preposição a e seu efetivo uso na fala Em praticamente todos os exemplos acima (como em “ir pra FEBEM” e “ir na FEBEM”, por exemplo) as gramáticas tradicionais recomendariam o uso da preposição a no lugar de para ou em. Mas por que, então, essa até agora não foi a escolha dos falantes? Durante a investigação de nosso corpus, observamos que a preposição a está caindo em desuso entre os falantes, pelo menos no que concerne ao uso com verbos de movimento3 (ir ao campo de futebol), de transferência (entregar o livro ao professor) e de comunicação (contar uma história à criança). Veja o resultado com o uso das preposições na tabela: Tabela 1 3 Três das sete classes semântico-sintáticas de verbos que selecionam complementos introduzidos pelas preposições a e para apresentadas por Castilho (a sair em 2010). MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 201040
- 43. Informante a/ à/ ao (s) para/ em (na/o/s) 001 1,5% 98,5% 002 0% 100% 024 0% 100% 089 1,5% 98,5% 097 4,6% 95,4% 120 13% 87% Os falantes, em geral, preferem explorar o potencial distintivo das preposições em e para em detrimento da preposição a, e uma das justificativas para isso pode ser retirada daquilo que Cançado (2005) chama de leveza das preposições, isto é, para a autora, as preposições são itens lexicais “leves”, ou seja, podem ter vários sentidos, que só serão estabelecidos a partir da composição com seu complemento e, às vezes, até mesmo em composição com o verbo, segundo ela ainda, algumas preposições são mais predispostas a essa leveza que acarreta ambiguidade. De acordo com o que observamos até o momento, a preposição a é uma dessas propensas à leveza e à ambiguidade, haja vista a frase “ir à FEBEM”: “Paulo já foi à FEBEM”. Visitar ou cumprir pena? Logo, o falante opta por preposições que evitem esse tipo de ambiguidade: “Paulo já foi na FEBEM”. “Paulo já foi para a FEBEM”. Outra explicação pode advir da semelhança e sujeição à confusão dessa preposição a com o artigo definido feminino a. a) vou falar agora o que pa minha mulher b) vai dar um aumento pra você c) dedico muito no serviço d) entregar pra ele e) a entrega das chaves pros proprietários (entrega: verbo substantivado) f) se eu peço po meu pai ele fala que eu sou folgado g) pra onde você foi h) fomos também no museu i) falei pra ele j) eu vou em muita festa MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 2010 41
- 44. Como indicam os exemplos acima, há a preferência dos falantes por evitar a preposição a, substituindo-a por preposições correspondentes. Por outro lado, podemos evidenciar a forte tendência à redução fonética e à aglutinação da preposição para com os artigos definidos ou indefinidos, variando em pra, pa (para+a), pro, po (para+o) ou ainda pr’um (para+um), consequência do desejo dos falantes em tornar a comunicação mais ágil e dinâmica. Tabela 2 Informante para+ artigo pra/ pro pr’um po/ pa 001 0 % 84% 0% 16% 002 0% 100% 0% 0% 024 3,1% 46% 1,5% 49% 089 0% 100% 0% 0% 097 0% 91,5% 0% 8,5% 120 0% 90% 2% 7,7% O uso da preposição a ficou restrito a construções, expressões cristalizadas e, na grande maioria, não se tratava de regência verbal, tais como: k) vai reto em direção ao pátio l) ao mesmo tempo que é divertido, é constrangedor m) com relação ao meu pai n) às vezes... ao leite o) próximo ao local p) me revista dos pé à cabeça né? q) à vontade... né? Entre as poucas construções verbais encontradas, temos esta: (...) leva ao forno. De acordo com as tendências vistas nos inquéritos pesquisados, esta frase foge aos moldes mais utilizados e poderia ser encontrado das seguintes formas: (...) “leva no forno” ou (...) “leva pro forno”. O que pode explicar esta fuga de tendência é o fato de essa ser também uma expressão consagrada pelos livros de receita, consequentemente pelos cozinheiros, como MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 201042
- 45. acontece nessa dada situação. Afinal, dificilmente encontraríamos nos inquéritos pesquisados, como podemos constatar, frases correspondentes como “vou levar meu filho ao zoológico”, mas sim “no zoológico”, e dificilmente encontraríamos também “pro zoológico”, já que possivelmente a criança não moraria lá, a menos que fosse em situações como: “ Pare de macaquices menino! Quer que eu te leve pro zoológico?”. É interessante observar também que a expressão “vou levar meu filho ao zoológico” parece assemelhar-se mais semanticamente a “pro zoológico” que a “no zoológico”, logo evitada pelos falantes. Agora, vejamos o uso das preposições a e em nas frases a seguir: r)ele conseguiu levar até aos dezenove anos. s) de lá até no nosso bairro. t) (...) que marcou na minha vida. Nesses casos, essas falas fogem um pouco da tendência, uma vez que o mais comum nesses casos seria ouvir alguém dizer “de lá até nosso bairro” em vez de “de lá até no nosso bairro”. É interessante observar que a maior porcentagem de uso da preposição a encontrada nesta pesquisa foi produzida por essa mesma informante (das frases acima citadas) seja com construções verbais ou não e essa era a única, entre os pesquisados aqui, que tinha curso superior. Aliás, a própria transcritora dos inquéritos, formanda em curso superior, ao explicar o barulho que vinha ao fundo durante a gravação, também foi a responsável por uma construção que também é pouco comum: “cachorro latindo ao fundo”, ao invés de “no fundo”, segundo a tendência. Tais fatos, ainda que não suficientes pela quantidade de inquéritos pesquisados, induzem-nos a crer que a formação do falante aproxima-o da linguagem típica das gramáticas tradicionais, mesmo em momentos de fala descontraída, em que, supostamente, não havia a necessidade de seguir o rigor dessas. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 2010 43
- 46. Vale ressaltar que, em nenhum momento, foi levada em consideração a idade dos informantes, mas exclusivamente o seu grau de instrução – escolaridade. Veja a tabela com a incidência do uso das preposições: Tabela 3 Informante a/ à/ ao (s) para/ em (na/o/s) Até o 1º Ciclo Ens. Fund. 001 1,5% 98,5% 002 0% 100% 089 1,5% 98,5% 2º Ciclo Ens. Fund. em diante 024 0% 100% 097 4,6% 95,4% 120 13% 87% Algumas escolhas preposicionais Considere as frases a seguir: a) jogar a bola pra pessoa que tá do outro lado. b) pega o giz da professora e fica tacando nos outros alunos. Nessas duas frases, o uso das referidas preposições (no caso pra e nos) é imprescindível para a obtenção do sentido desejado. Na primeira frase, a bola é jogada para que alguém a pegue; na segunda, o giz é jogado para que atinja o corpo de alguém. Trocando as preposições, teríamos sentidos exatamente contrários nessas frases: “jogar a bola na pessoa que tá do outro lado” (atingi-la com a bola); “pega o giz da professora e fica tacando para os outros alunos” (para que os outros alunos peguem o giz). c) eu bordo pra várias firmas d) eu não só bordo pra uma firma eu bordo pra várias firmas. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 201044
- 47. Aqui, novamente encontramos uma situação em que a preposição não poderia ser trocada por outra sem grandes alterações na frase. A partir da escolha preposicional da narradora, sabemos que ela não trabalha dentro das firmas para as quais borda, caso contrário teria dito que “borda em várias firmas”. Assim, em garantiria, nesse caso, o valor de dentro, enquanto para aproxima--se do valor de em direção, em benefício. O que se pretende com os dois exemplos utilizados acima é explicar construções de valor semântico bem mais sutil e que, mesmo assim, são facilmente produzidas e compreendidas pelos falantes do português brasileiro: e) a atenção vai para o aluno que tá tacando o papel. Nesse caso, a preposição para desempenha a função da expressão em direção e por isso foi preferida em detrimento da preposição em, a qual seria impossível utilizá-la nesse contexto. Nessa frase, “ir para o aluno” tem também o sentido de ser dada ao/ para o aluno. Retomando alguns casos A partir do que foi constatado até o momento, vamos observar outros casos e verificar se o que foi apresentado (como proposta) até aqui se encaixa e se aplica em outras situações: a) eles vão pra lá. b) eu vou lá. Teoricamente, pra aumenta o período de permanência do sujeito no local citado. O que dizia o restante do inquérito? Analisando a íntegra dos inquéritos (disponível na página do projeto Iboruna, citada nas referências), podemos ver que na frase a o informante faz referência ao Natal e às festas juninas, festividades nas quais alguns parentes vão até a casa da avó passar um determinado período de tempo, ou seja, por alguns dias se “hospedavam” por lá, em um espaço de tempo relativamente grande. Já em relação à segunda frase, o informante faz referência MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 2010 45
- 48. à sua ida até a sorveteria, porém permanece no local por um espaço de tempo bem menor, logo ausência da preposição para. c)não tem como ir pa quadra nem pa diretoria. Segundo o que constatamos, para também pode ser usada para privilegiar o ato de deslocamento em detrimento do local em si, fato esse que se confirma com o restante do inquérito (no qual encontra-se a ocorrência acima citada), em que o informante dizia que o livre acesso à quadra e à diretoria havia sido impedido por um muro, ou seja, o deslocamento havia sido impedido, marcado pela preposição para. Considerações finais A partir da análise dos inquéritos podemos concluir que, embora não seguindo as prescrições gramaticais tradicionais, os falantes menos instruídos do português brasileiro (referimo-nos aqui aos falantes de São José do Rio Preto) são suficientemente capazes de perceber as várias nuanças de sua língua, mesmo em assuntos, aparentemente, pouco compreendidos por eles, como o caso do uso preposicional. Os casos de variação preposicional encontrados, na sua maioria, não se tratavam realmente de variações, mas de especificações preposicionais, as quais proporcionam à língua um alto potencial distintivo, em especial entre as preposições em e para. Quanto à preposição a, constatamos a tendência em trocá-la por um correspondente no contexto verbal, fato esse que talvez deva ser atribuído à sua semelhança e sujeição à confusão com o artigo definido feminino e também por sua “leveza” em relação ao sentido (Cançado, 2005), o que pode não satisfazer tão bem a comunicação quanto à potencialidade distintiva das preposições para e em. DOMINGUES, E. J. F., POLTRONIERI, M. H. R., SANTOS, A. A. M. Variation or specialization between prepositions a, for and in? The conscience of the potential distinctive of prepositions. Mosaico. São José do Rio Preto, v.9, n. 1, p. 37-47, 2010. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 201046
- 49. ABSTRACT: From investigations extracted from the project Iboruna that studies the speech of population from São Jose do Rio Preto and its region, we’ll try to show why it’s so difficult to follow the prepositional rules imposed by the grammar. We’ll see some cases where the speaker employes a preposition in place of another and we’ll wonder whether this exchange brings changes in the meaning of enunciation or whether concerns only a variation of language. KEYWORDS: Prepositions, variation, portuguese language, specialization Referências bibliográficas CANÇADO, Márcia. Manual de Semântica: Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. P.67-68. CASTILHO, A. Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, (a sair em 2010). FARIAS, J. G. de. Variação entre a, para e em no português brasileiro e no português europeu; algumas notas. Porto Alegre: Letras de Hoje, 2006. v. 41, nº 1, p. 213-234. MOLLICA, M. C. de M. A regência variável do verbo ir de movimento. In: SILVA, G. M. O. & SCHERRE, M. M. P. (org.) Padrões sociolingüísticos: análise de fenômenos variáveis do português falado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. p. 149-167. Os dados utilizados nesse trabalho encontram-se na seção “banco de dados - amostra censo (AC)”, no site do projeto IBORUNA, disponível em: <www.iboruna.ibilce.unesp.br. Acesso em 23 e 24/11/2009.> MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 37-47, 2010 47
- 51. O ALÇAMENTO DAS VOGAIS PRETÔNICAS O E E NO NOROESTE PAULISTA: QUE FATORES CONTRIBUEM PARA QUE TAIS VOGAIS SEJAM PRONUNCIADAS COMO U E I EM DETERMINADOS CONTEXTOS? POLTRONIERI, Mateus Henrique Ramos4 RESUMO: Esse trabalho tem por objetivo estudar o alçamento das vogais /o/ e /e/ em contextos lingüísticos do noroeste paulista, mais precisamente na cidade de São José do Rio Preto. Nesse fenômeno a vogal pretônica /o/ tende a ser pronunciada como /u/ como em c[o]mida ~ c[u]mida e a vogal pretônica /e/ como /i/ como em b[e]bia ~ b[i]bia. UNITERMOS: Alçamento; noroeste paulista; vogais pretônicas. Introdução Por que existem diversas maneiras de se pronunciar a mesma palavra em um país onde o português é a única língua oficial? Para essa pergunta é possível se obter várias respostas. O objetivo desse trabalho não é encontrar todas elas e sim debater questões fonéticas e fonológicas que envolvem a pronúncia das palavras. Mais precisamente discutiremos o fenômeno do alçamento das vogais pretônicas /o/ e /e/ em verbos e não-verbos. Essa discussão é importante para estudar os fenômenos lingüísticos envolvidos nesse processo, além de entender por que tal processo acaba sendo estigmatizado pelas classes dominantes de uma sociedade. Procuraremos entender por que algumas pessoas dizem m[i]nino ao invés de m[e]nino, explicitando alguns fatores lingüísticos que favorecem ou não o alçamento. Nessa mesma linha de raciocínio, tentaremos mostrar a razão pela qual muitas pessoas escrevem e pronunciam determinadas palavras nas quais ocorre a troca do /e/ pelo /i/ e do /o/ pelo /u/, mostrando porquê tal erro também pode contribuir para a deficiência do aprendizado do aluno em língua portuguesa. 4 Graduando em Letras pela Universidade Estadual Paulista – UNESP- campus São José do Rio Preto. Artigo apresentado à disciplina Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa, sob orientação da profª Drª Luciani Ester Tenani, do Depto. de Estudos Lingüísticos e Literários. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 2010 49
- 52. Reflexões iniciais O alçamento da vogal pretônica é um fenômeno mais comum do que parece. Não é difícil encontramos pessoas dizendo t[u]mate, c[u]mida ou ainda [i]scola e m[i]nino. Claro que fatores como a região onde tais falantes se encontram, a situação financeira da família e a variação dialetal ajudam a explicar esse processo. Entretanto, há também justificativas de cunho fonético e fonológico que nos ajudam a entender porque esse processo ocorre com tanta freqüência. O alçamento da vogal pretônica, que vulgarmente podemos definir como “troca” de uma vogal (e, o) por outra (i, u), pode ser explicada por dois fatores: um deles consiste na redução vocálica, ou seja, numa espécie de redução da diferença articulatória que ocorre entre a vogal alçada e a consoante adjacente (Silveira &Tenani, 2008). Outro fator, talvez mais comum, é a harmonização vocálica, que nada mais é que a assimilação do traço de altura presente nas vogais altas /i/ e /u/, ou seja, estando essas vogais presentes nas sílabas seguintes à sílaba tônica, o alçamento das vogais média-altas /e/ e /o/ é favorecido. O presente trabalho tem como corpus amostras extraídas do banco de dados do projeto IBORUNA, vinculado ao IBILCE, campus da UNESP de São José do Rio Preto. Utilizaremos para análise apenas uma parte do corpus intitulado NR – narrativa recontada. A informante entrevistada tem 14 anos, está cursando o ensino fundamental, mora na cidade de São José do Rio Preto e faz parte de uma família cuja renda total não ultrapassa a faixa de 5 salários mínimos. Análise do corpus Antes de analisarmos algumas das palavras onde há possibilidade de ocorrer o alçamento, vamos esclarecer alguns pontos dessa análise. O roteiro desse trabalho, por assim dizer, inclui o estudo das consoantes precedentes e das consoantes seguintes em relação à vogal pretônica e a estrutura silábica das palavras, pontos que julgamos mais importantes. Para facilitar nosso trabalho, classificaremos as consoantes quanto ao seu ponto de articulação. Tal classificação se faz necessária por que o fenômeno do alçamento das vogais pretônicas, em parte, também MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 201050
- 53. pode acontecer por influência das características dessas consoantes: bilabial (b, m, p), labiodental (f, v), alveolar (d, l, n, r, s, t, z) e velar (k, x). Tal classificação será de extrema importância para a análise de todo o trabalho. Nas amostras estudadas encontramos aproximadamente 381 palavras onde /e/ e /o/ ocorrem como vogais pretônicas, sendo que em 107 desses casos ocorre o alçamento, ou seja, em aproximadamente 28% do total de palavras onde /e/ e /o/ aparecem como pretônicas. No decorrer deste trabalho vamos mostrar alguns processos onde ocorre o alçamento, bem como alguns fatores que favorecem ou inibem a sua ocorrência. Alçamento: consoante seguinte Abaixo tabela com os resultados obtidos ao analisarmos as ocorrências de alçamento em relação às consoantes seguintes à vogal pretônica. Tabela 1: Ponto de articulação da consoante nº de alçamentos porcentagem de alçamentos – dentre o total de alçamentos encontrados Bilabial 17 15,8% Alveolar 67 62,6% Velar 0 0% Labiodental 1 0,09% Tepe 14 13 % Analisando os resultados obtidos observamos que as alveolares seguintes às vogais pretônicas favorecem o alçamento: em um contexto no qual ocorreram 110 alçamentos, 67 foram influenciados por uma consoante alveolar, como em [i]scola, m[i]nino (16% das ocorrências dentre as alveolares seguintes), [i]ntão e b[u] nito. Chamamos atenção em relação à consoante alveolar nasal /n/, por se tratar da consoante seguinte, dentre todas as estudadas, que mais favorece o alçamento. Segundo constatações de Silveira & Tenani (2008), as alveolares nesse contexto fonológico, favorecem o alçamento. Em contexto no MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 2010 51
- 54. qual uma bilabial se encontra na sílaba seguinte também há o favorecimento do alçamento, como em c[u]migo. Já as velares, nesse cenário, ajudam a inibir o alçamento, uma vez que não foram encontradas ocorrências desse fenômeno no corpus estudado. Com relação ao ‘r’ retroflexo, percebemos que somente na palavra porque (pronunciada p[u]rque) ocorre o fenômeno do alçamento. Nas demais palavras, nas quais o “r” retroflexo encontra-se em contexto seguinte, não constatamos o alçamento. Sendo assim, nas amostras que utilizamos para essa pesquisa, o “r” retroflexo não é determinante para a ocorrência do alçamento. Entretanto, tal constatação não se aplica em outros contextos maiores. Seria necessária uma pesquisa mais detalhada sobre o assunto. Alçamento: consoante precedente Para discorrer sobre a possibilidade de alçamento em contexto de consoante precedente à pretônica, apresentamos outra tabela para análise. Tabela 2: Ponto de articulação da consoante nº de alçamentos porcentagem de alçamentos – dentre o total de alçamentos encontrados Bilabial 37 34,5% Alveolar 13 12,1% Velar 0 0% Labiodental 6 0,5% Tepe 2 0,01% Em contextos nos quais a vogal pretônica ocorre logo início – primeira sílaba - da palavra tivemos um alto índice de alçamento: do total de alçamentos encontrados – 107 – em quarenta e seis a ocorrência se deu no início do vocábulo, ou seja, em aproximadamente 43% dos casos. Dentre elas temos [i]scola, [i]mbora, [i]ncantada, [i]ncontrado e [i]ntão. Notamos que apenas a vogal média-alta anterior /e/ sofreu o alçamento em início de palavra, o que não ocorreu com a posterior /o/. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 201052
- 55. Outra constatação foi em relação ao traço de labialidade presente nas bilabiais – Silveira e Tenani (2008) – que seria um dos responsáveis pela realização do /u/, ao invés do /o/. Em 70% dos casos onde uma bilabial precede uma pretônica ocorre o alçamento: m[i]nina, b[u]nita, e m[i]nino. Outra vez chamamos atenção para a palavra p[u]rque, que se inicia com consoante bilabial e é responsável por parte dos alçamentos encontrados neste contexto. Entretanto há casos nos quais não ocorre o alçamento nesse contexto de consoante precedente, como em palavras como em p[e]rguntou e p[e]gou. Em algumas outras palavras, nas quais a pretônica vem precedida de alveolar, não ocorreu o alçamento, como em s[o]lteiro e d[e](i)xô(u), por não estar em um ambiente fonológico de harmonização vocálica. Já as velares e o tepe, nas amostras que utilizamos, apresentaram poucas ocorrências de alçamento, ou seja, percebemos que as consoantes, que exercem papel de consoante precedente de uma vogal pretônica em uma determinada palavra, não favorecem o alçamento de tal pretônica. Outros fatores responsáveis pelo alçamento Observamos que as vogais tônicas presentes na sílaba posterior à pretônica também contribuíram para o alçamento das átonas em algumas palavras, podendo exercer, dessa forma, alguma influência sobre elas. Como exemplo de tal observação, podemos citar a vogal alta /i/, em casos como m[i]nina, c[u]migo e b[u]nita. Com relação à estrutura silábica, encontramos alguns casos que apresentam a sequência silábica consoante-vogal- consoante (CVC) - nos quais a pretônica fica “ilhada” entre as consoantes - que dificultam o processo de alçamento, como na palavra conta(r). Porém isso não é uma regra, pois em muitas palavras, com essa mesma estrutura, ocorre o alçamento, como em p[u]rque, por exemplo. Conclusões Com base na pesquisa aqui apresentada sobre o fenômeno do alçamento ocorrido na região noroeste paulista, mais MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 2010 53
- 56. precisamente na cidade de São José do Rio Preto, podemos levantar alguns aspectos interessantes: o alçamento é um fenômeno contínuo da língua portuguesa e tende a continuar ocorrendo, possivelmente em todas as camadas da sociedade, principalmente nas mais baixas, cujos integrantes têm pouca instrução. Talvez por isso, o alçamento venha a ser mais um dos objetos do preconceito lingüístico existente em nossa sociedade, mas seria necessária uma pesquisa mais profunda e que envolvesse questões sócio-históricas para se constatar com segurança tal afirmação. Vimos, também, que em muitos contextos o alçamento é favorecido, como nos casos em que a consoante alveolar está em contexto seguinte à da vogal pretônica e nos casos em que a consoante bilabial a precedente, já que nesses dois casos, especificamente, o fenômeno do alçamento da pretônica ocorreu com bastante freqüência. Já outros contextos desfavorecem o alçamento, como nos casos das consoantes velares que inibem tal fenômeno, estando elas em contexto precedente ou em seguinte em relação à pretônica. Com base nestas conclusões, e com a ajuda de uma literatura especializada no assunto, poderíamos, ainda, relacionar o fenômeno do alçamento das vogais pretônicas como uma possível causa da dificuldade de aprendizagem da ortografia por parte de alguns alunos, que no início do seu processo de ensino- aprendizagem associam a idéia de que a fala está literalmente para a escrita, e acabam tendo muitas dificuldades na escrita da língua. Repito que se trata de uma hipótese formulada com base no resultado da pesquisa que foi apresentada e que seria necessário um estudo mais profundo e direcionado para que tal possibilidade tivesse uma argumentação mais estruturada. É claro que o fenômeno do alçamento da vogal pretônica não se resume somente a esses pontos abordados. Aqui temos apenas uma pequena amostra de um estudo sobre alçamento, mas que já nos norteia para outras discussões e debates futuros sobre o assunto, e nos faz compreender que a discussão que envolve as questões particulares da língua portuguesa, como o alçamento, ainda será tema de muitas pesquisas e debates. POLTRONIERI, M. H. R. The raising of pretonic vowels /o/ and /e/ in the northwest of the state of Sao Paulo: which factors MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 201054
- 57. contribute to such vowels are pronounced as /u/ and /i/ in certain contexts ? Mosaico, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 2010. ABSTRACT: This work aims to study the raising process of the vowels /o/ and /e/ in linguistics contexts of northwest of Sao Paulo state, more precisely in the city of Sao Jose do Rio Preto. In this phenomenon, the pretonic vowel /o/ tend to be pronounced as /u/ as in c [o]omida ~ c[u]mida and the pretonic vowel /e/ as /i/ as in b[e]bia ~ b[i]bia. KEYWORDS: raising process; northwest region; pretonic vowels. Referências Bibliográficas SILVEIRA, A. A. M. da., TENANI, L. E. Elevação vocálica no dialeto do interior paulista: contribuições para os estudos de variação fonológica do Português do Brasil. Alfa: Revista de Lingüística (UNESP. São José do Rio Preto. Impresso), v. 52, p. 447-464, 2008. Os dados utilizados nesse trabalho encontram-se na seção “banco de dados - amostra censo (AC)” no site do projeto IBORUNA, disponível em: <www.iboruna.ibilce.unesp.br. Acesso em 2008.> ANEXO Amostra do corpus utilizado NR - I Doc.: você se lembra assim de alguma coisa que tua mãe contô(u) pra você assim alguma histó::ria?... ou que seu pa::i? Inf.: olha meu pai ele conta assim:: bastante coisa assim:: ele é mu::ito bom pra isso... eu pergunto várias coisas pra e::le uma vez... eu tenho um problema de cólica também cólica eu num/ eu tenho mal absorção à lactose... e às vezes ele:: tinha que::/ ainda num sabia que era isso né? e eu tinha có::lica gases e... de noite MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 2010 55
- 58. ele tinha que saí(r) pra dá(r) uma vo::lta comigo... porque eu passava mal... pra me disTRAÍ(r) pra vê(r) se melho::ra... [Doc.: ah] aí eu ficava perguntan(d)o pra e::le é::... negócio de De::us de religiã::o como é que Deus surgi::u... o quê que é Deus... ficava perguntan(d)o diversas co::isas Doc.: o que que ele te contô(u)? Inf.: ah:: ele falava que::... agora eu num sei se eu vô(u) me lembrá(r)... tem pessoas que num acreditam tem pessoas que acreditam em Deus aí ele me perguntô(u) se eu acredito... eu FALEI que eu acredito SIM... porque:: às vezes eu passo/ peço alguma ajuda pra ele... peço ajuda e::... ajuda né?... e eu consigo... eu acredito um po(u)co... eu acredito sim... aí ele falô(u) que::... é bom acreditá(r) que ele aju::da Doc.: ah:: tá... você lembra de alguma história que ele contô(u) de alguém pra você::? ou assim alguma coisa que aconteceu com alguém:: que ele te contô::(u) que cê num viu mas que ele te contô(u)? Inf.: olha quando eu num tinha nascido ainda eles sofreram um acidente... ELE meu pai e meu irmão... eu num entendi muito bem a hisTÓria mas parece que foi numa aveni::da... ele tava certo e o cara tava meio bêbado... e:: aqui tinha uma grade do lado ((faz gestos com a mão pra explicá(r))) tinha uma grade e:: éh pra lá era MAto aí descia era rio... uma AVENIda ali... perto do Super Giro aquela avenida lá... [Doc.: ham] e:: o/ o:: rapaz vinha vin(d)o na direção dele... vinha vin(d)o pra cá... e tinha uma carro aqui atrás ((explica fazendo gestos com a mão))... então ele só tinha que jogá(r) pra lá... aí ele desviô(u) pra cá e bateu na sarjeta o carro capotô(u)... meu irmão caiu pra fora do ca::rro... ele::... parece que ele... voô(u) pra frente... sei lá... alguma coisa assim (...). MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 49-56, 201056
- 59. MATERIALIDADE DISCURSIVA: A VOZ DO REPRESENTANTE ESTUDANTIL EM FOCO Adelaide Maria Nunes CAMILO Camila Sthéfanie COLOMBO Carollina FERNANDES Jaqueline Padovani da SILVA Michele Cristina Barquete UEDA1 RESUMO: Este artigo objetiva analisar a voz de representantes estudantis, estabelecendo pontos de convergência ou de diferenciação entre os discursos de universitários de instituições públicas ou particulares. O respaldo teórico em que esta pesquisa se pauta volta-se a uma bibliografia centrada na Análise de Discurso e na história dos Movimentos Estudantis. A metodologia empregada consiste no método de abordagem empírico- indutiva. UNITERMOS: Universidades públicas; faculdades privadas; discurso de representantes estudantis; diretório acadêmico. Introdução Apresentação A Análise de Discurso (AD), iniciada na década de 1960, constitui-se como campo de saber que, dentre suas demais preocupações, considera que a linguagem não é transparente, mas envolta por uma opacidade de sentido, haja vista o fato de existirem inúmeras formas de significação. É imprescindível ressaltar que o estudo proposto pela AD tem por objeto o discurso, tomado como “palavra em movimento, prática de linguagem”. Procura-se compreender “a língua fazendo sentido”, tendo como principal abordagem o fato de ela não ser trabalhada como um sistema abstrato, mas como um processo que envolve a fluidez da palavra (ORLANDI, 2001, p. 15-16). 1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil, Prof. Dr. José Horta Nunes MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 57-72, 2010 57
- 60. De acordo com Orlandi (2006, p. 13), “a Análise de Discurso tem seu método e seu objeto próprios que tocam os bordos da Linguística, da Psicanálise, do Marxismo, mas que não se confundem com eles”. De tal modo, pode-se afirmar que a AD compõe-se como uma disciplina de entremeio, fazendo-se “na contradição dos três campos de saber [...], interrogando a Linguística que pensa a linguagem, mas exclui o que é histórico- social e interrogando as Ciências Sociais na medida em que essas não consideram a linguagem em sua materialidade” (ORLANDI, 2006, p. 14). É imprescindível estabelecer que, neste trabalho, pretende- se apontar os índices e as marcas linguísticas presentes no discurso dos representantes estudantis, visto que a AD consiste em um paradigma indicial, seguindo e considerando as pistas contidas na prática de linguagem. Justificativa O ano de 2009 foi, no primeiro semestre, marcado por movimentações estudantis em torno de causas pontuais e sujeitas a questionamentos, como uma postura contrária à adesão ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – proposta de planificação decenal para a UNESP –, à implantação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) – projeto que, por meio de um regime semipresencial, visa à formação universitária de profissionais da educação que já atuam na rede de ensino –, e à atual situação de privatização em que se encontra o Restaurante Universitário (RU) do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE/UNESP), já estatizado oficialmente. Em decorrência de tais circunstâncias, o presente trabalho procura analisar o discurso dos representantes estudantis, efetuando um estudo comparativo entre as reivindicações realizadas pelo Diretório Acadêmico (DA) de universidades públicas e de faculdades privadas. O foco desta pesquisa é lidar com a fala estudantil, tendo como recorte o discurso do porta-voz, que “se destaca do grupo originário como MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 57-72, 201058
- 61. seu legítimo representante” (ZOPPI-FONTANA, 1997, p. 73), uma vez que é instituído de poder político-social. Cabe ressaltar, brevemente, que a questão de análise desta pesquisa se volta aos interesses e aos ideais de estudantes de universidades públicas e particulares, o que configura o objeto deste estudo. Quanto ao recorte, já mencionado, evidencia-se a legitimação discursiva da figura enunciativa do representante estudantil, que ocupa posição integrante em diretórios acadêmicos e em demais entidades afins. Com menção à cena enunciativa em que este trabalho se pauta, deve-se enfatizar a sala ocupada pelo Diretório Acadêmico Filosofia (DAF), órgão representativo dos estudantes do IBILCE. Em se tratando desse ambiente, evidenciam-se escritos presentes nas paredes, no teto e nos itens que compõem o conjunto simbólico de tal espaço, constituindo suportes materiais significativos que denotam a posição ideológica dos universitários adeptos à atmosfera revolucionária defendida por esse órgão. Como exemplificação, mencionam-se cartazes, grafitagens (linguagem artística da cidade), assinaturas e pequenos textos escritos, apresentando não só um teor anticapitalista e uma preocupação frente às lutas e aos problemas sociais, mas também um discurso político e revolucionário. Com relação aos textos que caracterizam o pertencimento do aluno ao DAF, pode-se utilizar como exemplo o seguinte trecho: “Tento fazer desse lugar o meu lugar... pelo menos por enquanto... enquanto isso durar...”. Um dos cartazes que retrata as reivindicações e a luta política dos estudantes traz a mensagem a seguir: “Ensino presencial para todos!!! Isso sim é democratizar o ensino superior!!!”. Citando mais uma ocorrência presente no espaço do diretório tratado, tem- se um quadro que faz alusão ao ataque terrorista sofrido pelo World Trade Center (WTC), em 11 de setembro de 2001, havendo, abaixo da ilustração, a frase “Pode ser triste, mas não foi à toa”. No que concerne às condições de produção, pode-se salientar que a situação ampla (CP) é descrita como a conjuntura que envolve os primórdios da representação estudantil no cenário nacional. No Brasil, os movimentos dos estudantes têm uma longa história de lutas, a qual perpassa pela libertação dos escravos e MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 57-72, 2010 59
- 62. pela Proclamação da República, alcançando estruturação efetiva e oficial a partir de 1937, com a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE). É importante frisar que, com a Ditadura Militar instaurada em território brasileiro, os movimentos, embora tenham sofrido repressões constantes e violentas por parte do governo, mantiveram seus ideais contrários ao regime ditatorial, tendo permanecido ativos mediante a resistência ao golpe de Estado. Em decorrência da implantação do quinto Ato Institucional (AI-5), os grêmios e os centros estudantis desapareceram. Em 1985, no entanto, a UNE voltou à legalidade e, com isso, as associações representativas dos estudantes ressurgiram. Considera-se que uma das maiores conquistas alcançadas pelos movimentos em análise tenha sido a manifestação que os estudantes de todo o país organizaram a favor do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. No que tange à situação imediata (cp), procura-se focalizar os atuais diretórios acadêmicos de determinadas universidades, estando inclusas instituições tanto públicas quanto privadas. Para tanto, serão utilizados como parâmetros exemplificativos os órgãos de representação universitária do câmpus da UNESP de São José do Rio Preto e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Histórico A questão relativa ao discurso do representante estudantil de universidades tanto públicas quanto privadas não abrange um extenso acervo bibliográfico. Percebe-se que a maioria das pesquisas a respeito de tal temática refere-se à abordagem de um percurso histórico e de uma cronologia voltada aos movimentos revolucionários de estudantes, centrando-se, com principal relevo, em questões concernentes à criação da UNE (União Nacional dos Estudantes), ao período ditatorial brasileiro (1964-1985) e ao impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. É preciso observar, entretanto, que os estudos em questão são mais encontrados em páginas da internet relacionadas a alguma vertente de movimentos estudantis, não havendo uma quantidade expressiva de trabalhos propriamente acadêmicos acerca do tema MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 57-72, 201060
- 63. em pauta. As pesquisas de cunho científico que procuram focalizar a voz do representante universitário são escassas, principalmente no que tange ao discurso de diretórios acadêmicos, de modo mais específico. No que se refere à AD, particularmente, pode-se afirmar a escassez de uma bibliografia do tema em evidência. É necessário ressaltar, inclusive, que, para a realização desta pesquisa, fez-se uma busca por trabalhos da Análise de Discurso, não tendo sido encontradas obras que tratassem, de modo exclusivo, da questão de análise enfatizada e selecionada. Verifica-se, contudo, na área de Psicologia, a presença de uma literatura significativa sobre o discurso de líderes universitários. Uma das investigações acadêmicas publicadas sobre a voz de representantes estudantis assenta-se no livro Movimentos Juvenis na Contemporaneidade (2008), cujos organizadores são Luís Antonio Groppo, Otávio Luiz Machado e Michel Zaidan Filho. Na obra em destaque, há um capítulo destinado aos movimentos e às manifestações de estudantes, havendo uma preocupação em definir as necessidades e as formas de atuação de alunos integrantes daquilo que se designa “ME” (Movimento Estudantil, de forma amplo e generalizado). Cumpre salientar que a autora, Carla de Sant’Ana Brandão, atua no campo de Psicologia, cuja perspectiva teórica é relacionada à saúde mental, à adolescência, à juventude, aos movimentos estudantis e aos processos clínicos de base fenomenológico-existencial. Em seu estudo, Brandão (2008) visa a analisar o caráter das representações de estudantes e as maiores reivindicações realizadas por eles. A autora destaca os anseios de os líderes reverem a legitimidade e a representatividade do ME junto aos demais alunos, haja vista o fato de ser proeminente a ausência de credibilidade no movimento por parte dos estudantes que não integram os órgãos de representação. Em virtude de o presente trabalho estabelecer um recorte metodológico e analítico focado na fala do porta-voz estudantil de diretórios acadêmicos, é preciso notar a inexistência de obras precisamente pautadas na questão representativa de líderes integrantes de DA’s de instituições públicas ou privadas. MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 57-72, 2010 61
- 64. Perspectiva Teórica Pelo fato de a AD ter por objeto de estudo o discurso, cabe a definição do conceito de que se vale tal prática de linguagem. Em resumo, pode-se atribuir, etimologicamente, à palavra “discurso” a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento (ORLANDI, 2001, p. 15). Uma diferença significativa entre a AD e a Linguística consiste no fato de aquela não conceber a língua fechada nela mesma, mas, ao contrário, trabalhar com o objeto discursivo – considerado sócio-historicamente –, em que o linguístico intervém como pressuposto, uma vez que a língua é estudada por meio de sua relação com o discurso e com a ideologia. Para Orlandi (2001, p. 10), em decorrência de a linguagem ser considerada em sua opacidade, o discurso pode ser conceituado como “movimento dos sentidos, errância dos sujeitos, lugares provisórios de conjunção e dispersão, de unidade e de diversidade, de indistinção, de incerteza, de trajetos, de ancoragem e de vestígios”. É importante destacar que, segundo Orlandi (2001, p. 22), “O discurso não corresponde à noção de fala, pois não se trata de opô-lo à língua como sendo esta um sistema, em que tudo se mantém, [...], sendo o discurso, como a fala, apenas uma sua ocorrência casual, [...]. O discurso tem sua regularidade.” Outro aspecto significativo a ser salientado equivale à relação estabelecida entre discurso, sujeito e ideologia, porquanto não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia. A respeito de ideologia, pode-se defini-la como efeito de literalidade, ou seja, como ilusão de conteúdo, como construção da evidência de sentido, como, em suma, impressão de sentido-lá. Para Orlandi (2004, p. 22), “A ideologia se caracteriza, assim, pela fixação (estabelecimento) de um conteúdo, pela impressão do sentido literal (é ‘x’), pelo apagamento tanto da materialidade linguística quanto histórica. Fruto do trabalho da interpretação.” Para uma melhor compreensão deste trabalho e dos termos a serem utilizados em seu desenvolvimento, cabe a descrição de demais conceitos muito empregados pela Análise de Discurso, como “interdiscurso”, “intradiscurso”, “efeito de já-dito”, MOSAICO, São José do Rio Preto, v.9, n.1, p. 57-72, 201062