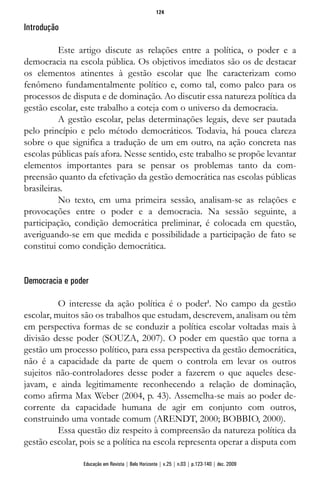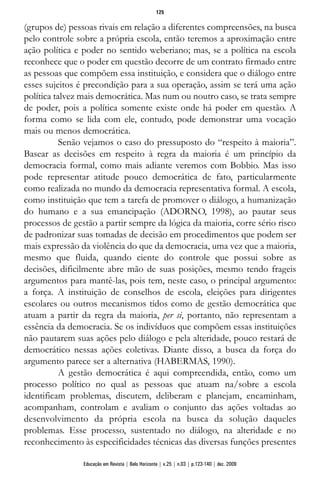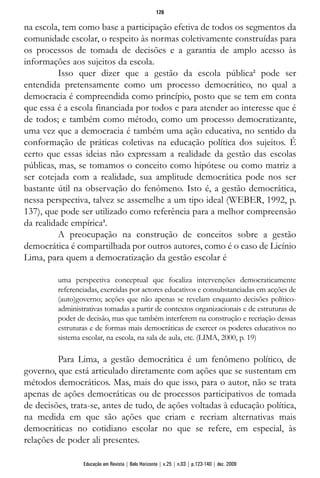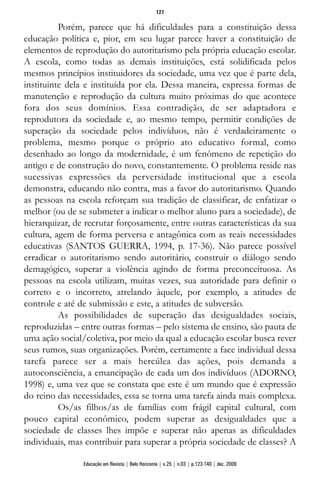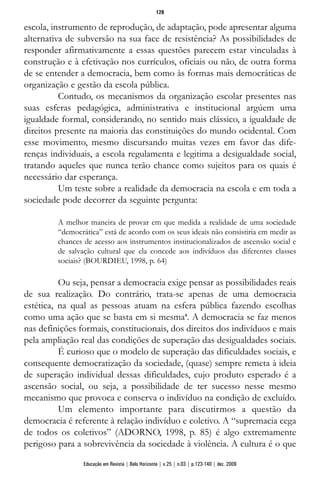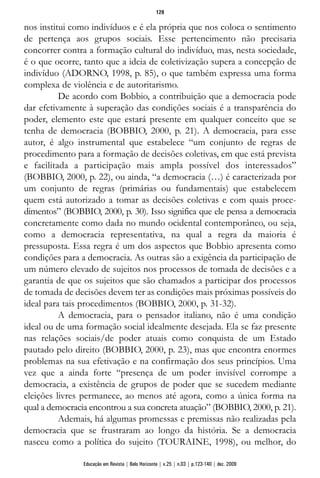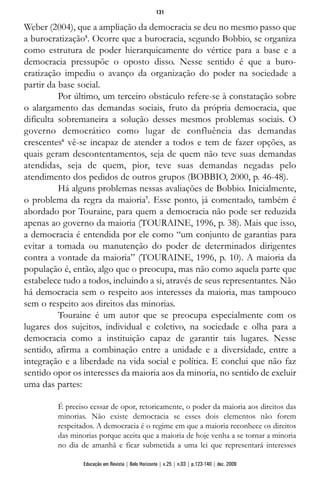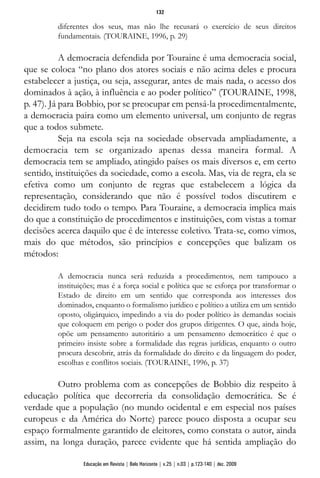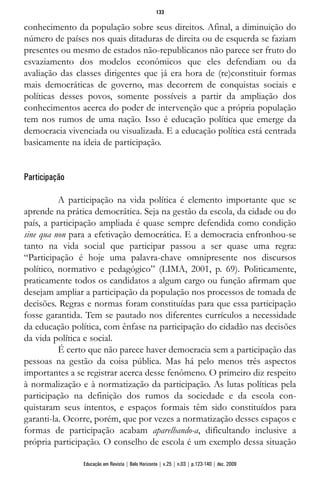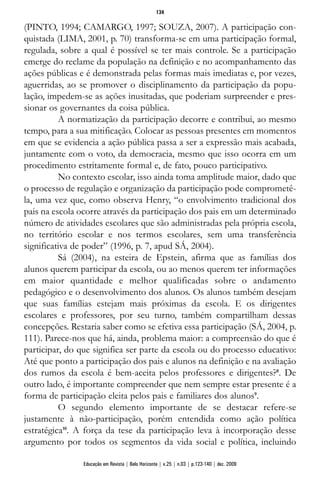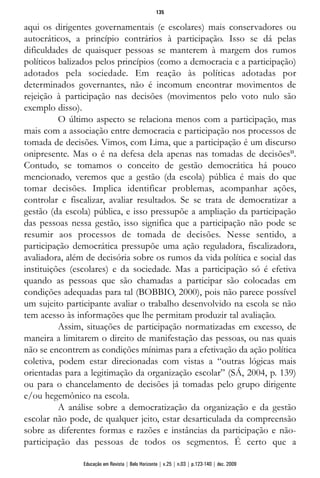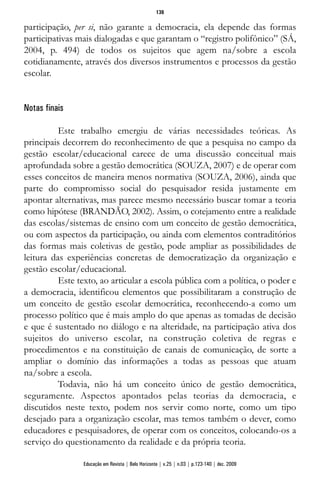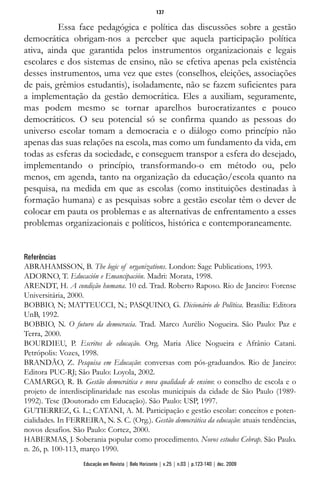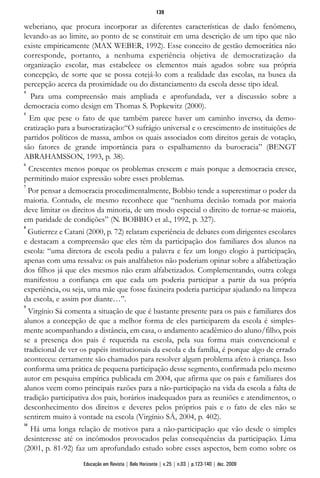O artigo analisa as relações entre política, poder e democracia na gestão escolar, propondo um conceito de gestão democrática que enfatiza o diálogo e a participação ativa da comunidade escolar na construção de regras e decisões. A gestão escolar é vista como um processo político que deve supor a coletividade e o respeito às diversas vozes, e não se restringir ao princípio da maioria. Discussões sobre a eficiência da democracia nas escolas revelam uma crítica à reprodução de práticas autoritárias dentro dessas instituições.