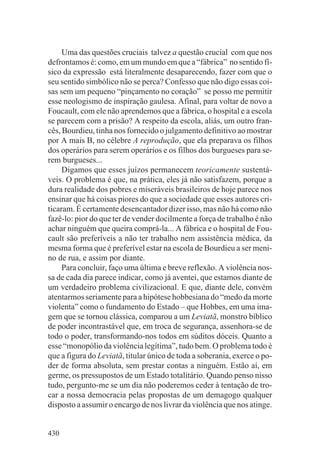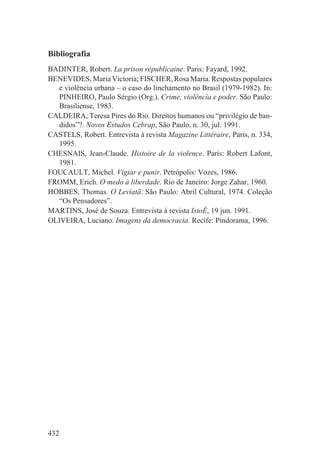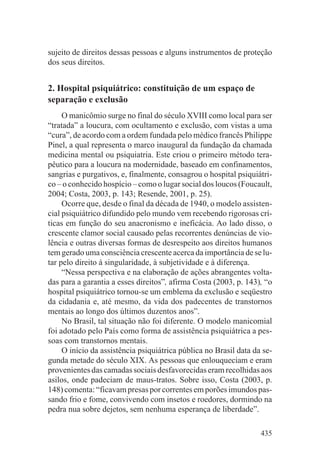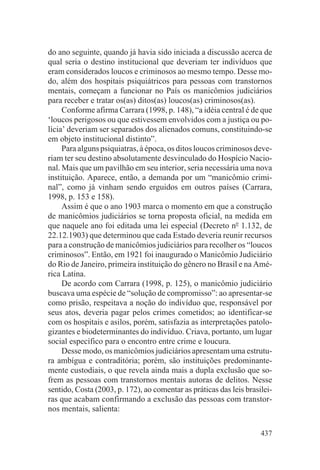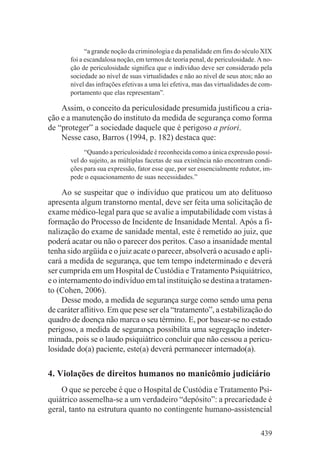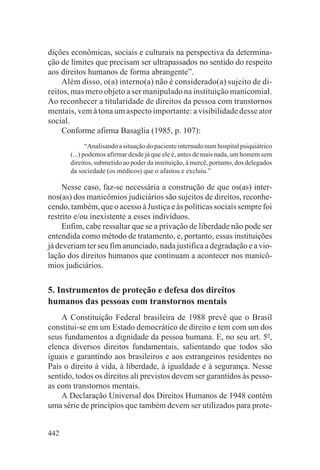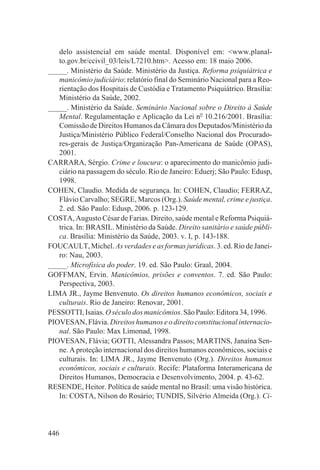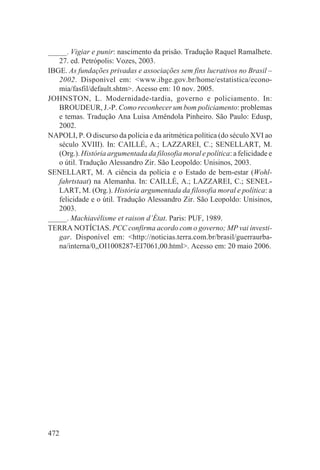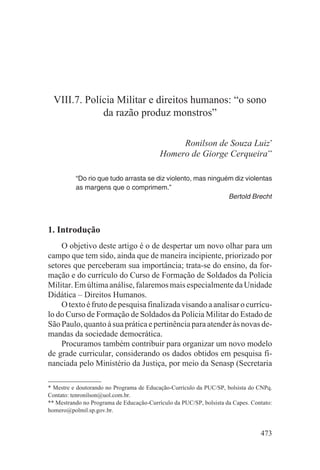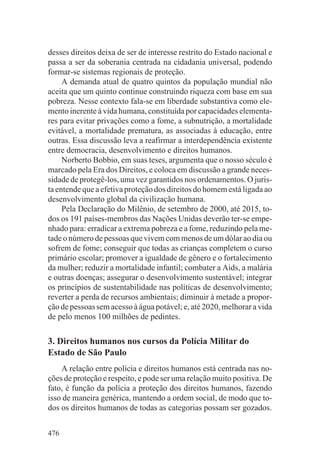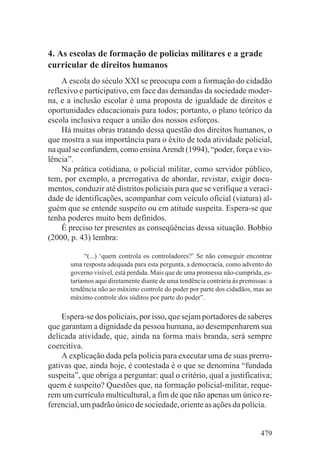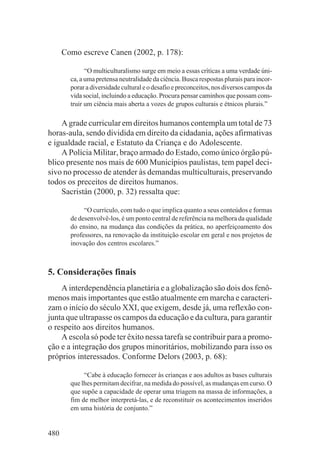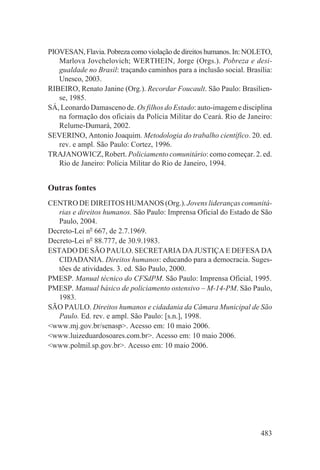Este documento apresenta uma coletânea de artigos sobre direitos humanos no século XXI com abordagens sobre conceitos, economia, educação, história, inclusão social e justiça. Os artigos discutem temas como teoria crítica dos direitos humanos, igualdade e diferença, desenvolvimento humano, dignidade da pessoa humana, direitos humanos e AIDS, indivisibilidade dos direitos, cosmopolitismo, financiamento de políticas de direitos humanos, educação para direitos humanos, internacionalização histórica dos direitos humanos, movimentos


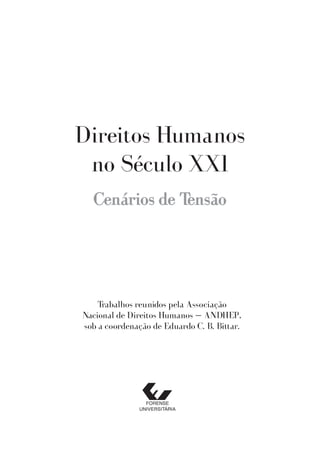

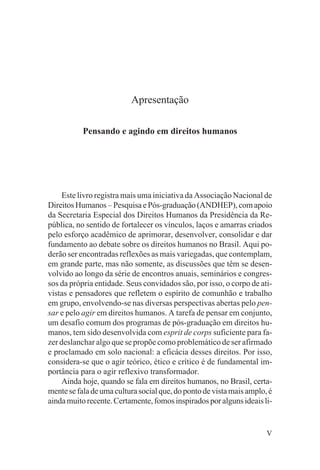





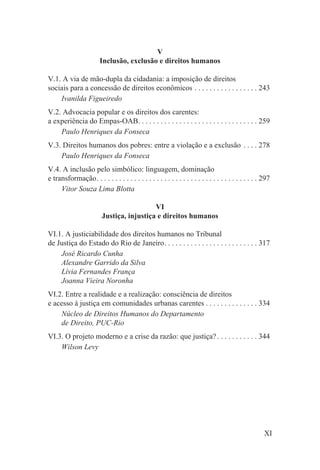

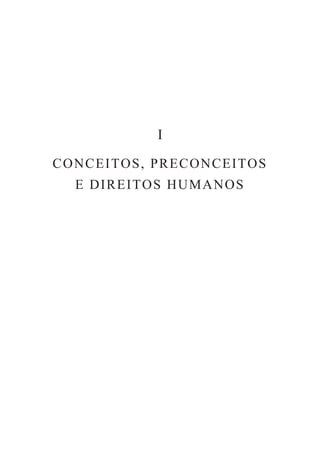

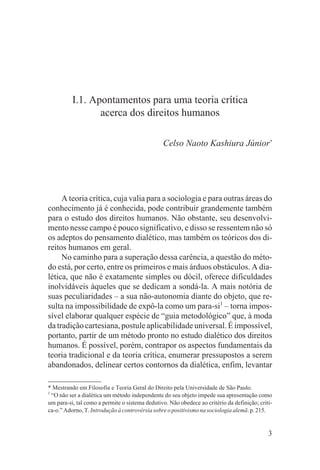







![rência das determinações do sujeito na atividade teórica, é precisa-
mente uma determinação do sujeito que prevalece: o objeto sucumbe
diante do arauto da razão subjetiva, o método. O alegado subjetivis-
mo com que os adeptos da teoria tradicional argumentam contra os
adeptos da dialética se revela, assim, um argumento tu quoque (que se
volta contra si mesmo).17
O conceito de primazia do método, que Adorno levanta contra os
positivistas, expressa bem essa inversão. A teoria tradicional preten-
de capturar o objeto “em si mesmo”, mas só é capaz de fazê-lo através
da mais rigorosa aplicação do método (experiência controlada, lógica
formal, sistematicidade etc.). O sujeito predetermina o método e o
impõe ao objeto, de modo que, em um certo sentido, o sujeito conhece
fazendo violência ao objeto. Não se obtêm do objeto a sua própria es-
trutura, o seu próprio peso, os seus próprios critérios de validade, mas
tão-somente aquilo que o método é capaz de arrancar-lhe. O real cap-
tado acaba sendo, pois, não o real “em si”, mas um real “inventado”.
Na dialética, a primazia é do objeto. O teórico crítico não se im-
põe, mas se curva diante do objeto, dando voz àquilo que é real e, não
obstante, por transgredir o ideal metodológico do sujeito neutro, es-
capa à teoria tradicional.18 Ele se põe na condição de sujeito cognos-
cente sem estar previamente munido de equipamentos e técnicas que
por si sós garantiriam o teor “científico” de sua análise; ele deixa o ob-
jeto ditar o caminho a ser percorrido pela teoria. O método de aborda-
gem de um objeto é determinado pelo próprio objeto:19 à teoria cum-
pre reproduzir a estrutura do objeto, com as deficiências e contradi-
ções a ela inerentes.
17
“O positivismo, para o qual contradições são anátemas, possui a sua mais profunda e incons-
ciente de si mesma [contradição], ao perseguir, intencionalmente, a mais extrema objetividade,
purificada de todas as projeções subjetivas, contudo apenas enredando-se sempre mais na parti-
cularidade de uma razão instrumental simplesmente subjetiva.” Adorno, T. Introdução à con-
trovérsia sobre o positivismo na sociologia alemã. p. 212.
18
“O que o cientificismo simplesmente apresenta como progresso sempre constitui-se também
em sacrifício. Através das malhas escapa o que no objeto não é conforme o ideal de um sujeito
que é para si ‘puro’, exteriorizado em relação à experiência viva própria; nesta medida, a
consciência em progresso era acompanhada pela sombra do falso.” Adorno, T. Introdução à
controvérsia sobre o positivismo na sociologia alemã. p. 224. Na mesma obra, à p. 242, em nota
de rodapé, Adorno cita um interessante exemplo: a arte como depósito do conhecimento
rejeitado pela teoria pautada pela primazia do método.
19
Eis a explicação da não-autonomia do método dialético diante do objeto.
11](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-23-320.jpg)






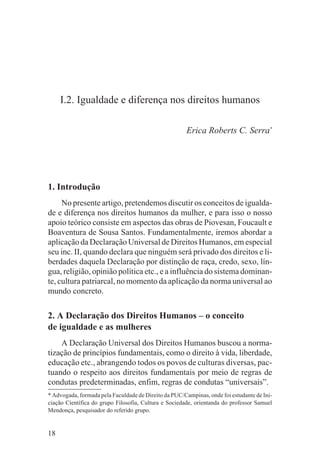





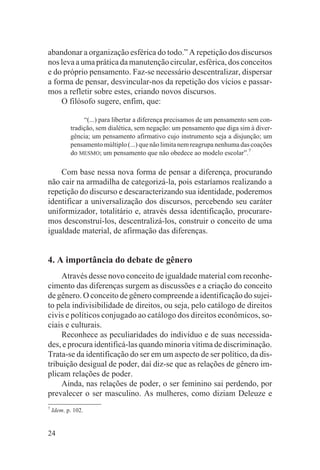

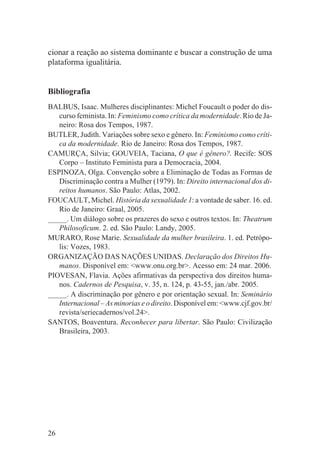






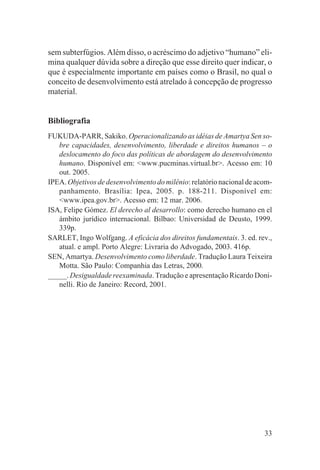







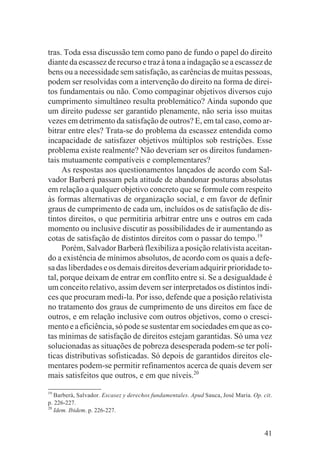





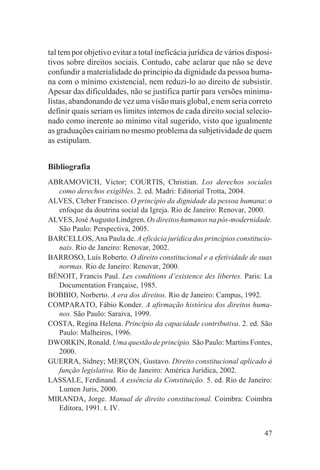





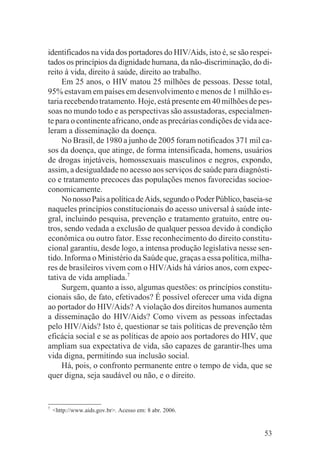
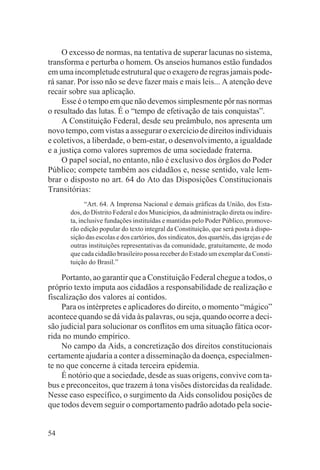






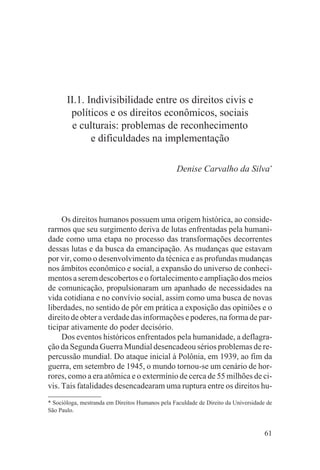








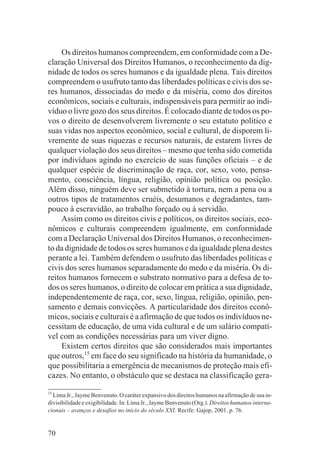



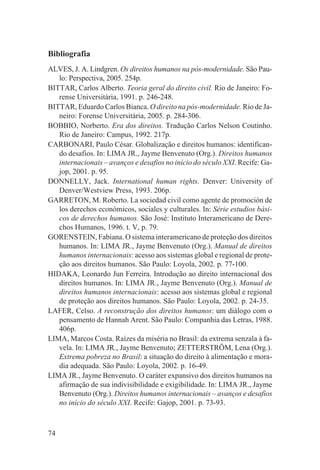
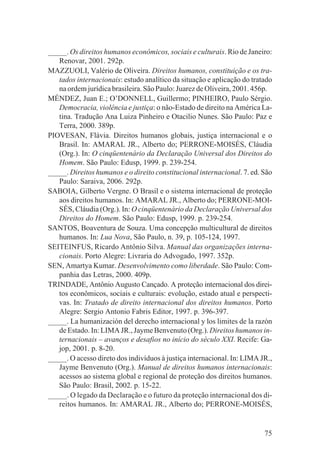

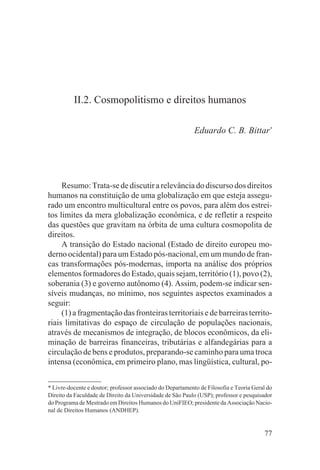




![suma, seria o projeto cosmopolita pós-nacional, apesar de inevitável,
possível?
Essa aproximação de culturas se fará na medida das abruptas di-
ferenças e intolerâncias, marcadamente fruto de uma política de inte-
resses econômicos na disputa globalizada por espaços geomercantis,
ou mesmo se fará na medida da compreensão e da aproximação tole-
rante, cumprindo-se uma expectativa de federalização cosmopolita
dos interesses globais comuns?11 Neste momento, a pergunta de Ha-
bermas é:
“Para as nações que levaram em 1914 o mundo a uma guerra tecnologi-
camente sem limites e para os povos que foram confrontados depois de 1939
com o crime em massa [Massenverbrechen] de uma luta de extermínio ideolo-
gicamente para além dos limites, o ano de 1945 marca um ponto de virada –
uma virada para o melhor, para a domesticação daquelas forças bárbaras que
irromperam na Alemanha do solo da civilização mesma. Será que de fato
aprendemos algo a partir das catástrofes da primeira metade do século?”12
A partir desse questionamento, pode-se começar a ensaiar uma li-
nha de respostas aos desafios trazidos neste tópico. Uma linha de saí-
da para a humanidade – truncada, de um lado, pela inevitabilidade da
interseção de mercados e culturas, e, de outro, pelo imperativo hobbe-
siano da beligerância que assalta a realidade internacional contempo-
rânea – repousaria na idéia habermasiana, também discutida por
Rawls (Law of peoples), da intensificação do diálogo internacional,
veio esse que se tornaria possível a partir do momento em que a sofis-
ticação do aparelhamento das relações internacionais se desse por or-
valores comunitários, um tipo de cosmopolitismo, de liberdade de associação para comunida-
des que permite a estas escolher, dentro de certos limites, ‘retirar-se’ parcialmente da cultura
dominante e desenvolver a sua própria cultura, procurar o reconhecimento da sua identidade e
objetivos coletivos” (Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multi-
cultural, 2003. p. 565-566).
11
Essa é a mesma preocupação externada também por Habermas, que vê na ascensão do merca-
do pós-nacional o único interesse de articulação real dos Estados entre si, pouco movidos pela
idéia de solidariedade, quando afirma: “E quão mais difícil que a unificação dos Estados euro-
peus em uma união política é a concordância quanto ao projeto de uma ordem econômica mun-
dial que não se esgote na criação e institucionalização jurídica de mercados, mas sim que intro-
duza elementos de uma vontade política mundial e que irá garantir uma domesticação das con-
seqüências sociais secundária do trânsito comercial globalizado” (Habermas. A constelação
pós-nacional: ensaios políticos, 2001. p. 71).
12
Habermas. Ibidem. p. 61.
82](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-94-320.jpg)


![cais, nacionais e transnacionais atuando em rede para garantir novas e mais
intensas formas de inclusão social”16
Nem tanto aos ocidentais, nem tanto aos orientais. Não se trata de
uma terceira via em políticas internacionais, mas de se perceber que
nenhum dos extremos na concepção da política permitirá a agregação
dos valores da comunidade internacional, e muito menos a integração
das concepções de direitos humanos. Trata-se também de se perceber
que a questão dos direitos humanos não é um legado ocidental a ser
imposto a povos orientais,17 e muito menos um legado do Norte a ser
imposto ao Sul.18 Com clareza é que se pode dizer que nem o extre-
mismo individualista europeu e americano, nem o extremismo funda-
mentalista muçulmano e asiático colaboram com uma visão de mun-
do que não dê origem a maiores desentendimentos étnicos, religiosos,
políticos, sociais e econômicos:19
16
Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural, 2003. p. 432.
17
Na leitura habermasiana: “No que se segue, assumirei o papel apologético de um participante
ocidental na discussão [Diskurs] intercultural sobre os direitos humanos e, nesse contexto, tratarei
da hipótese segundo a qual aquele modelo deve menos ao fundo cultural específico da civilização
ocidental do que à tentativa de se responder aos desafios específicos de uma modernidade social
entrementes globalmente propagada. Essas condições dadas da modernidade, sejam avaliadas de
modo que forem, constituem hoje um fato [Faktum] para nós que não nos deixa nenhuma escolha
e, por isso, não necessita (ou não somos capazes) de uma justificação retrospectiva. Na disputa
quanto à interpretação adequada dos direitos humanos, não se trata de se desejar a modern condi-
tion, mas sim de uma interpretação dos direitos humanos que seja justa com o mundo moderno
também do ponto de vista de outras culturas. A controvérsia gira sobretudo em torno do indivi-
dualismo e do caráter secular dos direitos humanos que se encontraram centrados no conceito de
autonomia” (Habermas. A constelação pós-nacional: ensaios políticos, 2001. p. 153).
18
“Imperialismo cultural e epistemicídio são parte da trajetória histórica da modernidade oci-
dental. Após séculos de trocas culturais desiguais, será justo tratar todas as culturas de forma
igual? Será necessário tornar impronunciável algumas aspirações da cultura ocidental para dar
espaço à pronunciabilidade de outras aspirações de outras culturas? Paradoxalmente – e contra-
riando o discurso hegemônico – é precisamente no campo dos direitos humanos que a cultura
ocidental tem de aprender com o Sul para que a falsa universalidade atribuída aos direitos huma-
nos no contexto imperial seja convertida em uma nova universalidade, construída a partir de
baixo, o cosmopolitismo” (Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo
multicultural, 2003. p. 452).
19
Com fartos exemplos (curdos, chechenos, minorias africanas...) se poderia ilustrar o quanto
isso tem se transformado em rotina na cultura contemporânea: “Nas nossas sociedades de
bem-estar social intensificam-se reações etnocêntricas da população local contra tudo o que é
estrangeiro – ódio e violência contra estrangeiros, contra adeptos de outros credos ou pessoas de
cor, mas também contra grupos marginais e contra os portadores de deficiências” (Habermas. A
constelação pós-nacional: ensaios políticos, 2001. p. 92).
85](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-97-320.jpg)


![nacionais aparelhadas e dispostas a uma reengenharia completa de
suas formas de distribuição de poder?26 Estariam os Estados sobera-
nos dispostos a abdicar de exclusividades e benefícios de que desfru-
tam em sua condição de clausura internacional?
Necessariamente, as soluções demandam mais que esforços de
integração econômica, como vem ocorrendo com os blocos geoeco-
nômicos, tratando-se da necessidade de implementação de políticas
de integração que favoreçam a inclusão.27 Trata-se da criação de uma
concepção de democracia cosmopolita,28 a projetar-se como aliança
forte em temas da agenda mundial, por mecanismos de sentido pacífi-
co a implementar políticas favoráveis à coexistência e ao desenvolvi-
mento global harmônico.
De qualquer forma, o que se deve procurar evitar, por meio de
procedimentos teóricos obtusos, é a extensão da idéia de direitos hu-
manos como simples baluarte de sustentação de um ocidentalismo
neocolonialista, patrocinado por ONGs, setores organizados, empre-
sários, agentes humanitários, organizações internacionais, a ser
trário, ampliar ao máximo a consciência de incompletude mútua por intermédio de um diálogo
que se desenrola, por assim dizer, com um pé em uma cultura e outro em outra. Nisto reside o seu
caráter diatópico” (Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multi-
cultural, 2003. p. 444).
26
“É preciso ao menos mencionar quatro variáveis importantes para esse contexto: a composi-
ção do Conselho de Segurança, que precisa se unir em torno de um objetivo único; a cultura po-
lítica dos Estados, cujos governos só se deixam mobilizar em prol de políticas ‘abnegadas’ a
curto prazo, quando têm de reagir à pressão normativa da opinião pública; a formação de regi-
mes regionais que propiciem só então alicerces efetivos à Organização Mundial; e, por fim, a in-
citação branda a um comércio coordenado em nível global, cujo ponto de partida é a percepção
dos perigos globais. São evidentes os perigos resultantes de desequilíbrios ecológicos, de assi-
metrias do bem-estar e do poder econômico, das tecnologias pesadas, do comércio de armas, do
terrorismo, da criminalidade ligada às drogas etc.” (Habermas. A inclusão do outro: estudos de
teoria política, 2002. p. 209).
27
Cf. Habermas. A constelação pós-nacional: ensaios políticos, 2001. p. 104.
28
“Os defensores de uma ‘democracia cosmopolita’ buscam três objetivos: primeiro, a criação
dos status político dos cosmopolitas [Weltbürger, cidadãos do mundo] que pertencem às Na-
ções Unidas não apenas por intermédio dos seus Estados, mas que também são representados e
por eles eleitos; em segundo lugar, a construção de uma Corte de justiça internacional com as
suas competências usuais cujos juízos seriam válidos também para os governos nacionais; e, fi-
nalmente, a ampliação do Conselho de Segurança nos termos de um Executivo capaz de ação.
Mesmo uma ONU operando fortalecida desse modo e ampliada nos seus fundamentos de legiti-
mação poderia tornar-se efetivamente ativa, no entanto, apenas nos âmbitos de competência li-
mitados de uma política reativa de segurança ou de direitos humanos bem como de uma política
ecológica preventiva” (Idem. Ibidem. p. 135).
88](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-100-320.jpg)

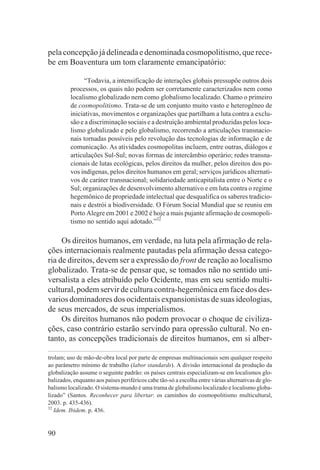





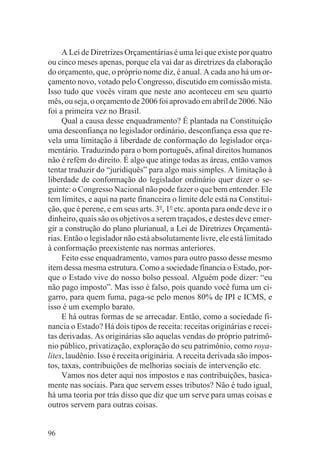
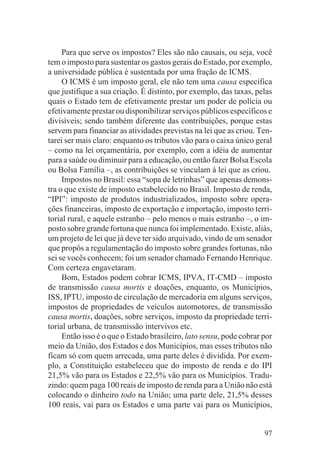





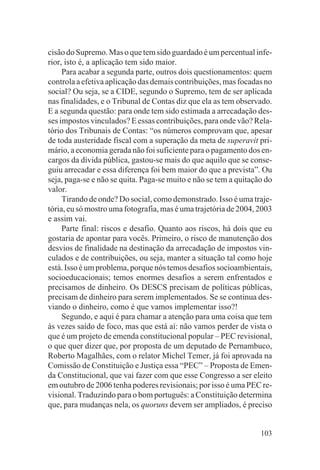


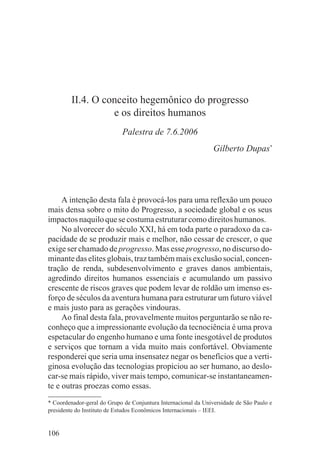

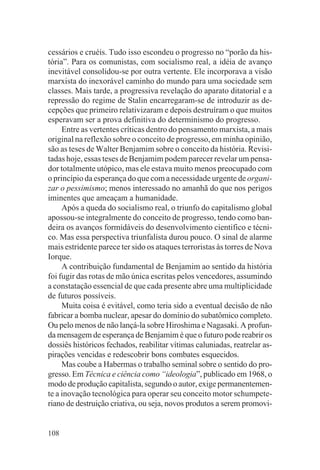



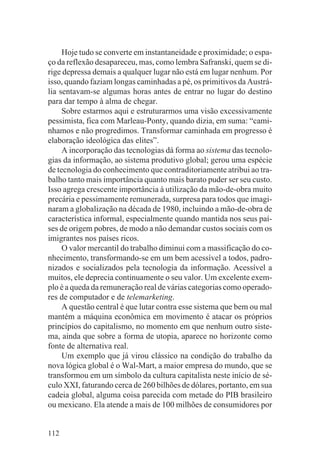
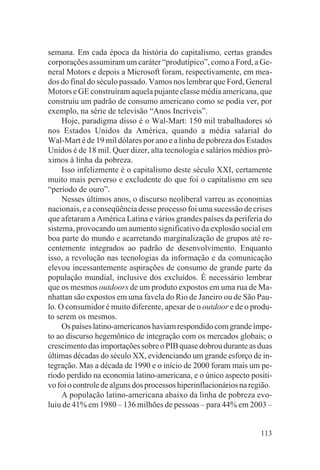





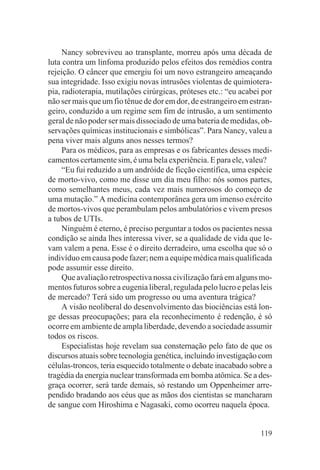




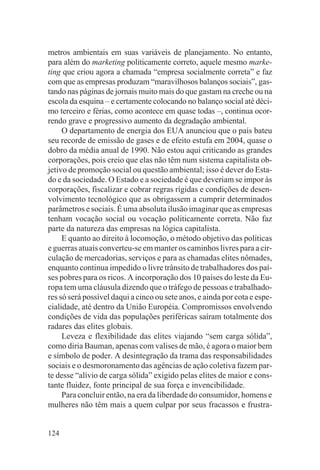
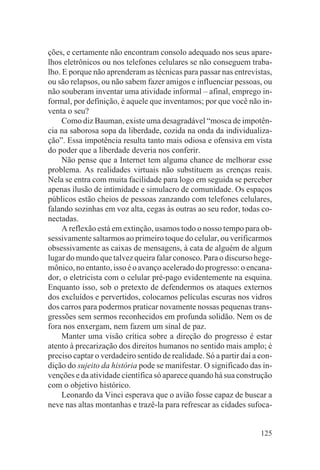


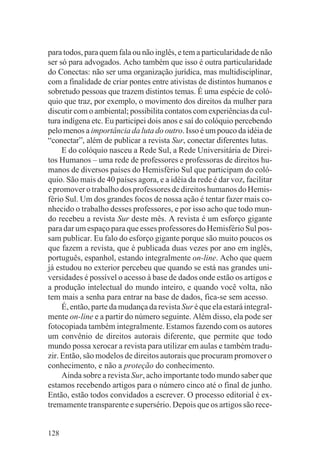



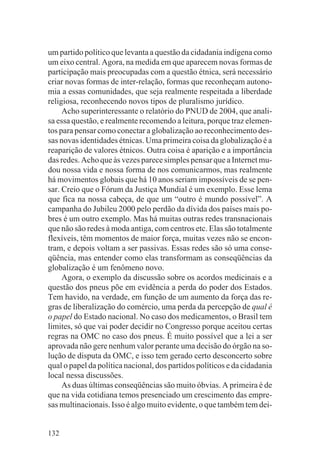

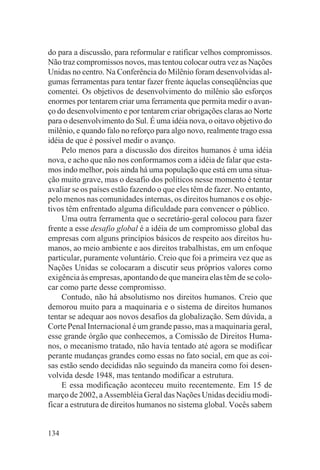

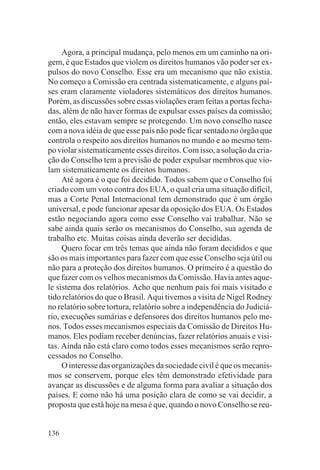







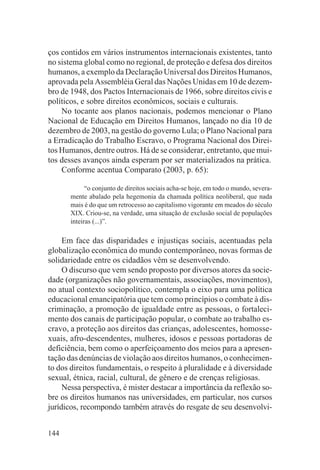

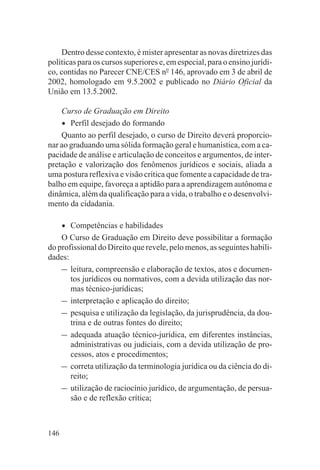
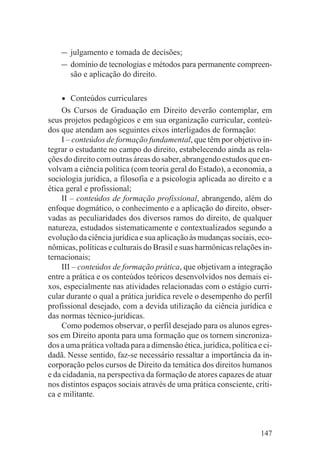
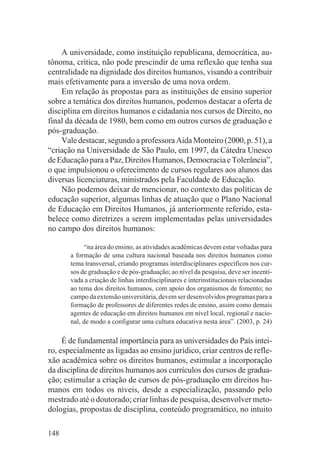

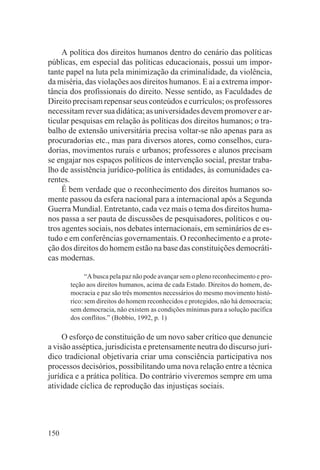
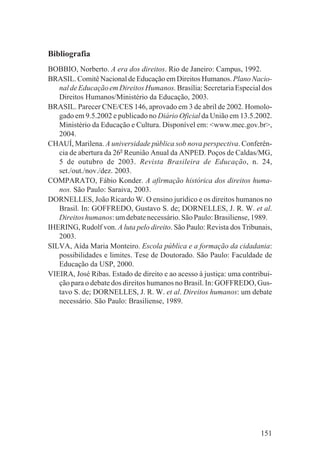

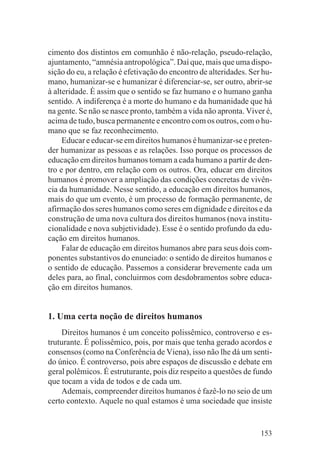






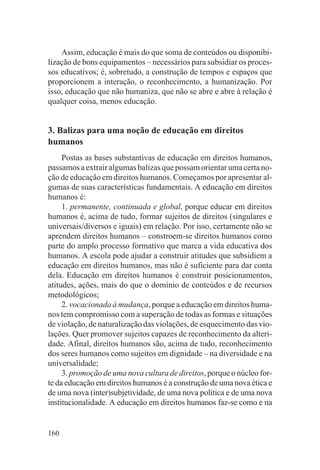




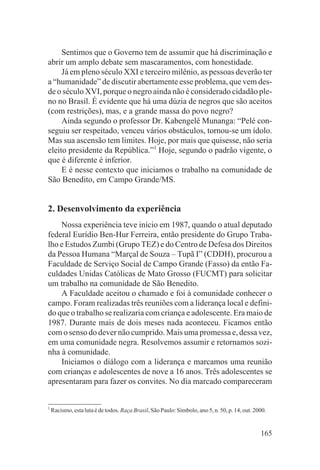











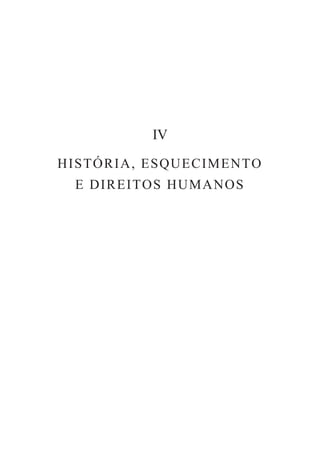




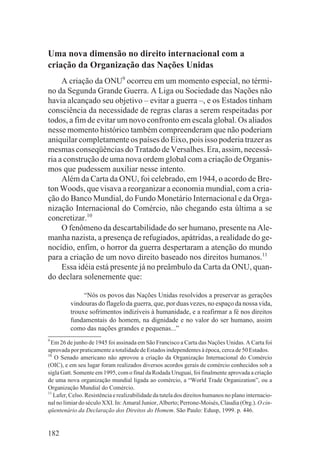



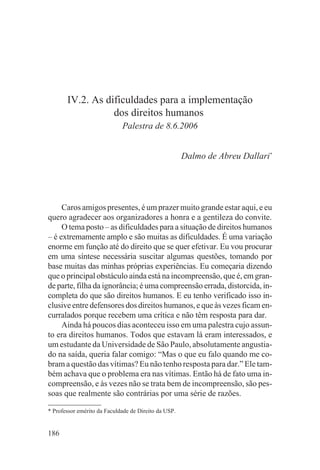



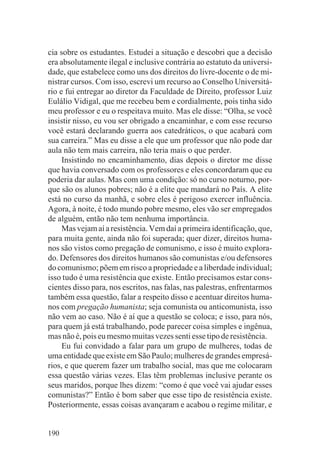
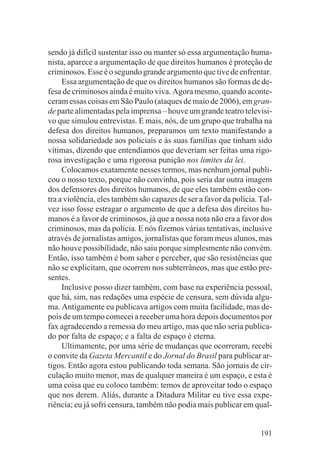

![Mas é claro que certas pessoas, como esse meu colega, se apegam
ao argumento da falta de justiciabilidade dos direitos humanos, pois
são ligados a grandes grupos econômicos. Isso acontece em grandes
grupos empresariais, que se opõem a qualquer tipo de concessão, uti-
lizando ainda a idéia de direitos humanos às vezes como “coisa de co-
munista” e outras vezes como ajuda a criminosos, ou outras vezes di-
zendo que é uma fantasia.
Ainda há poucos dias eu participei de uma discussão assim, na
qual um eminente colega jurista até chegou a dizer: “Vocês fizeram [e
eu nem fui constituinte, claro que atuei bastante, fiz lobbies, estive na
constituinte etc.] uma Constituição muito bonitinha, mas aquilo é
fantasia; não é prático...” É fantasia se os juristas não deixarem apli-
car; se não, é realmente fantasia. Então existe esse tipo de resistência,
e sobre isso eu quero falar um pouco.
Eu mencionei a questão da União Soviética, a queda da União So-
viética, a queda do muro de Berlim, o desmoronamento da União So-
viética em 1991. Eu próprio, através das entidades das quais partici-
po, verifiquei uma mudança no sentido de aumento da resistência aos
direitos humanos e às reivindicações por direitos humanos. E a razão
pela qual houve muita concessão durante a Guerra Fria era o medo do
“perigo comunista”. Ou seja, pensou-se: “Vou conceder alguma coi-
sa porque senão vai explodir e vou perder tudo, então é melhor dar
mais direitos trabalhistas, é melhor eu participar de uma fundação que
vai dar alguma assistência a crianças abandonadas etc.”
E aí surgiram muitas ONGs, que na verdade tinham essa inspira-
ção; é preciso dar alguma coisa para aliviar as tensões, que senão vem
uma explosão, e o perigo comunista está aí. Mas quando ocorreu o
fim da União Soviética, houve um retrocesso, e não é por acaso que aí
nasce o neoliberalismo. “Por que razão vou dar alguma coisa?”, – eu
ouvi isso de um empresário há bem poucos dias – quer dizer, “eu pago
a escola do meu filho, por que tenho de pagar a escola do filho do meu
empregado, já que dou um salário para meu empregado? Caso contrá-
rio eu estaria dando dois salários para ele, e isso não é justo”.
Usa-se muito esse tipo de argumentação, mas com uma tranqüili-
dade de quem não tem mais medo; de quem acha que o período comu-
nista acabou. Então, agora, por que fazer concessões? Já que se faziam
concessões antes contra a própria vontade, mas da forma “dou os anéis
193](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-205-320.jpg)

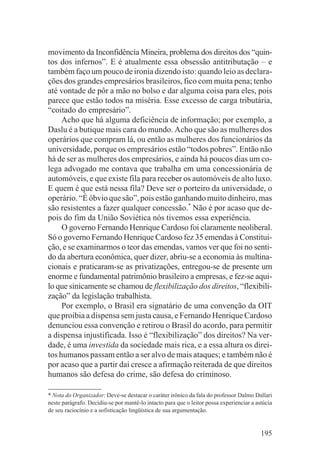




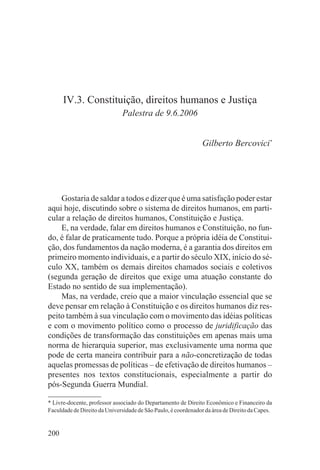








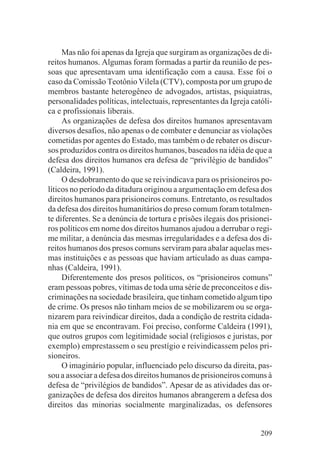




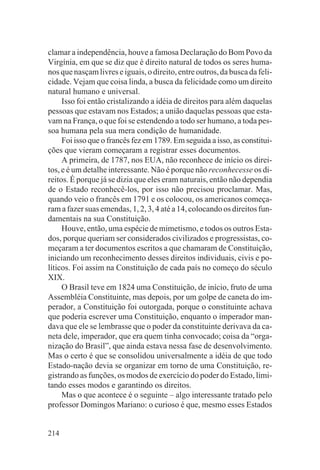


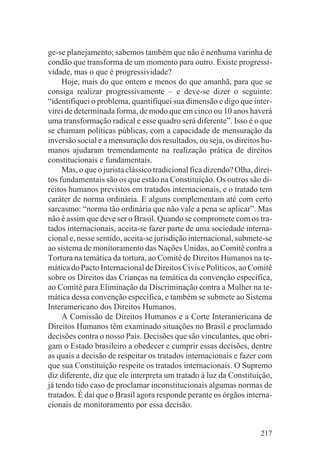

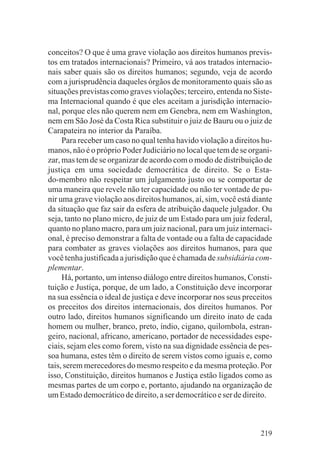
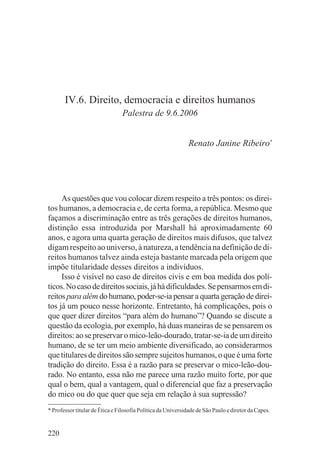
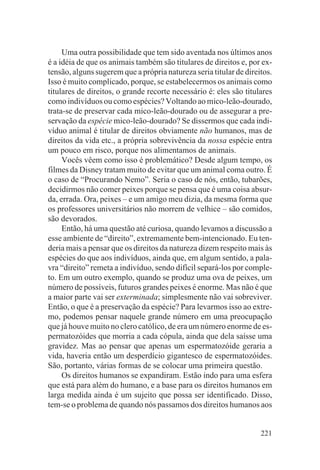
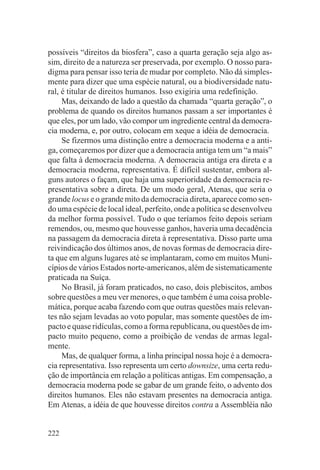
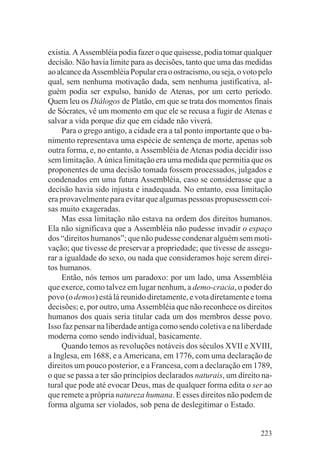

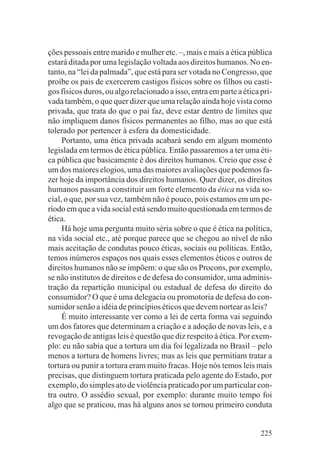






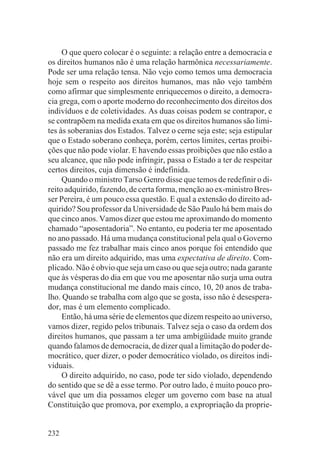
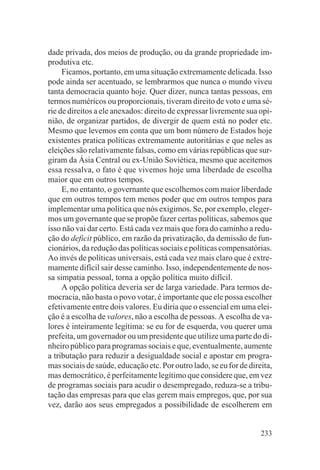
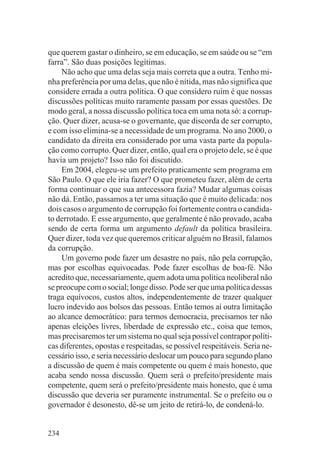





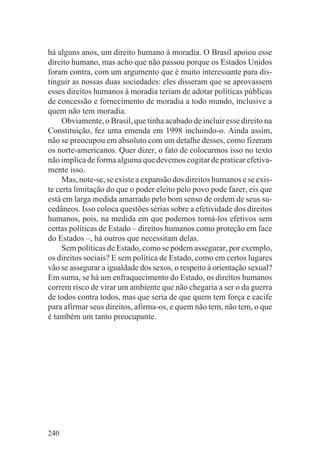
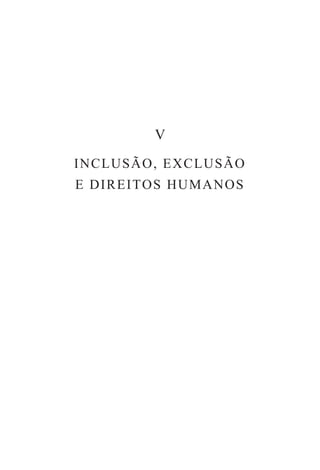







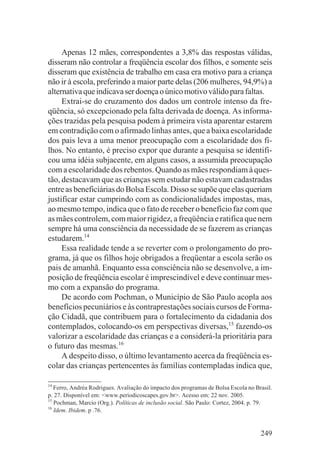







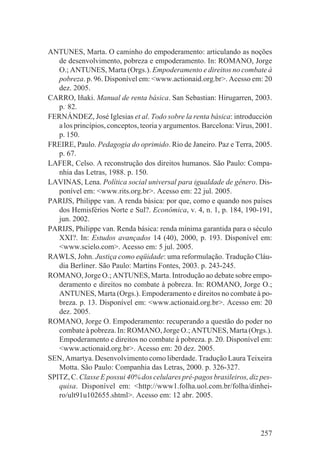



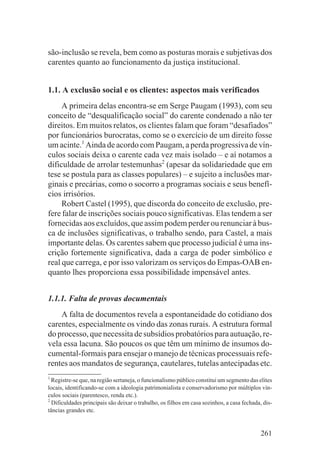



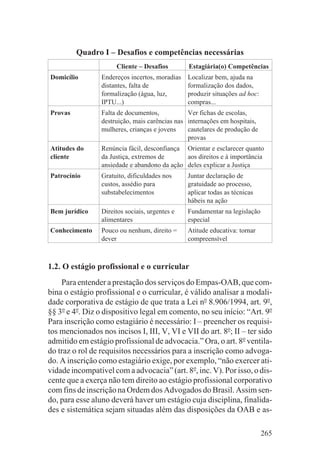

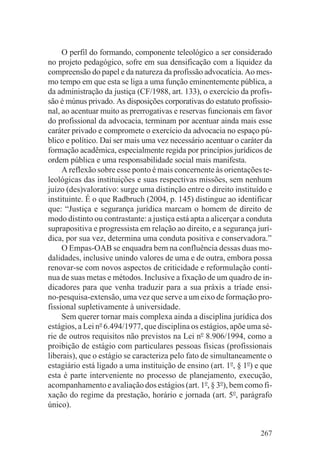
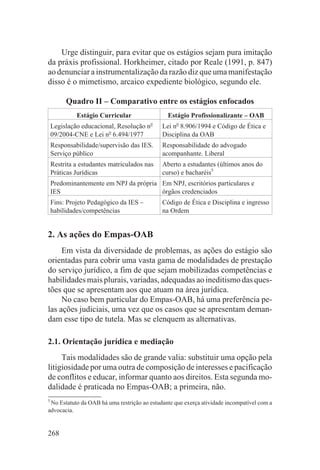

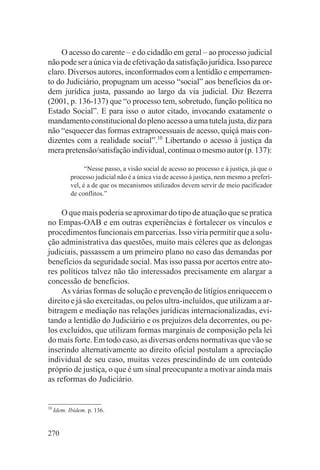



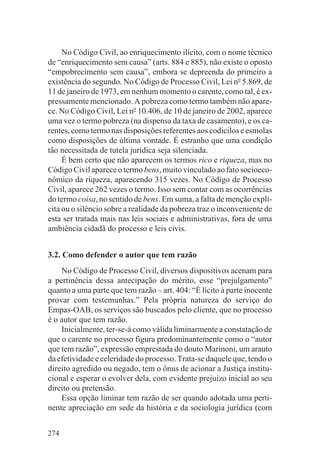





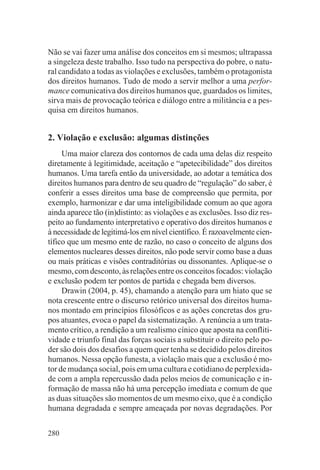













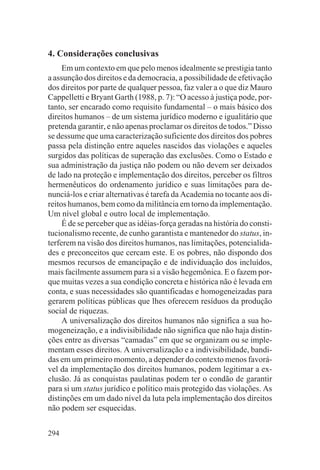
![Um aspecto claro dessa desconsideração é o tratamento por igual
que se dá às violações e às exclusões, como se entrassem no campo de
conhecimento e das percepções dos pobres do mesmo jeito. Há o sur-
gimento de uma cooptação do discurso dos direitos humanos e sociais
por grupos identitários de forte mobilização e agendamento político,
ou seja, grupos capazes de pressões e de obter conquistas. E isso jun-
tamente com a ideologia garantista de um direito por superar esse hia-
to entre ela e as práticas concretas das militâncias. Os horizontes jurí-
dicos possíveis dentro da democracia e do direito assim podem comu-
nicar os direitos humanos em uma melhor performance, abrindo-o à
possibilidade de ser efetivamente o conteúdo de uma cultura rights
based approach.
Bibliografia
ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2004.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2001.
_____. Em busca da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre:
Fabris, 1988.
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. 28. ed. São Paulo: Cultrix, 2002.
CÁRDIA, Nancy. Direitos humanos e cidadania. In: NÚCLEO DE
ESTUDOS DA VIOLÊNCIA. Os direitos humanos no Brasil. São Pau-
lo: [s.n.], 1995.
DRAWIN, Carlos Roberto. Psicologia, subjetividade e exclusão numa pers-
pectiva dos direitos humanos. In: IV SEMINÁRIO NACIONAL DE
PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS. Anais. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2004. p. 43-57.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípios. São Paulo: Martins Fon-
tes, 2001.
FARIAS NETO, Pedro Sabino de. Gestão efetiva e integrada de políticas
públicas. Fundamentos e perspectivas para o desenvolvimento sustentá-
vel. João Pessoa: Idéia, 2004.
GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social. Encontros com o
pensamento social clássico e contemporâneo. São Paulo: Unesp, 1998.
295](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-307-320.jpg)
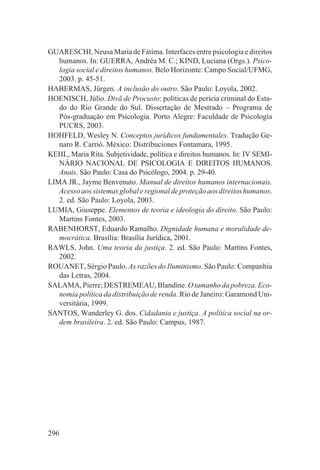
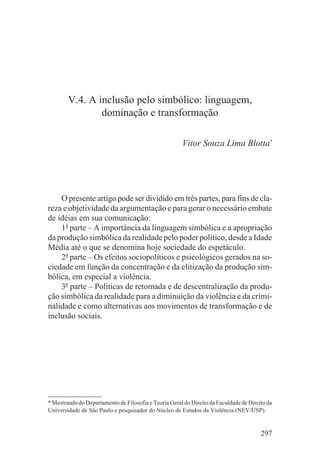














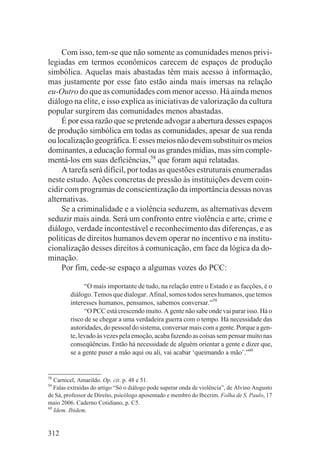
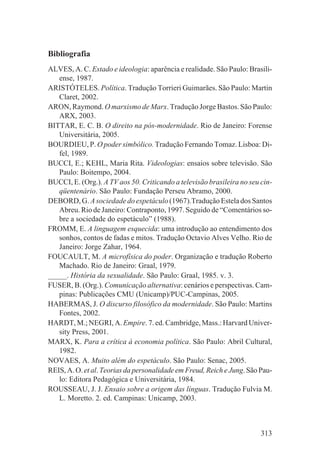

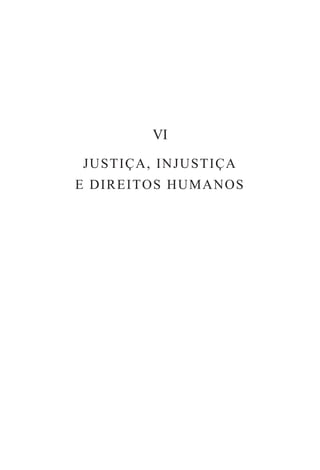





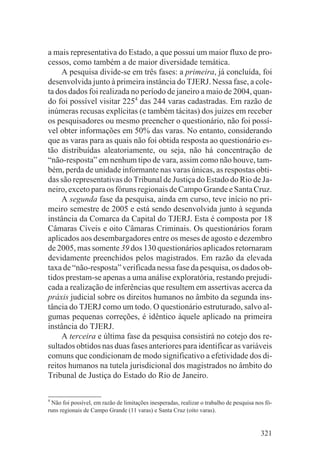
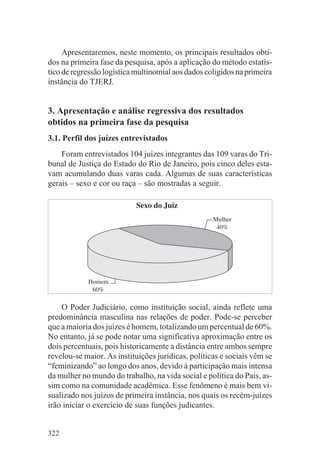
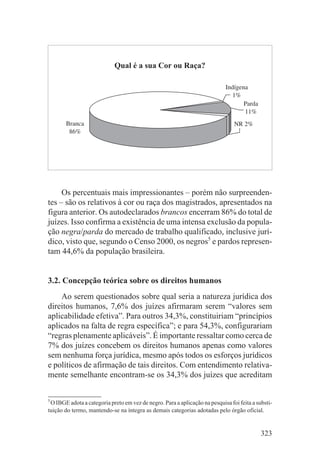

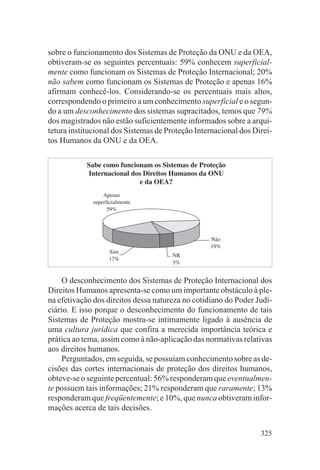


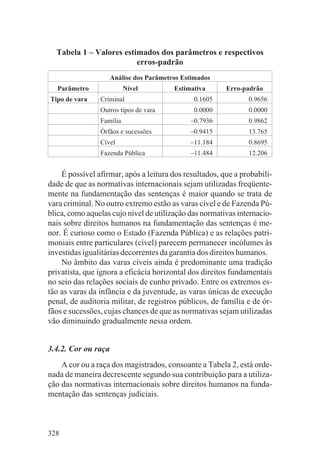
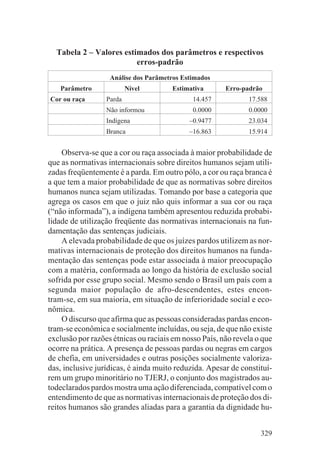
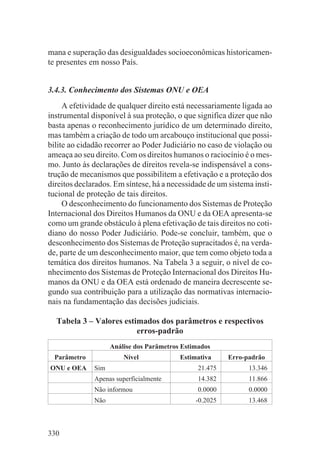

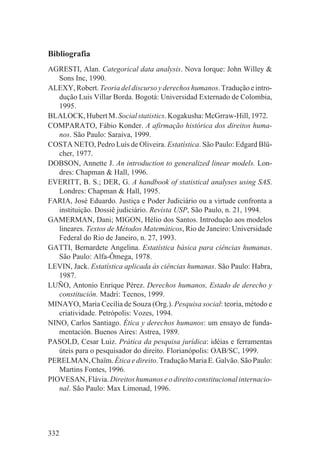
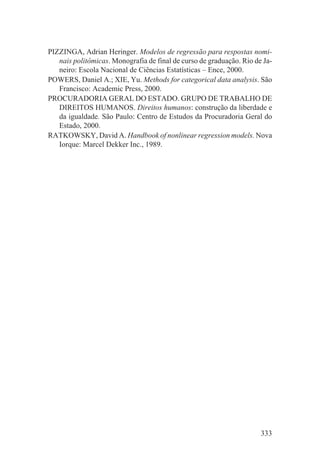


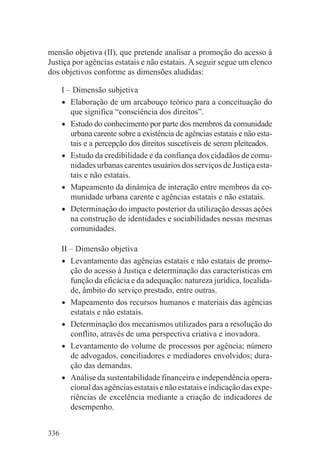



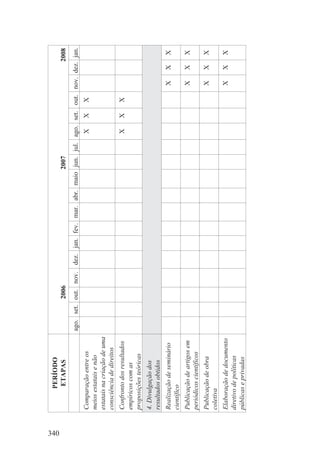
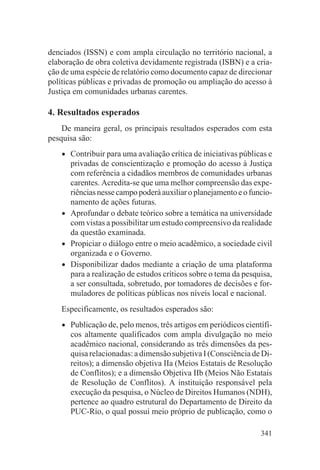

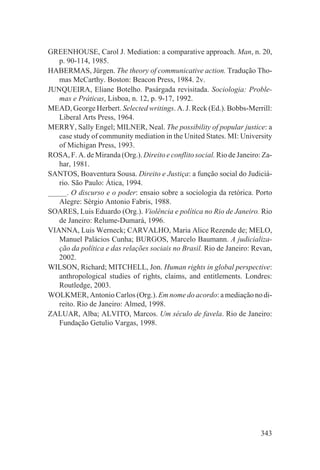
![VI.3. O projeto moderno e a crise da razão:
que justiça?
Wilson Levy*
Resumo: A proposta do presente texto é apresentar uma reflexão
interdisciplinar sobre a crise do projeto filosófico da modernidade.
Assenta seus fundamentos em referenciais da chamada pós-mo-
dernidade, como, por exemplo, Gilles Lipovetsky e Boaventura de
Sousa Santos, e na crítica de autores como Sérgio Paulo Rouanet e
Max Horkheimer. O objetivo é discutir de que forma a crise da razão,
inserida na crise da modernidade, compreende uma influência à crise
da justiça. A metodologia consistirá na análise de textos e fragmentos
dos referidos autores. Espera-se, como resultado, apontar os elemen-
tos da crise da modernidade que estão presentes na crise do que se en-
tende por justiça.
“Talvez a mais grave e imperdoável [confusão] é a incapacidade de se
distinguir, no discurso sobre os intelectuais, o plano do ser do plano do dever
ser, a postura descritiva da postura prescritiva, o momento da análise do mo-
mento da proposta (...). A passagem de um plano a outro ocorre muitas vezes
de modo inconsciente, tanto que o juízo negativo sobre a inteira categoria
depende unicamente da constatação de que, de fato, os intelectuais de quem
* Graduando em Direito pela PUC-Campinas, membro do grupo de pesquisa CNPq “Ética e Justi-
ça”, ao qual se vincula esta pesquisa, bolsista de iniciação científica do Pibic-CNPq, sob a orienta-
ção do professor Dr. Luiz Paulo Rouanet. O grupo se vincula ao Programa de Mestrado em Filoso-
fia da PUC-Campinas. Associado da ANDHEP (Associação Nacional de Direitos Humanos, Pes-
quisa e Pós-graduação) e da ABEDi (Associação Brasileira de Ensino do Direito).
344](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-356-320.jpg)






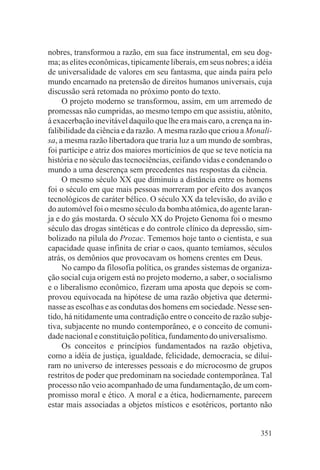



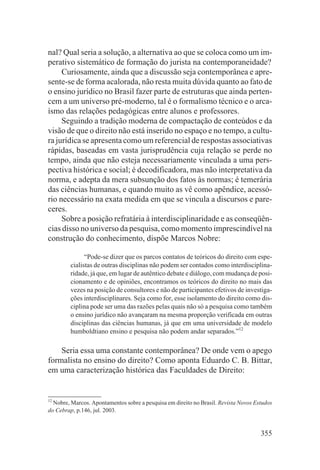

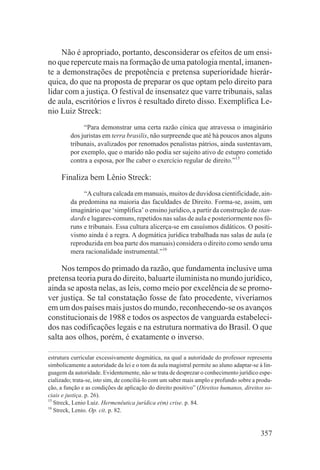
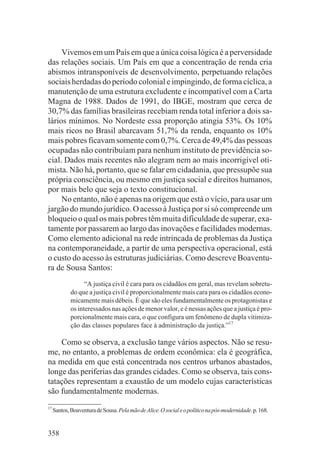
![Falar em liberdade, igualdade e fraternidade nesse tipo de cenário
é um luxo insidioso; é a visão de quem está contemplando, do lado de
fora, uma foto de Sebastião Salgado sobre as intermináveis crises de
fome na África. De forma muito oportuna pontua o filósofo Sérgio
Paulo Rouanet:
“A autonomia política é negada por ditaduras ou transformada numa
coreografia eleitoral encenada de quatro em quatro anos. A autonomia eco-
nômica é uma mentira sádica para os três terços do gênero humano que vi-
vem em condições de pobreza absoluta.”18
Não é possível, portanto, oferecer uma solução para o problema
da desigualdade social da forma obtusa na qual nossos legisladores se
entregam a um processo contínuo de frenesi legislativo. Essa é uma
das moléstias da estrutura de poder do Estado brasileiro contemporâ-
neo, e de modo objetivo de um sem-número de nações, e está ligada
diretamente às promessas não cumpridas da modernidade. É a consta-
tação de que as grandes codificações legais são resultado de uma épo-
ca e de interesses, e não resolvem, automaticamente, os problemas
que tratam de forma abstrata.
Discute Lênio Streck, sobre os reflexos dessa opção paradigmáti-
ca no direito:
“A crise do modelo (modo de produção do direito) se instala justamente
porque a dogmática jurídica, em plena sociedade transmoderna [nota: per-
cebe-se outro termo para designar uma pós-modernidade] e repleta de con-
flitos transindividuais, continua trabalhando com a perspectiva de um direi-
to cunhado para enfrentar conflitos interindividuais, bem nítidos em nossos
Códigos (Civil, Comercial, Penal, Processual Penal e Processual Civil etc.).
Esta é a crise de modelo (ou de modo de produção) de direito, dominante nas
práticas jurídicas de nossos tribunais, fóruns e na doutrina.”19
18
Rouanet, Sérgio Paulo. O mal-estar da modernidade. p. 10.
19
Streck, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise. p. 36. No mesmo caminho, refletindo sobre
o multiculturalismo, coloca Boaventura de Sousa Santos: “A sobrevivência do multiculturalis-
mo em um mundo no qual o Estado reconhece, protege e pretende transformar todos os direitos
em individuais é quase impossível. De fato, a construção do Estado contemporâneo e de seu di-
reito foi marcada pelo individualismo jurídico ou pela transformação de um todo titular de
direito em um indivíduo. Assim foi feito com as empresas, as sociedades e com o próprio Estado;
criou-se a ficção de que cada um deles era pessoa, chamada de jurídica ou moral, individual”
(Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. p. 73).
359](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-371-320.jpg)


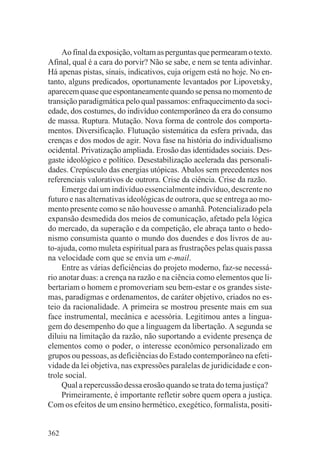


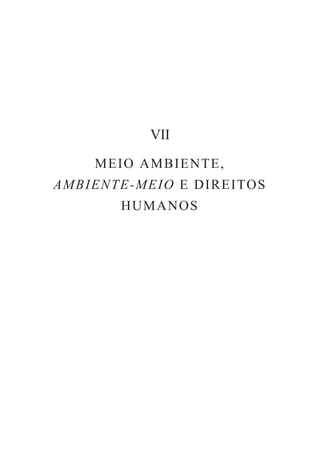










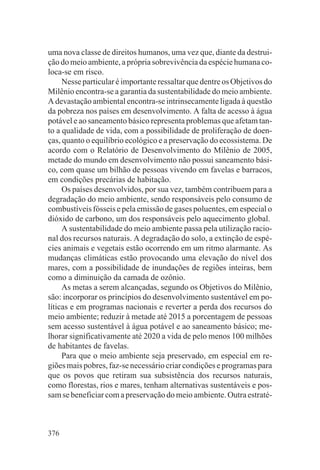
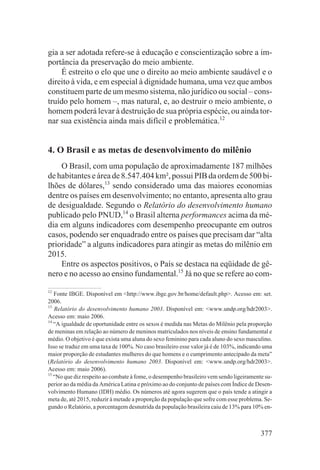

![projetos sociais implantados no País, como doação de cestas básicas com
produtos alimentícios, que foram distribuídas até 2001, e distribuição de
recursos financeiros diretamente à população carente através de progra-
mas como Bolsa Escola, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
Vale Gás, que vigoraram durante o Governo do presidente Fernando
Henrique Cardoso, além do Programa Comunidade Solidária.19
No Governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva esses pro-
gramas foram unificados em 2003 pelo programa Bolsa Família, que,
segundo dados de janeiro de 2006, beneficiava cerca de 8.644.202 fa-
mílias.20 É inegável o alcance social desses programas, possibilitando
autodesenvolvimento; o direcionamento dos projetos para as áreas geográficas e setores mais
pobres da população; a parceria entre múltiplos atores, públicos e privados, como estratégia
para ampliar os recursos investidos na área social; a descentralização e participação da
comunidade como condição para uma maior eficiência e sustentabilidade das ações; o
monitoramento e avaliação para medir custos e resultados bem como facilitar a replicação dos
programas em larga escala.
Os principais programas de âmbito nacional desenvolvidos pela Comunidade Solidária são:
Alfabetização Solidária, que já alfabetizou mais de 2 milhões e meio de jovens nos Municípios
mais pobres do País; Capacitação Solidária, que treinou mais de 100 mil jovens para o mercado
de trabalho nas grandes regiões metropolitanas; Universidade Solidária, que mobilizou
estudantes e professores universitários para ações de desenvolvimento social em nível local;
Artesanato Solidário, de estímulo à organização de mulheres artesãs em cooperativas de
produção; Programa Voluntários de valorização do voluntariado como expressão de uma ética
de solidariedade e participação cidadã.
Disponível em: <http://www.portaldovoluntario.org.br/site/pagina.php?idconteudo=474>.
Acesso em: out. 2006; <http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/COMUNI.HTM>.
Acesso em: out. 2006.
19
O Programa Bolsa Família transfere aos beneficiários um valor fixo de R$ 50,00 para famílias
com renda mensal de até R$ 50,00 por pessoa, tenham elas prole ou não. Além desse valor fixo,
as que têm filhos entre 0 e 15 anos terão um benefício variável, de R$ 15,00 por criança, sendo
computado o limite máximo de três filhos. Desse modo, somando-se os benefícios existentes, o
Bolsa Família distribui o montante máximo de até R$ 95,00 por família. Para aquelas com renda
per capita mensal superior a R$ 50,00 e menor ou igual a R$ 100,00 por indivíduo, o Bolsa
Família deposita mensalmente o benefício variável de R$ 15,00 por filho com idade de 0 a 15
anos até o limite de três benefícios. Fontes governamentais estimam que, em novembro de
2005, o Programa Bolsa Família transferia em média R$ 65,00 por família. Em janeiro de 2006
o programa beneficiava 8.644.202 famílias. In: Zimmermann, Clóvis Roberto. Os programas
sociais sob a ótica dos direitos humanos: o caso Bolsa Família do governo Lula no Brasil.
Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo: Rede Universitária de Direitos
Humanos, ano 3, n. 4, p. 158, 2006 [edição em português].
20
Pobreza cai mais no Brasil que na América Latina, mas saneamento ainda é problema: estu-
do divulgado pela Cepal aponta que na maioria dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio o
país avança em ritmo igual ou superior ao da região. Disponível em: <www.pnud.org.br>.
Acesso em: set. 2006.
379](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-391-320.jpg)




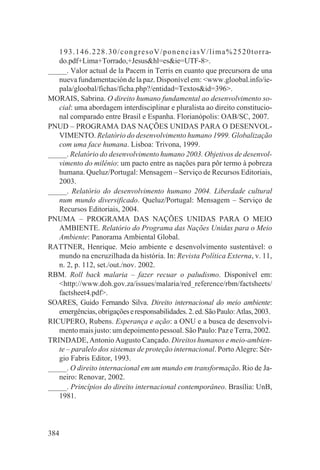
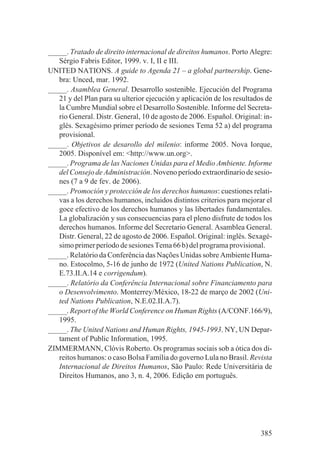









![Caracteri- Guardas subalternos e (1971) “(...) ao ser preso em São
zação dos desinformados sobre o processo, Paulo, pela Oban/SP, foram
encarrega- apenas cumprindo um mandato. recolhidos objetos seus, entre os
dos pela Eles não apresentam nenhum quais um rádio, um relógio de
detenção documento por escrito, nem pulso e um despertador, uma
estão vestidos com algum tipo mala com objetos de uso pessoal
de farda que os identifique. São e Cr$ 200,00 em dinheiro, sendo
pessoas corruptíveis e capazes que, dessa quantia, foi entregue
de pequenas infrações: ao interrogado Cr$ 50,00 (sic)
apropriam-se do café-da-manhã (...)”.15
do detido e buscam obter as (1973) “(...) a depoente
roupas de baixo de Josef K. por estranhou a maneira pela [qual
meio de ameaças veladas. foi] feita a sua detenção, altas
horas da noite, por três
indivíduos de aspecto marginal,
sem nenhum mandado judicial
(...)”.16
Caracteri- Josef K. argumenta em inúmeras Entre 1964 e 1979:
zação do ocasiões no romance que é aproximadamente 88% dos
detido inocente. O detido possui condenados do sexo masculino e
endereço fixo, tem 30 anos, é 12% do sexo feminino; 38,9%
funcionário de um banco, e com idade igual ou inferior a 25
pode, em suma, ser considerado anos; maioria mora em capitais;
uma pessoa de bem. predominantemente da classe
média (mais da metade havia
atingido a universidade); a
maioria dos detidos militava em
organizações partidárias
proibidas, participação em ações
violentas e alguns foram detidos
por manifestações artísticas
condenadas pelo regime.
Finalmente, em 84% dos casos
levantados pelo projeto Brasil
Nunca Mais, nenhum juiz foi
comunicado sobre a prisão
efetuada.17
15
Idem. Ibidem. p. 81.
16
Idem. Ibidem. p. 77.
17
Cf. Idem. Ibidem. p. 87.
395](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-407-320.jpg)











![vessado por ecos de torturas, violências e murmúrios que nos subter-
râneos de delegacias, nas periferias ermas e nas casas afastadas dos
centros urbanos iam sendo orquestrados e silenciados por fiéis agen-
tes contratados do regime ditatorial brasileiro.
Concluindo, pode-se afirmar que de tal forma deu-se uma apro-
priação da obra kafkiana entre intelectuais brasileiros que Josef K. vai
encontrar paralelos com o poema José de Carlos Drummond de
Andrade: dois Josés que se encontram em uma mesma terra, mas que
vêm de universos diferentes, são associados e formam o personagem
brasileiro. Aos dois, tornados um por conta do prenome, poder-se-ia
fazer a mesma pergunta: E agora, José? Uns tantos outros Josés, re-
gistrados e batizados com outros nomes ou tornados Severinos nos
sertões de João Cabral de Mello, foram encontrar paralelos entre suas
vidas e a vida do personagem kafkiano Josef K. E isso é de tal forma
verdade que a imprensa vai abrasileirar o Josef kafkiano, colocando-o
ao lado dos Josés estropiados do sistema. Claro que as notas na im-
prensa brasileira eram tímidas durante os anos de chumbo da ditadura
civil-militar (que limito entre os anos 1969 e 1976) e evidentes duran-
te os anos de abertura democrática. O fundamental é que foi em cima
do personagem literário descrito nas páginas de Franz Kafka que
aquilo que permanecia inominado encontrou uma definição clara: si-
tuação kafkiana.
Bibliografia
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: nunca mais. Petrópolis: Vo-
zes, 1985. p. 118-124.
BICUDO, Hélio Pereira. Violência: o Brasil cruel e sem maquiagem. São
Paulo: Moderna, 1994. p. 32-33.
CANDIDO, Antonio. A verdade da repressão. In: Teresina etc. Rio de Janei-
ro: Paz e Terra, 1980. [O texto reproduzido neste livro havia sido publi-
cado em Opinião. 11:15-22, 1972.]
CARPEAUX, Otto Maria. Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Graal,
1978.
KAFKA, Franz. Der Proceß – Roman (in der Fassung der Handschrift).
Frankfurt am Main: S. Fischer, 1990.
407](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-419-320.jpg)
![_____. O processo. Prefácio e tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Li-
vraria Exposição do Livro, 1964.
MARTINS FILHO, João Roberto. A memória militar sobre a tortura. In:
TELES, Janaína (Org.). Mortos e desaparecidos políticos: reparação ou
impunidade?. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001. p. 110.
NEHRING, Marta. Carta aos torturados. In: TELES, Janaína (Org.). Mortos
e desaparecidos políticos: reparação ou impunidade?. São Paulo: Hu-
manitas/FFLCH/USP, 2001. p. 126.
SANTOS, Maria Célia Ribeiro. Recepção de Kafka em São Paulo: corpus e
primeiras interpretações. Parte I – Processo Fapesp: 97/05934-7, 1998.
[Mimeo: Relatório Final de Iniciação Científica, Orientadora: Dra. Ce-
leste H. M. Ribeiro de Sousa.]
STACH, Reiner. “Das Gericht will nichts von Dir...” – Über Kafkas Roman
Der Proceß. In: KAFKA, Franz. Der Proceß – Roman (in der Fassung
der Handschrift). Frankfurt am Main: S. Fischer, 1990. p. 287-296.
STEPHANOU, Alexandre Ayub. Censura no regime militar e militarização
das artes. Porto Alegre: Edipucrs, 2001. p. 272-273. Coleção “História –
44”. [O texto de Carpeaux foi publicado em 1966, conforme nota de ro-
dapé da p. 272.]
Jornais consultados
Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.
408](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-420-320.jpg)





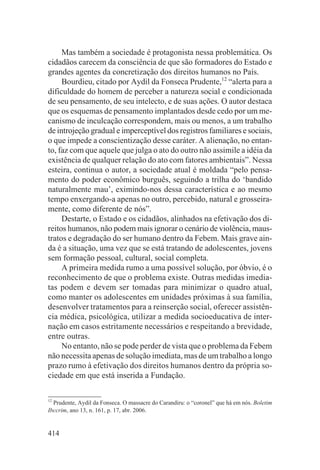

![não se desvincularam do conceito ultrapassado de cidadania, como a
mera “existência de direitos políticos completos e iguais”.15
O exercício da cidadania nos dias de hoje deve ser em busca da
concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal, transformando a realidade para que seres humanos não pas-
sem fome, tenham acesso à educação, saúde, saneamento básico, ou
seja, tenham um mínimo de condições de sobrevivência e dignidade.
O que não se pode conceber é que “o princípio da dignidade da
pessoa humana, em toda a sua inteireza, [tenha sido] levado, em cer-
tas situações, para ‘local incerto e não sabido’”.16 A modificação da
atual situação da Febem é uma forma de fazer valer esse exercício de
cidadania e efetivar o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, em uma verdadeira concretização dos direitos humanos.
Bibliografia
AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO FREI TITO PARA A AMÉRICA LA-
TIN A – ADITAL. Ato contra a Febem . D i s poní vel em :
<http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=22085>.
Acesso em: 19 abr. 2006.
BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: es-
tudos filosóficos entre cosmopolitismo e responsabilidade social. São
Paulo: Manole, 2004.
_____. O terrorismo urbano: violência e desordem social. Folha de S. Paulo,
20 maio 2006.
CENTRO DE JUSTIÇA GLOBAL et al. Destruindo o futuro – tortura na
Febem. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militan-
tes/cavallaro/febemglobal.html>. Acesso em: 13 maio 2006.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos huma-
nos. São Paulo: Saraiva, 2005.
FRASSETTO, Flávio A. et al. O ECA, o Judiciário e as medidas socioeduca-
tivas. Boletim IBCCRIM, ano 13, n. 155, out. 2005.
15
Bittar, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: estudos filosóficos
entre cosmopolitismo e responsabilidade social. São Paulo: Manole, 2004. p. 12.
16
Rabelo, Francis de Oliveira. A coragem de transgredir a lei em busca do princípio da
dignidade da pessoa humana – um grito do Judiciário mineiro. Boletim Ibccrim, ano 13, n. 157,
p. 2, dez. 2005.
416](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-428-320.jpg)
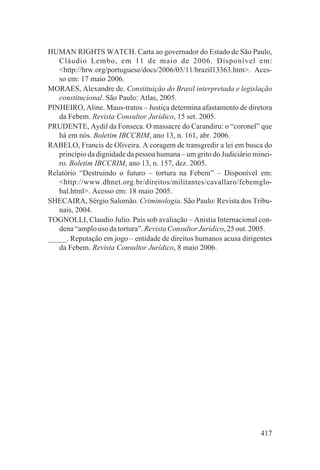







![simples casas residenciais, vigilantes nas ruas pagos pelos morado-
res. Isso, que há alguns anos era exclusivo de alguns bairros ricos em
cidades como o Rio de Janeiro, é hoje um fenômeno que pode ser en-
contrado em qualquer bairro de classe média da cidade do Recife.
Mas não só: nos bairros populares e periferias, não é raro nos defron-
tarmos com pequenos estabelecimentos comerciais, quando não sim-
ples biroscas, que se assemelham a verdadeiras jaulas: os comercian-
tes, do lado de dentro, atendem os fregueses através de grades!
Não tem inteira razão, assim, o jornalista Mino Carta, ao criticar a
nossa “elite [que] ergue muralhas em torno das suas vivendas” (Carta
Capital, 15.6.2005, p. 20). Que ela está entrincheirada faz tempo é
uma verdade sabida e que de certa forma apascenta o nosso senso crí-
tico e a nossa boa consciência. Mas a verdade é que esse comporta-
mento autodefensivo espraia-se por toda a sociedade, chegando até os
seus estratos mais humildes. Afinal, os pobres são também normais! –
e, igual aos ricos, costumam agir racionalmente... Permitindo-me a
intromissão de uma nota pessoal, adianto que eu mesmo, todos os me-
ses, contribuo com 15 reais para uma cota feita no meu prédio a fim de
pagarmos alguns rapazes musculosos que ficam na esquina da rua
onde moro com um vistoso colete onde está escrito em letras bem vi-
síveis: “Segurança”! Sinto-me seguro? Mais ou menos...
3. É tendo em vista essa realidade – em que a violência ou sua
ameaça parece ter-se integrado na vida cotidiana de todo mundo – que
gostaria de explorar como hipótese de trabalho a perspectiva de que,
outra vez sem nenhum rompante retórico, estamos diante de um ver-
dadeiro problema civilizacional. Isso dito, é tempo de juntar o que foi
exposto a alguns elementos teóricos a fim de estabelecer mais clara-
mente o cerne de minhas reflexões. Não se trata, esclareço logo, de pro-
por, em uma fórmula mágica, a solução para o problema da violência no
Brasil, ainda que um de seus pressupostos seja o de que a violência bra-
sileira, como outras experiências históricas demonstram ser possível,
possa um dia ser conduzida a níveis, por assim dizer, “normais”, para
falar como Durkheim. Trata-se, antes, de trazer ao campo de discus-
são um approach não muito simpático entre nós. O que quero dizer
com isso?
Antes de tentar entabular uma resposta, gostaria de lembrar –
mesmo se toda analogia é, por princípio, “imperfeita” – que já houve
425](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-437-320.jpg)