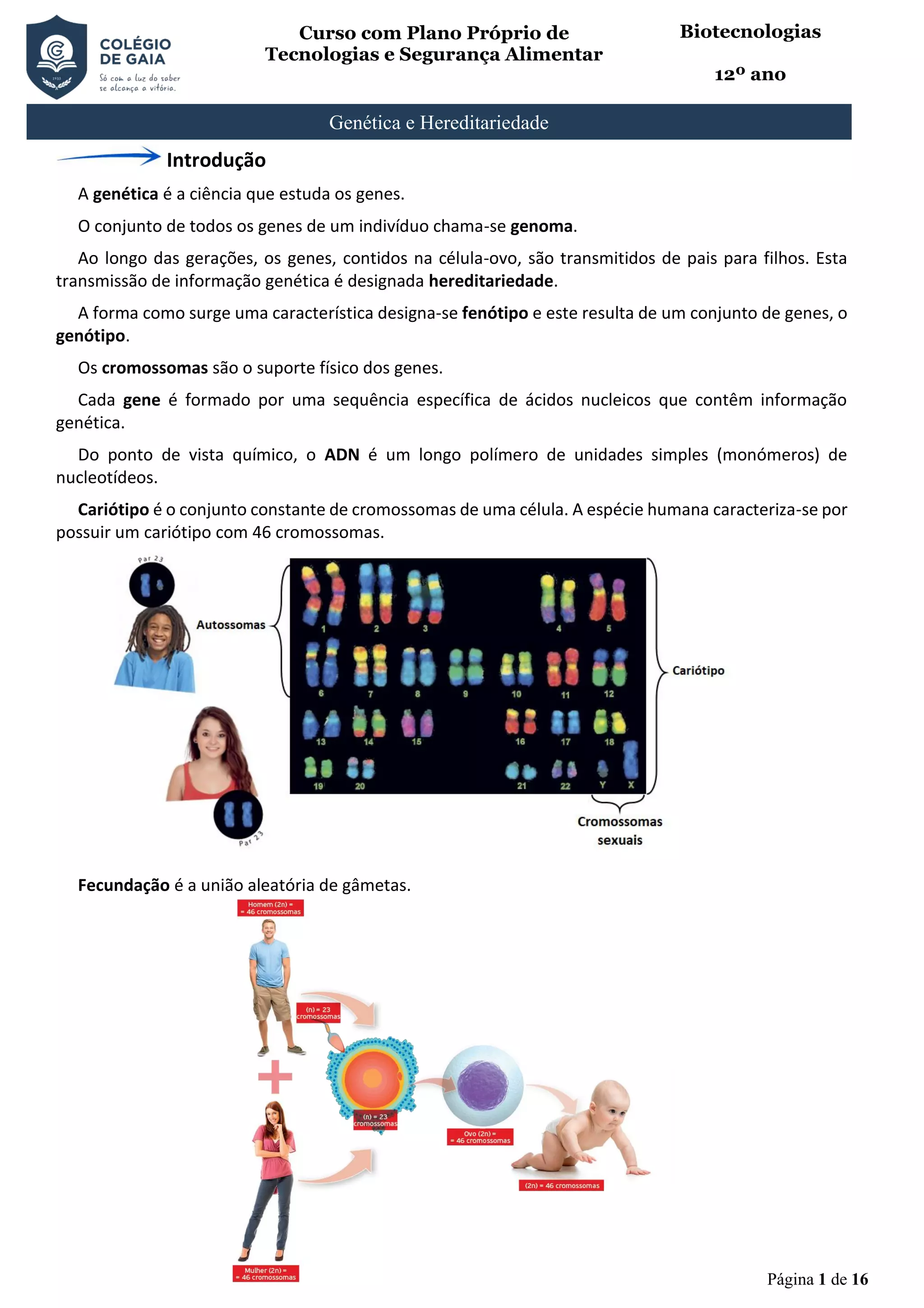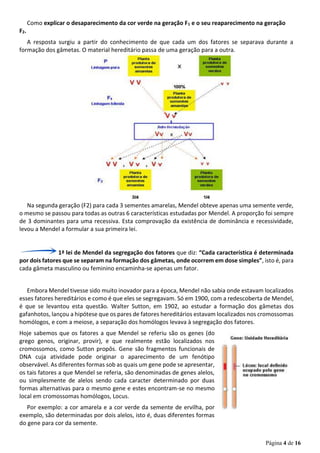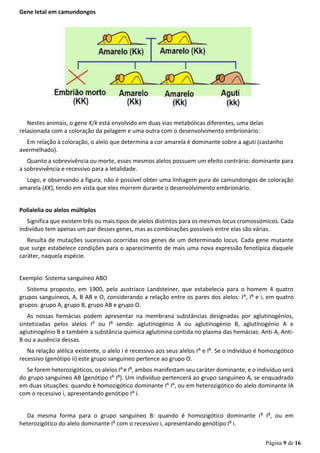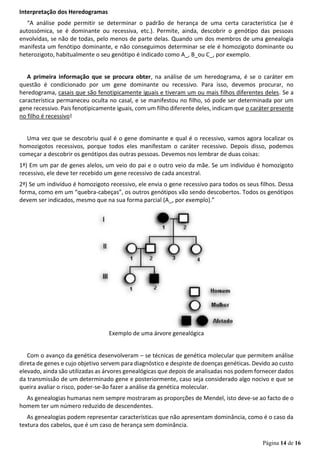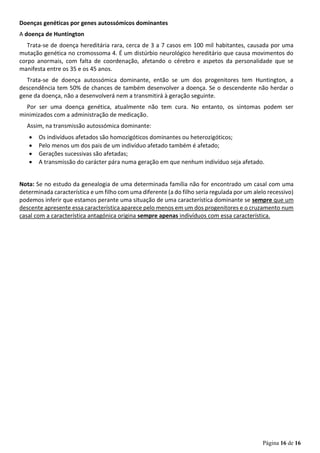Este documento descreve as experiências de Gregor Mendel com ervilhas e o desenvolvimento das leis da hereditariedade. Mendel realizou cruzamentos controlados de ervilhas para estudar a transmissão de características como cor da flor e forma da semente. Suas descobertas levaram à formulação das leis da segregação e da associação independente dos fatores hereditários.