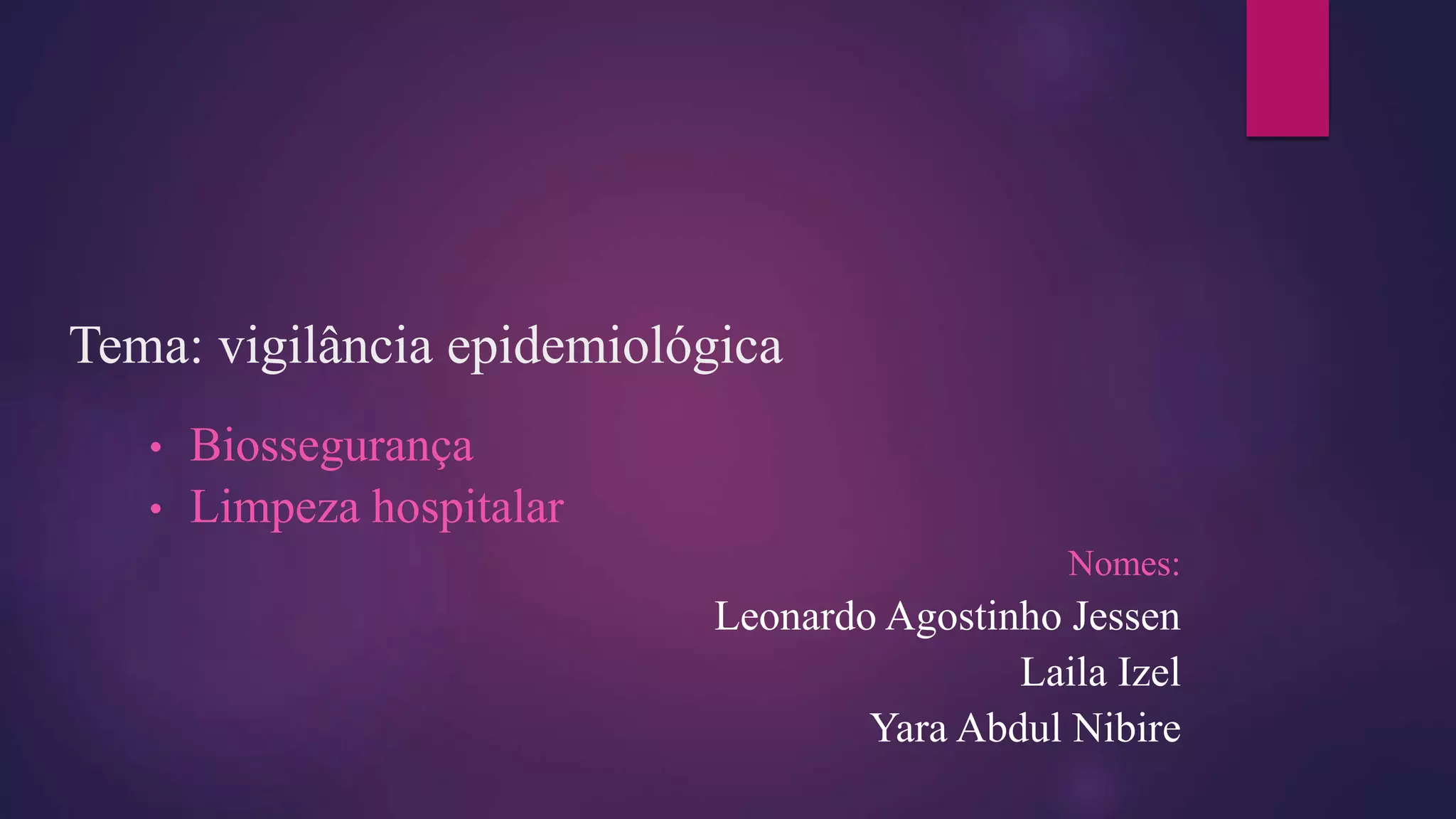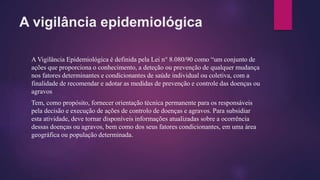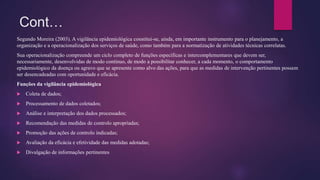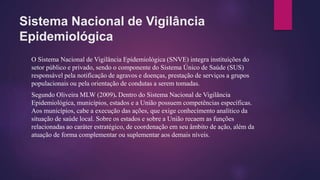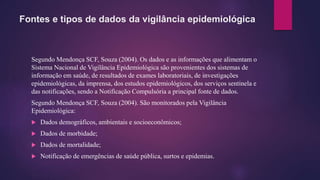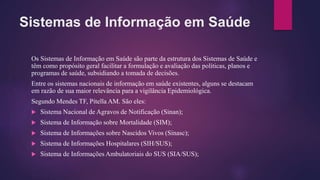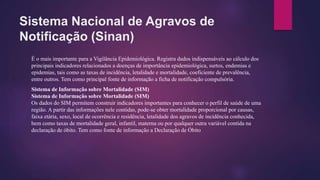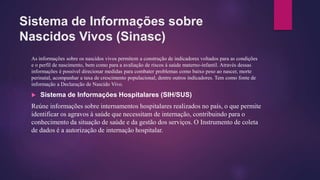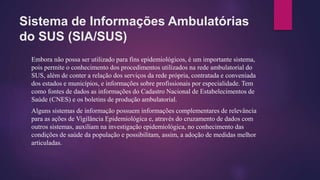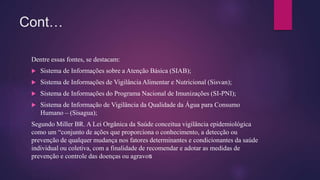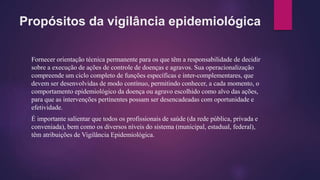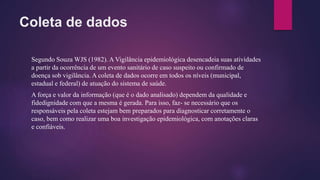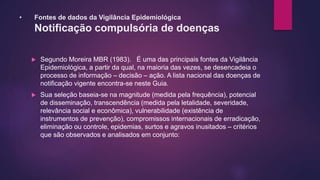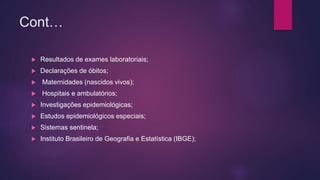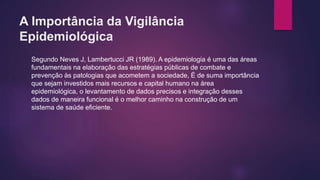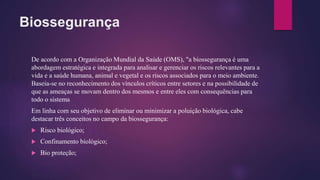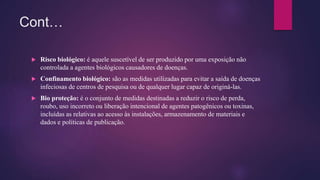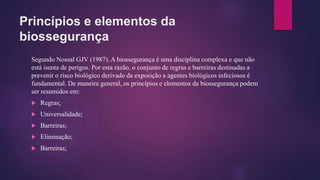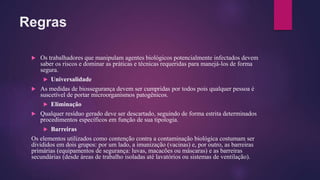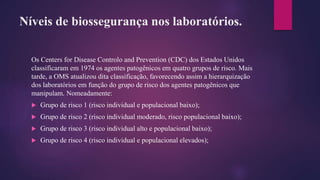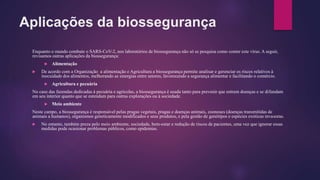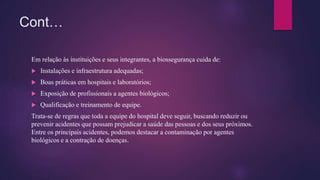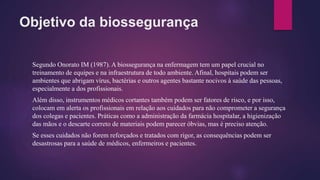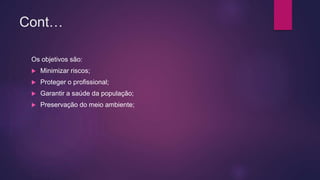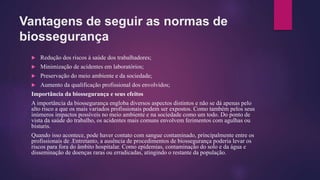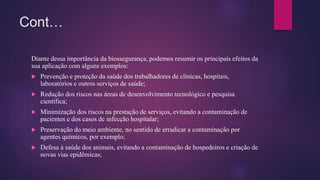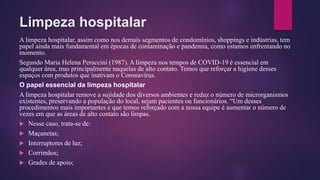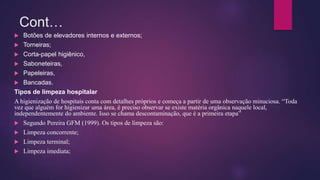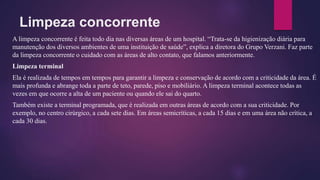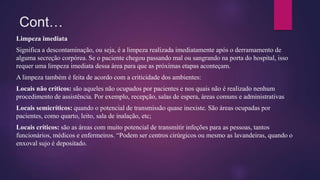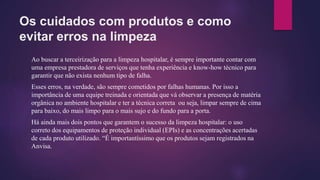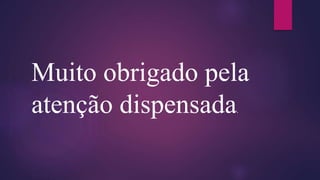O documento discute a vigilância epidemiológica, definindo-a como um conjunto de ações que fornecem conhecimento sobre fatores que afetam a saúde individual e coletiva para recomendar medidas de prevenção e controle de doenças. Também descreve os sistemas de informação em saúde que fornecem dados para a vigilância, como o Sinan, SIM e Sinasc.