O documento discute esgotamento sanitário e destino adequado de dejetos humanos. Ele explica que os dejetos podem transmitir doenças e devem ser afastados de pessoas, água e alimentos. Também aborda a importância sanitária e econômica do tratamento adequado de esgotos, as características físicas, químicas e biológicas dos esgotos domésticos, e a sobrevivência de bactérias no solo e em águas subterrâneas.
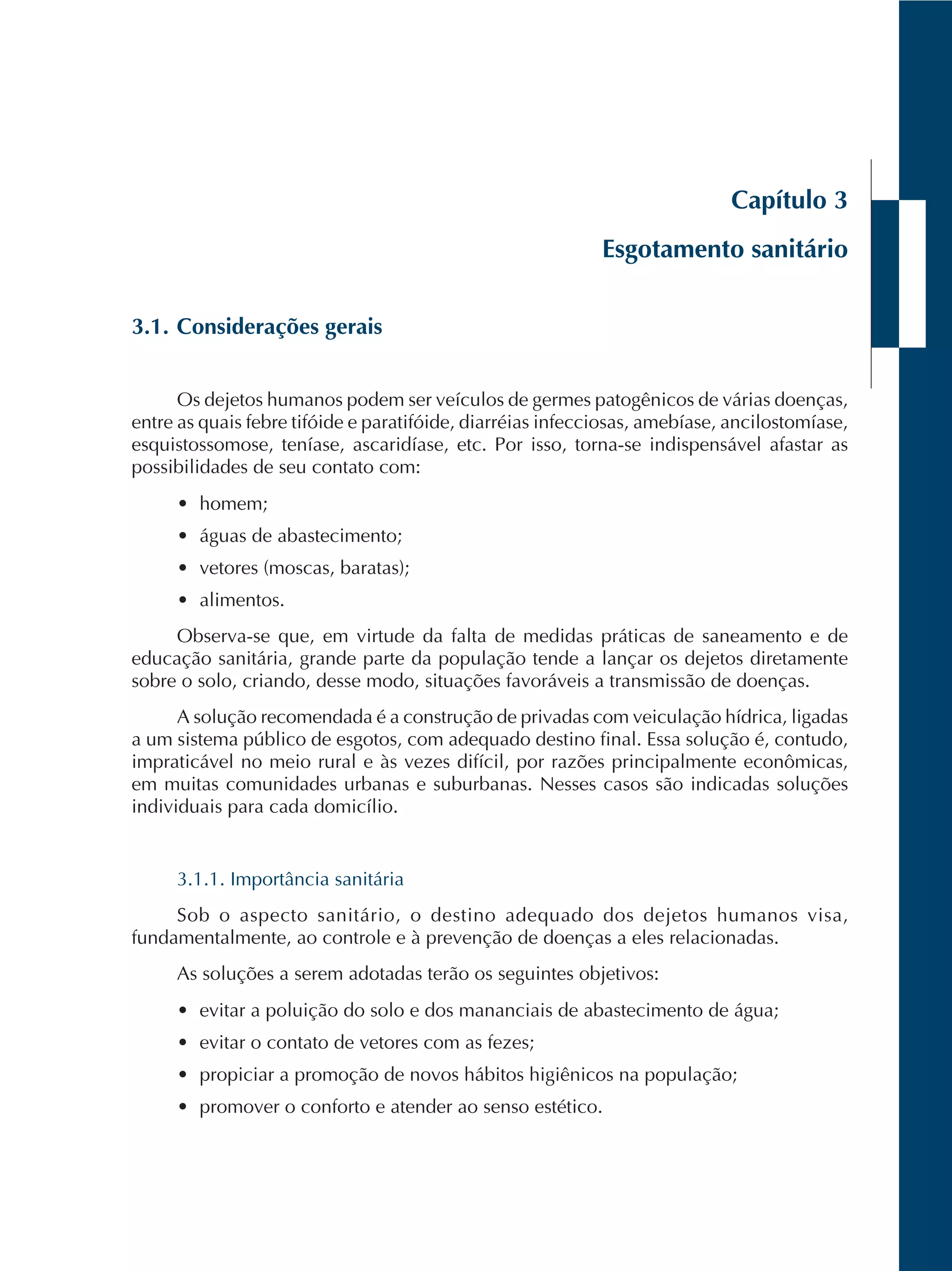
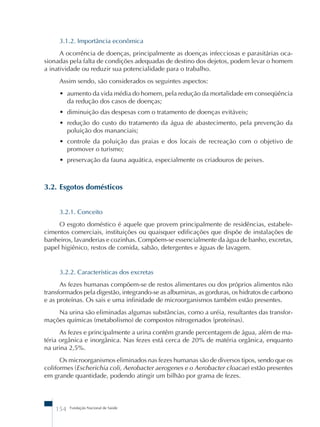
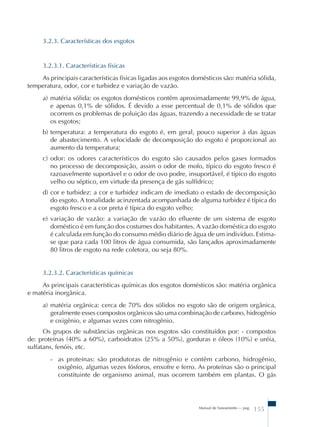
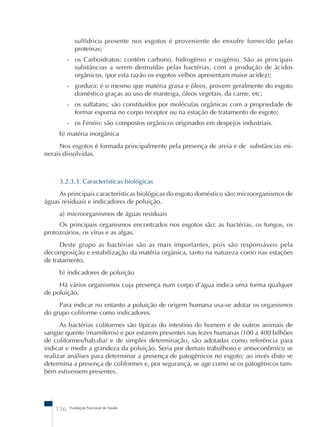
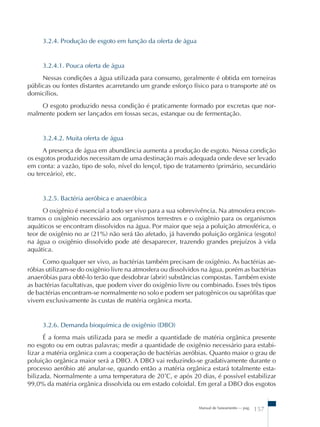
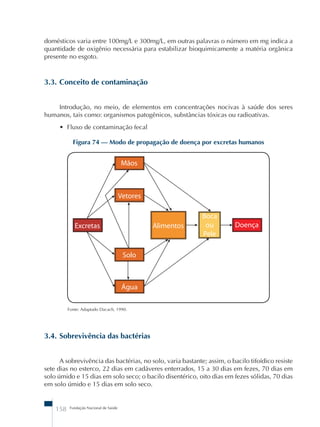
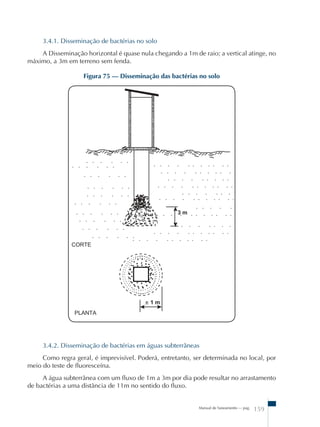
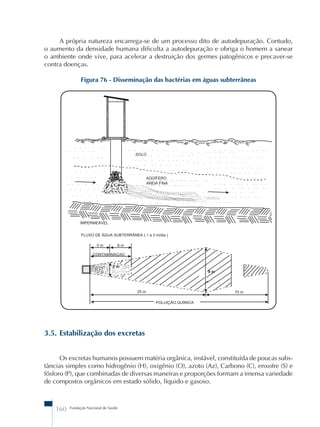
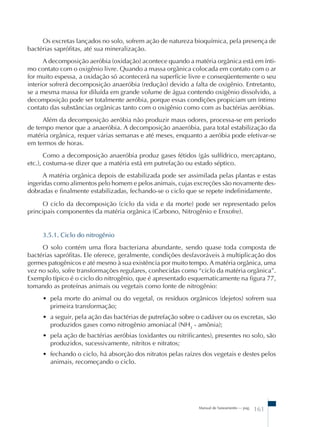

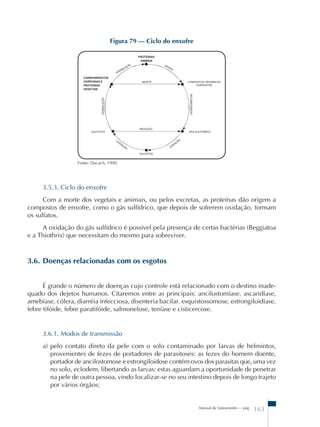
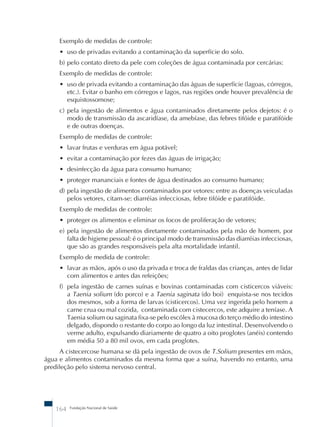

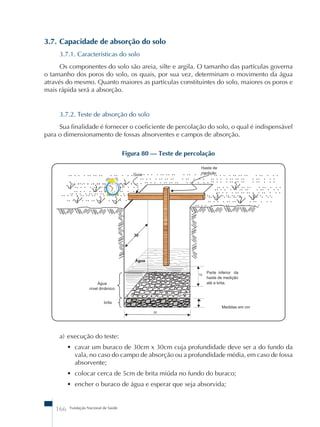


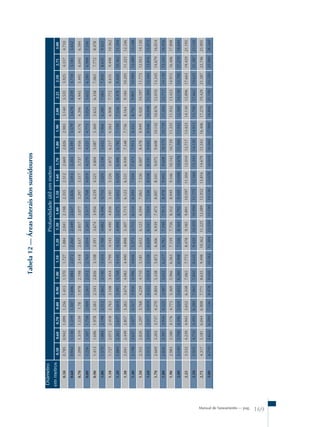
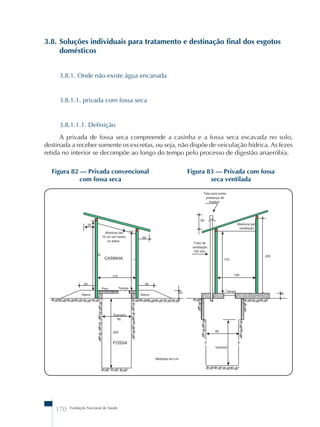
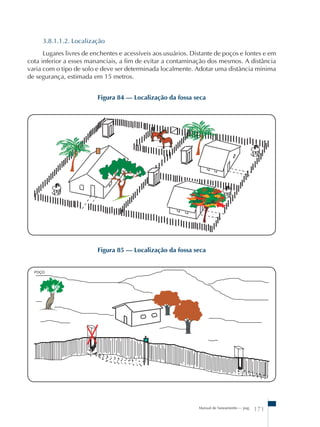
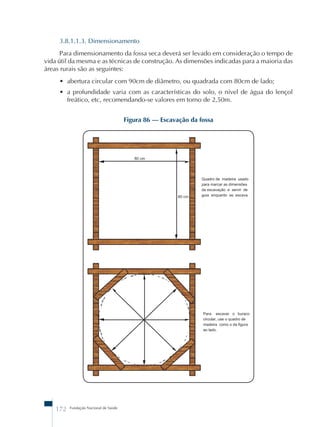
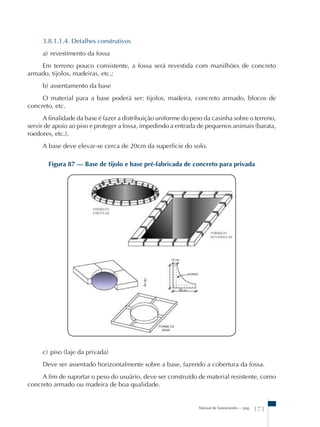
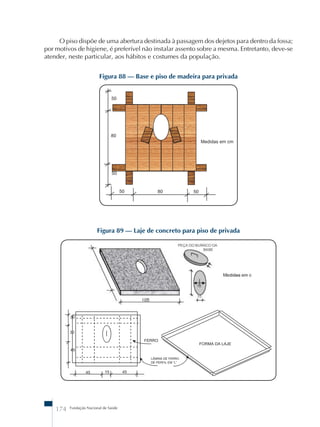
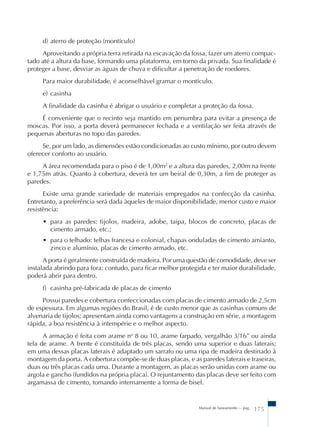
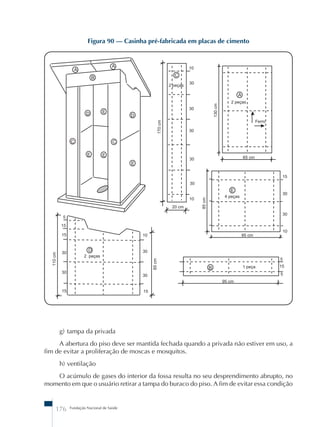

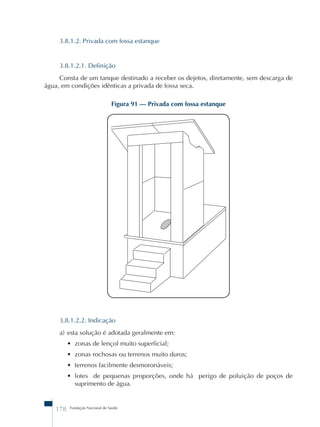
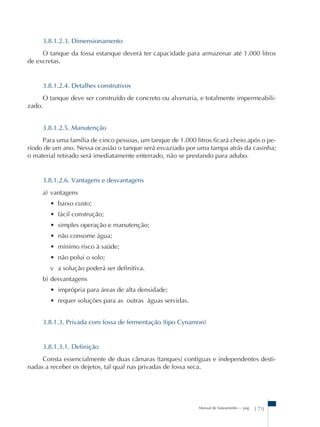
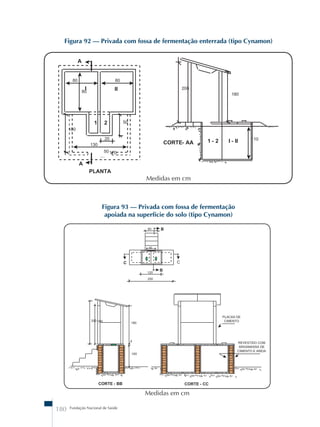
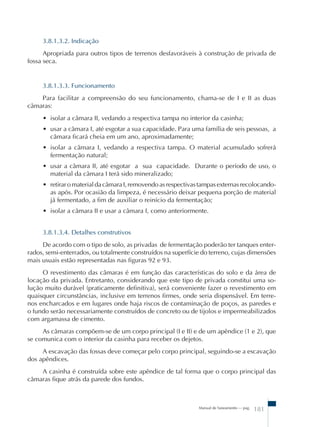
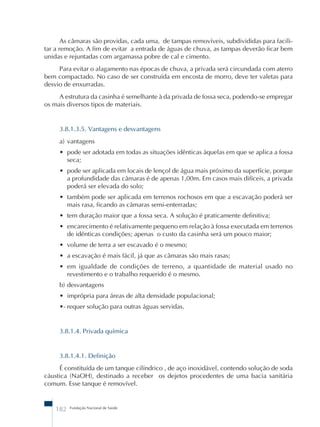
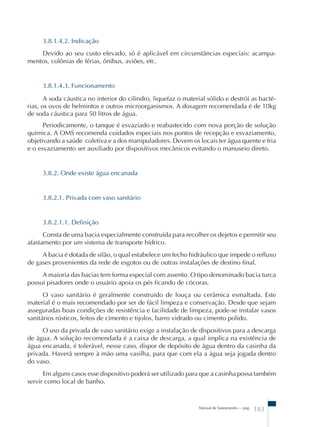
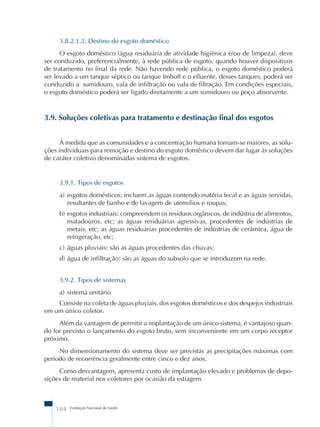
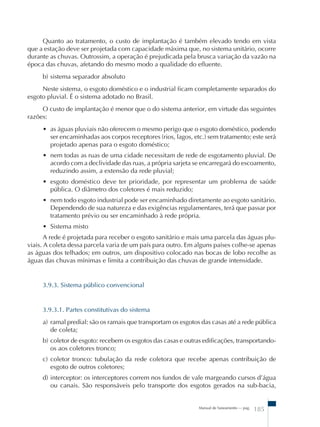

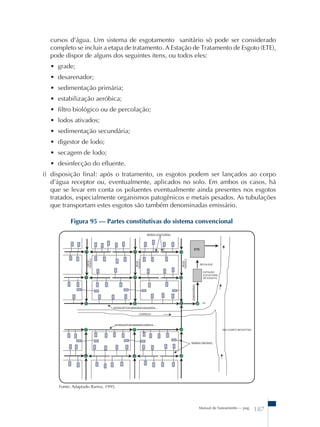
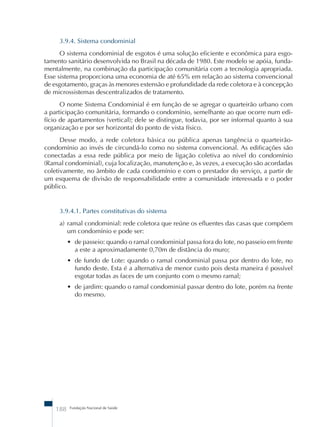

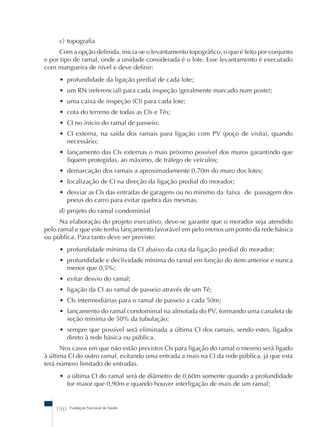
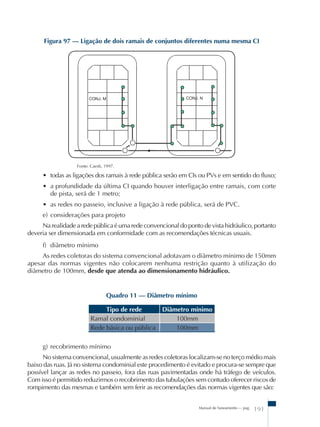
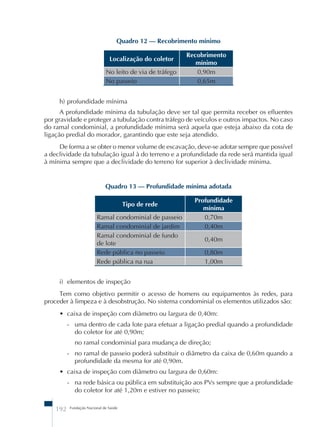
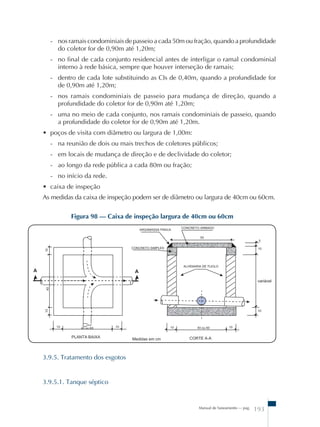
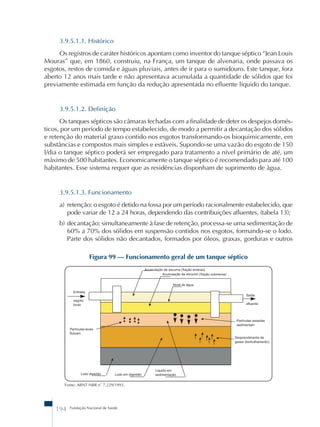
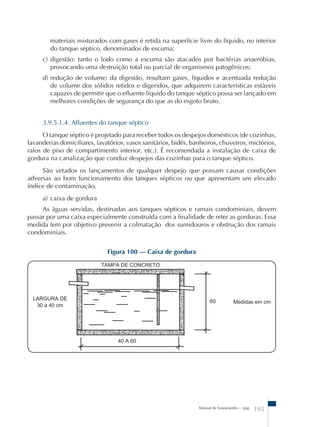

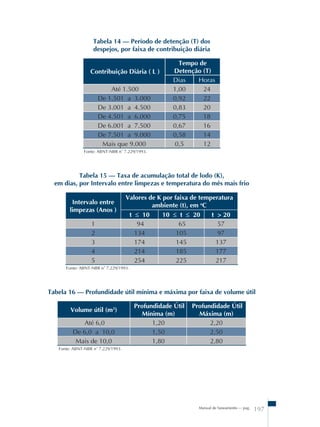
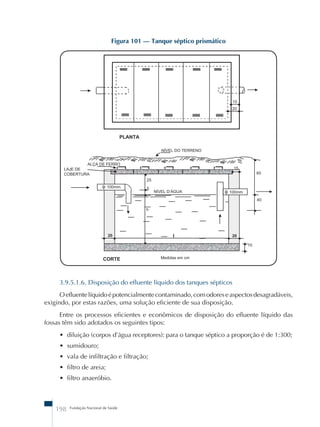
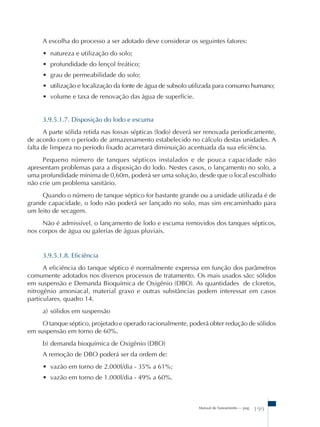
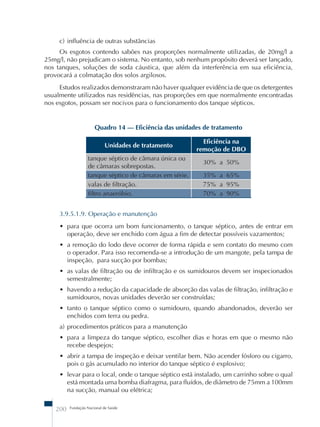
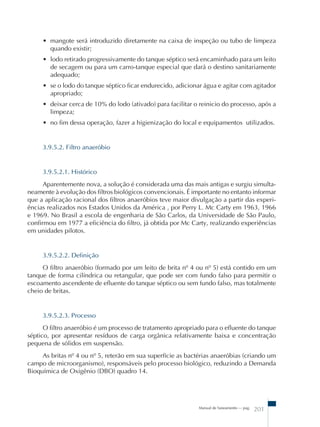

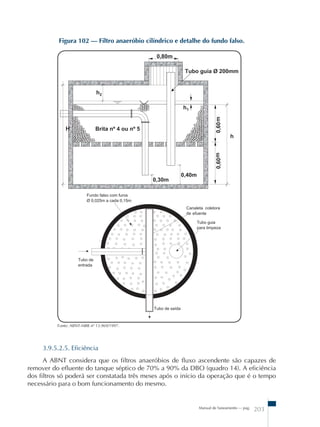
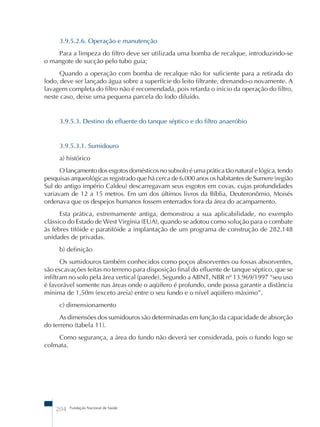

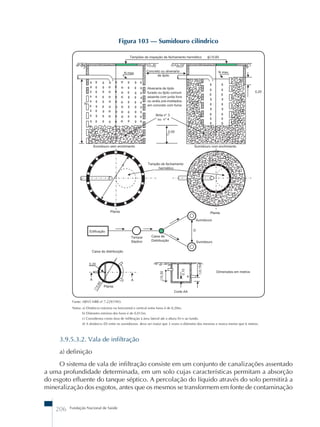


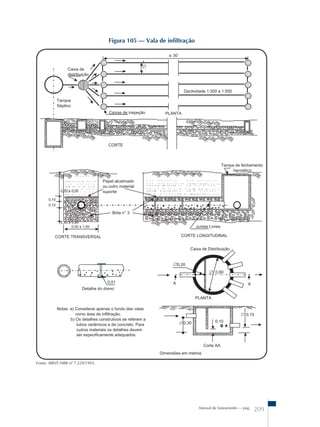
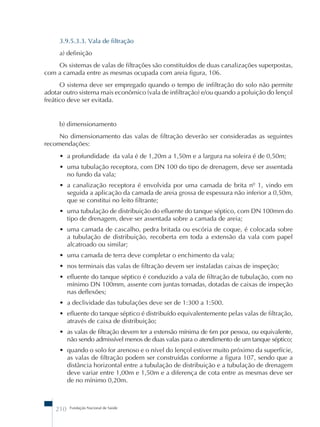
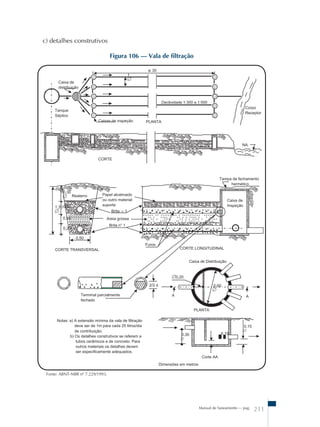
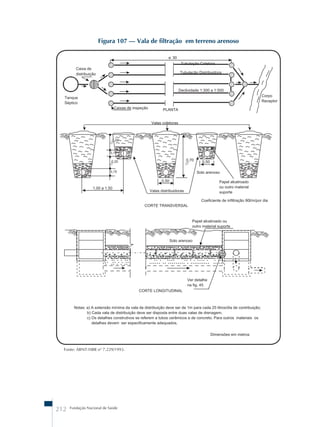
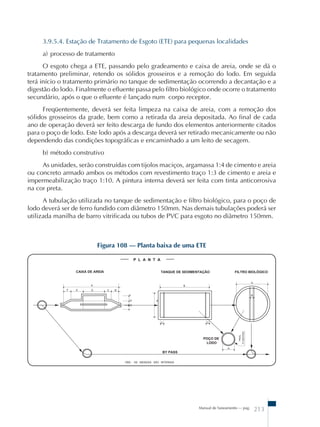
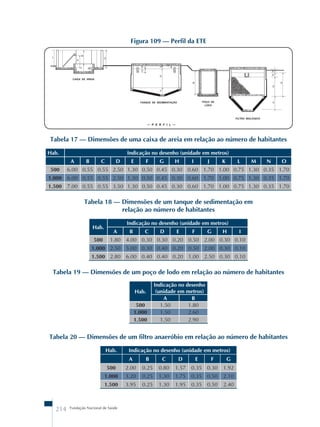
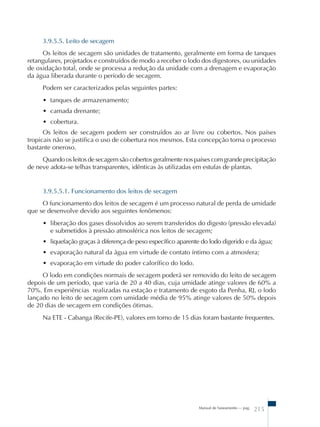
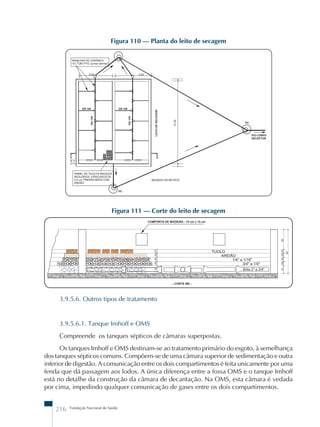
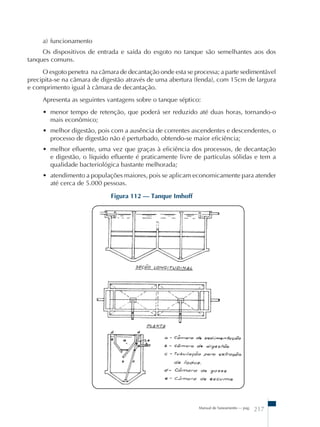

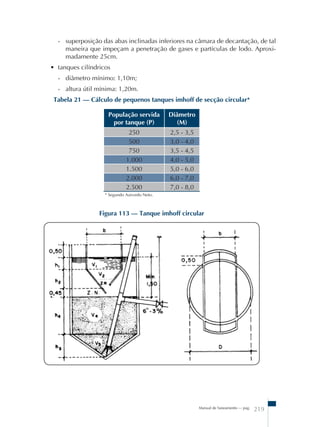


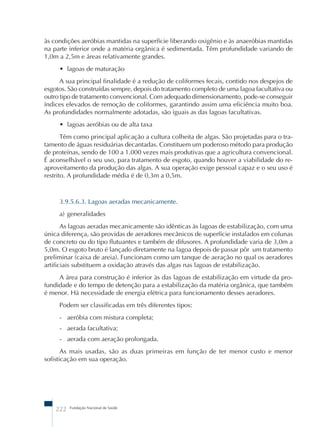

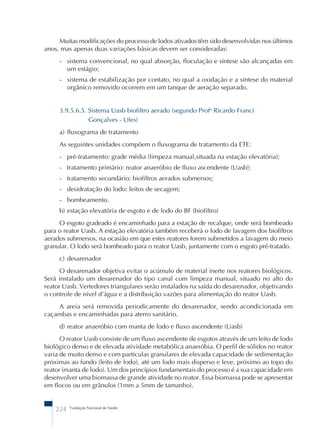
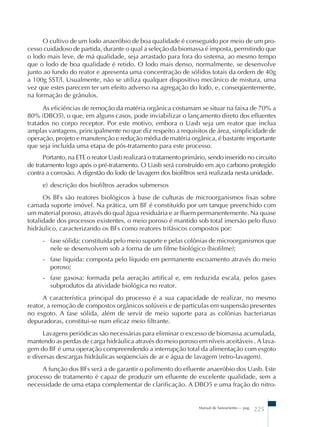
![gênio amoniacal remanescentes dos Uasb serão oxidadas através da grande atividade do
biofilme aeróbio. Em conseqüência da grande concentração de biomassa ativa, os reatores
serão extremamente compactos. Os BFs também serão construídos em aço carbono.
3.10. Referências bibliográficas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto, construção e operação de
sistema de tanques sépticos - NBR 7229. Rio de Janeiro, 1993.
_____ . Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes
líquidos - Projeto, construção e operação - NBR 13969. Rio de Janeiro, 1997.
ASSEMAE. Como fazer saneamento no seu Município. Brasília, 1997.
AZEVEDO NETO, J. M., AMARAL e SILVA, C. C. Sistemas de Esgotos Sanitários. São Paulo
: CETESB, 1982.
BARROS, R. T. V. et al. Saneamento. Belo Horizonte : Escola de Engenharia da UFMG, 1995.
221 p. ( Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios, 2).
BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Projeto para o controle do complexo teníase/
cisticercose no Brasil. Brasília, 1996. 53 p.
CAESB. Relatório técnico/97 : padronização de projetos para sistemas condominiais de
esgotamento sanitário. Brasília, 1997.
CETESB. Fossa séptica. São Paulo, 1990.
_____ . Opções para tratamento de esgotos de pequenas comunidades. São Paulo, 1990.
DACACH, N.G. Saneamento básico. 3. ed. Rio de Janeiro : Editora Didática e Científica,
1990.
FEEMA. Manual do meio ambiente : sistema de licenciamento de atividades poluidoras.
Rio de Janeiro, 1983.
GONÇALVES, R. F. G. Sistema Uasb biofiltro aerado. Vitória : Universidade Federal do
Espírito Santo, 1998.
MENDONÇA, S. R. Tópicos avançados em sistemas de esgoto sanitário. [S.l. : s.n.], 1991.
NISKIER, J., MACINTYRE, J. Instalações hidráulicas prediais e industriais. Rio de Janeiro,
1984.
NETO, C. Apostila do Curso de esgotos com ênfase no sistema condominial. Mimeo.
PESSOA, C., JORDÃO, E. P. Tratamento de esgotos domésticos - vol. 1. 2. ed. Rio de Ja-neiro,
1982.
SISTEMA DE DISPOSIÇÃO LOCAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS. Rio de Janeiro : SUPET : SOSP,
1997.
226 Fundação Nacional de Saúde](https://image.slidesharecdn.com/capitulo3-140829042955-phpapp01/85/Capitulo-3-Esgotamento-sanitario-74-320.jpg)