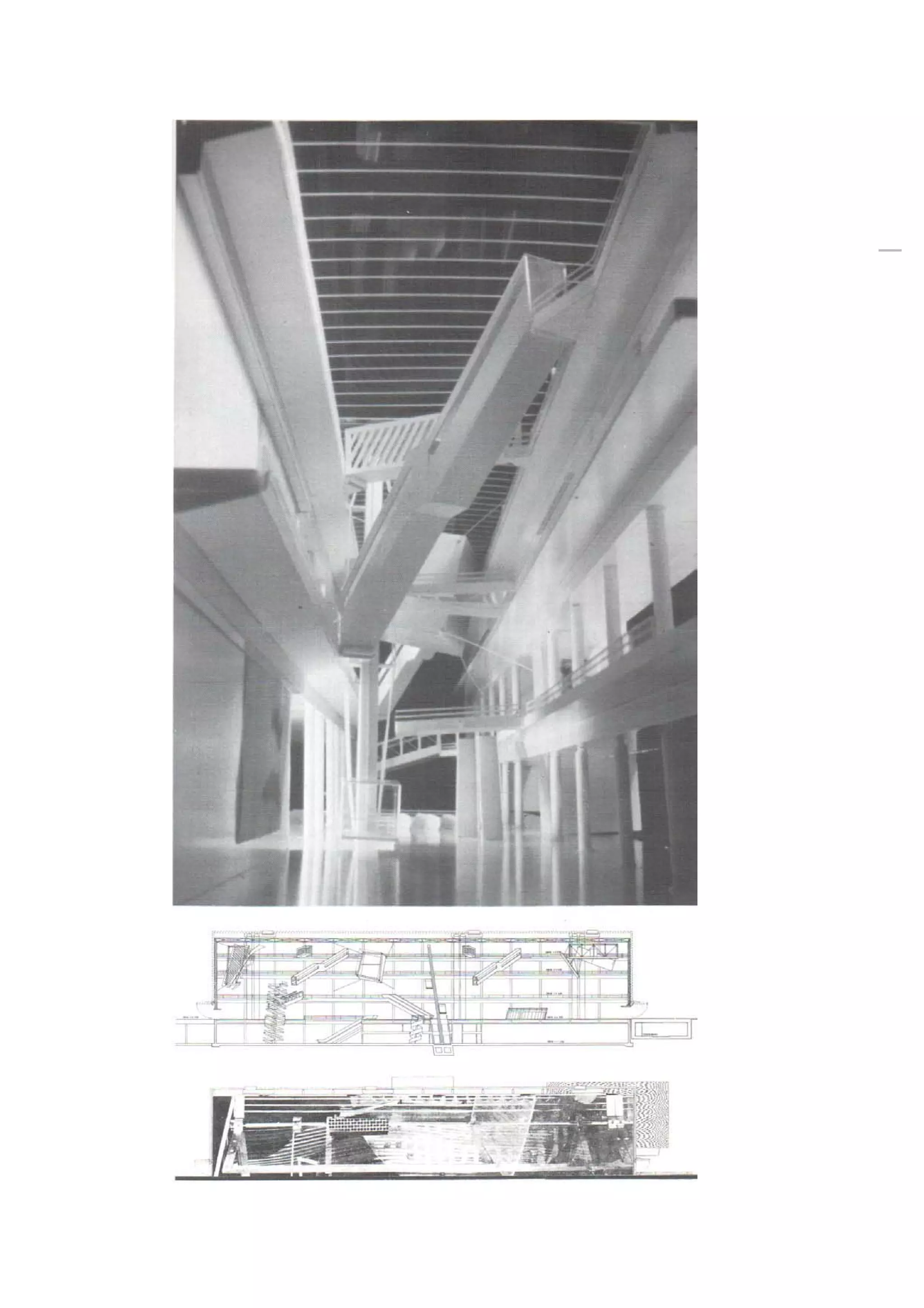1) O documento discute a arquitetura pós-moderna e como ela surgiu como uma reação contra o modernismo, buscando recuperar significados históricos e contextuais na arquitetura.
2) Também aborda como a semiologia e linguística influenciaram estratégias de codificação arquitetônica na época, permitindo que edifícios comunicassem múltiplos sentidos através de suas fachadas.
3) No entanto, critica que as referências históricas na arquitetura