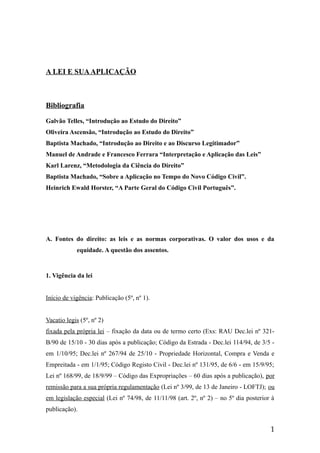
A.aplicacao leis tempo
- 1. A LEI E SUAAPLICAÇÃO Bibliografia Galvão Telles, “Introdução ao Estudo do Direito” Oliveira Ascensão, “Introdução ao Estudo do Direito” Baptista Machado, “Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador” Manuel de Andrade e Francesco Ferrara “Interpretação e Aplicação das Leis” Karl Larenz, “Metodologia da Ciência do Direito” Baptista Machado, “Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil”. Heinrich Ewald Horster, “A Parte Geral do Código Civil Português”. A. Fontes do direito: as leis e as normas corporativas. O valor dos usos e da equidade. A questão dos assentos. 1. Vigência da lei Início de vigência: Publicação (5º, nº 1). Vacatio legis (5º, nº 2) fixada pela própria lei – fixação da data ou de termo certo (Exs: RAU Dec.lei nº 321- B/90 de 15/10 - 30 dias após a publicação; Código da Estrada - Dec.lei 114/94, de 3/5 - em 1/10/95; Dec.lei nº 267/94 de 25/10 - Propriedade Horizontal, Compra e Venda e Empreitada - em 1/1/95; Código Registo Civil - Dec.lei nº 131/95, de 6/6 - em 15/9/95; Lei nº 168/99, de 18/9/99 – Código das Expropriações – 60 dias após a publicação), por remissão para a sua própria regulamentação (Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro - LOFTJ); ou em legislação especial (Lei nº 74/98, de 11/11/98 (art. 2º, nº 2) – no 5º dia posterior à publicação). 1
- 2. A vacatio conta-se desde a data da publicação ou desde a data da publicação ou da data da distribuição, quando esta é posterior ? A Procuradoria Geral da República (BMJ nº 290, pag. 115) concluiu que “existindo discrepância entre a data de um decreto-lei e a do dia em que foi distribuído o Diário da República em que aquele se encontra inserido, pode qualquer interessado ilidir a presunção de coincidência cronológica entre as duas datas, fazendo extrair da prova, com referência à primeira, a consequência da inexistência jurídica do diploma. Na hipótese prevista na conclusão anterior, deve considerar-se que a data de publicação do diploma é a correspondente ao dia em que efectivamente se realizou a distribuição”. Ao contrário, Menezes Cordeiro, considerando a data inserida nos diplomas dotada de fé pública, entende que a vacatio deve contar-se da data oficial e não da data real (Ex: entrada em vigor do RAU, publicado em 15 de Outubro de 1990, mas distribuído em 18). Leis programáticas e leis regulamentadoras (pragmáticas). Cessação da vigência: art. 7º CC - caducidade e revogação são as únicas formas previstas pelo art. 7º, nº 1 CC. Leis de vigência temporária - prazo fixado (em dia certo ou termo certo; certus an mas incertus quando) - caducidade; atenção às leis que se prevê serem revistas, que não cessam a vigência mesmo que tal não aconteça. Leis de vigência indeterminada - revogação: expressa ou tácita - revogação expressa (art. 7º, nº 2) - total (abrogante); parcial (derrogante): Ex. Dec.lei nº 47.344 de 25/10/66 - Código Civil; Dec.lei nº 321-B/90 de 15/10 - art. 1º. revogação tácita: a) incompatibilidade entre a nova lei e a lei antiga (art. 7º, nº 2) - revogação tácita por incompatibilidade. b) regulamentação de toda a matéria da lei anterior (art. 7º, nº 2) - revogação tácita global ou por substituição. 2
- 3. Note-se que, qualquer caso, a lei geral não revoga lei especial (art. 7º, nº 3), salvo inequívoca intenção do legislador. A revogação da lei revogatória não implica repristinação (art. 7º, nº 4). As disposições transitórias. Baptista Machado, pags. 165 e 166. “Outras formas possíveis seriam o desuso e o costume contrário. Já sabemos, porém, que o nosso legislador não quis reconhecer ao costume o valor de fonte de direito. A caducidade stricto sensu dá-se por superveniência de um facto (previsto pela própria lei que se destina a vigência temporária) ou pelo desaparecimento, em termos definitivos. daquela realidade que a lei se destina a regular. É frequente estabelecer-se numa lei que o regime nela estabelecido será revisto dentro de certo prazo. Passado o prazo sem que se verifique a revisão, não cessa a vigência de tal lei por caducidade: ela continua em vigor até à sua substituição. A revogação, essa pressupõe a entrada em vigor de uma nova lei (segundo o nosso legislador). A revogação pode ser expressa ou tácita, total (ab-rogação) ou parcial (derrogação). É expressa quando consta de declaração feita na lei posterior (fica revogado ... ) e tácita quando resulta da incompatibilidade entre as disposições novas e as antigas, ou ainda quando a nova lei regula toda a matéria da lei anterior - substituição global (art. 7º, nº 2). Porém, nos termos do art. 7º, nº 3, a lei geral posterior não revoga a lei especial anterior, salvo se outra for a intenção inequívoca do legislador. Por último, nos termos do art. 7º, nº 4, a revogação da lei revogatória não importa de per si repristinação, isto é, o renascimento da lei anteriormente revogada, salvo se o legislador a repõe em vigor, como já tem sucedido entre nós: então, teremos uma verdadeira repristinação, total ou parcial”. 2. A questão dos assentos Acerca da natureza dos assentos, cfr. Gomes Canotilho (RLJ Ano 124º, pags. 318 a 327, em anotação ao Ac. TC nº 359/91, de 09/07/91, no Processo nº 36/90 – Consultar fotocópia entregue). 3
- 4. O Ac. TC nº 743/96, de 28/5/96 (in DR IS-A, de 18/7/96 – Ler fotocópia entregue) declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do art. 2º do C.Civil, na parte em que atribui aos tribunais competência para fixar doutrina com força obrigatória geral, por violação do disposto no art. 115º, nº 5, da Constituição. Entretanto, o Dec.lei nº 329-A/95, de 12 de Dezembro (art. 4º), revogou o art. 2º do C.Civil. Mas aditou ao CPC os arts. 732º-A e 732º-B, nos quais se instituiu um sistema de julgamento ampliado de revista, ponderando-se que a “usual autoridade e força persuasiva da decisão do STJ, obtida no julgamento ampliado da revista, e equivalente, na prática, à conferida aos actuais acórdãos das secções reunidas, será perfeitamente suficiente para assegurar, em tremo satisfatórios, a desejável unidade da jurisprudência, sem produzir o enquistamento ou cristalização das posições tomadas pelo Supremo”, estabelecendo, ainda, no nº 2 do art. 17º, que “os assentos já proferidos têm o valor dos acórdãos proferidos nos termos dos arts. 732º-A e 732º-B, do C.Proc.Civil”. “A jurisprudência uniformizada não é vinculativa para quaisquer tribunais, mas o seu desrespeito pelas instâncias permite recorrer da respectiva decisão independentemente do valor da causa e da sucumbência da parte” (Teixeira de Sousa, in “Estudos sobre o novo Código de Processo Civil”, pags. 566 e ss.). Veja-se, acerca do actual valor dos assentos, o Ac. STJ de 4/3/97 (CJSTJ Ano V, 1, pag. 117), em cujo sumário se pode ler): “I. O Tribunal Constitucional não definiu a inconstitucionalidade dos assentos, mas apenas do segmento do art. 2º que extravasava da ordem judicial. II. Uniformizar ou fixar jurisprudência tem o mesmo significado na ordem judicial, até revisão de cada assento ou nova uniformização de jurisprudência pelo próprio STJ”. Cfr. Ac. STJ de 27/2/96 (Proc. 87497, 1ª secção): “Os assentos só vinculam os tribunais hierarquicamente subordinados ao STJ, e não este que deve sempre proceder à sua revisibilidade”. Caso típico dos Acórdãos do STJ nº 15/97, de 20/5/97, in DR IS-A, de 4/7/97 - “Terceiros, para efeitos de registo predial, são todos os que, tendo obtido 4
- 5. registo de um direito sobre determinado prédio, veriam esse direito ser arredado por qualquer facto jurídico anterior não registado ou registado anteriormente” e nº 3/99, de 18/5/99, in DR IS, de 10/7/99 – “Terceiros, para efeitos do artigo 5º do Código de Registo Predial, são os adquirentes de boa fé, de um mesmo transmitente comum, de direitos incompatíveis, sobre a mesma coisa”. Crítica ao novo regime pelo Conselheiro Baltazar Coelho (CJSTJ Ano IV, 1, pag. 25). C. A aplicação concreta da lei e o dever de julgar a obrigação de julgar (art. 8º, nº 1) – o crime de denegação da justiça; o non liquet – da importância dos ónus de alegação e de prova. a obrigação de aplicar a lei (art. 8º, nº 2) - a diferença entre os sistemas romanistas e germanistas e anglo-saxónico; a moderna tendência da doutrina germânica: o juiz criador, o desenvolvimento do direito, não imanente à lei, mas superador da lei (Larenz). D. Interpretação da lei o art. 9º CC não abrange a interpretação autêntica, mas unicamente a doutrinária (exemplos de autêntica: Dec.lei nº 379/86 quanto aos contratos-promessa; Lei 24/89 de 1/8 quanto ao art. 1094º do CC; Dec.lei nº 533/99, de 11/12, relativamente ao conceito de terceiro para efeitos de registo – nº 4 do art. 5º do CRP). o caso especial das leis interpretativas por contraposição às inovadoras (ver art. 13º). Critérios de interpretação em teoria: orientação subjectivista - pensamento real do legislador; orientação objectivista - mens legis ou pensamento da lei. Elementos de interpretação: a letra - elemento gramatical; o elemento lógico (mens legis ou espírito da lei): racional (teleológico - a ratio – art. 57º do RAU e anterior art. 980º 5
- 6. CPC), sistemático (a unidade e coerência do sistema) e histórico (fontes da lei, trabalhos preparatórios). A interpretação extensiva, restritiva e analógica (será interpretação ?) A posição do Código Civil Português: 1. O art. 9º não tomou partido na querela (subj/object): de facto, não se refere nem à vontade da lei nem à vontade do legislador (pensamento real) - fala em pensamento legislativo, susceptível de ser tomado em ambos os sentidos (nº 1 e nº 2). 2. não recusa o elemento gramatical, mas define-o apenas como ponto de partida (nº 1); e estabelece-o também como limite à interpretação (o mínimo de correspondência verbal - nº 2); faz, ainda, presumir que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos adequados (nº 3). 3. revela certa cedência ao objectivismo: “o legislador consagrou as soluções mais acertadas” (nº 3) 4. admite um historicismo actualista ou sistema historico-evolucionista (nº 1) - reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo em conta “as circunstâncias em que foi elaborada” e “as condições específicas do tempo em que é aplicada”. 5. não esquece o elemento sistemático: “a unidade do sistema jurídico” (nº 1). 6. As normas excepcionais (art. 11º) E. A integração Diferença entre interpretação e integração: “a interpretação dirige-se à determinação das regras, trabalhada sobre a fonte” – existe lei; “para haver integração tem de se partir da 6
- 7. verificação de que não há nenhuma regra, conclusão esta que pressupõe uma tarefa da interpretação das fontes” - não há lei (Ascensão, pag. 424). A lacuna - falta de previsão ou falta de mera regulamentação (ou porque o legislador não previu ou porque, prevendo, não quis regulamentar: contrato de agência – Dec.lei nº 178/86, de 3 de Julho versus contrato de comissão). art. 10º, nº 1 e 2 - o recurso à analogia. art. 10º, nº 3 - a norma que o intérprete criaria... arbítrio ?: “dentro do espírito do sistema” - a conformidade com o sistema. F. Aplicação no tempo Parecer de Menezes Cordeiro, na CJSTJ, Ano IV, Tomo I, pag. 5 – fotocópia). Exemplos práticos: 1. contrato-promessa com escrito particular (CC 1966); reconhecimento presencial das assinaturas (Dec.lei nº 236/80 de 18/7); 2. o arrendatário não possuía, na redacção do C.Civil, direito de preferência na alienação do arrendado. Passou a tê-la com o Dec.lei nº 63/77, de 25 de Agosto (hoje, art. 47º do RAU). Ac. RE de 12/12/96, in CJ Ano XXI, 5, pag. 281, relativo a imóvel vendido antes da entrada em vigor daquele Dec.lei 63/77). 3. o senhorio, no trespasse, não tinha direito de preferência (CC); agora tem (art. 116º do RAU); 4. o senhorio não podia denunciar o arrendamento para os filhos (CC); agora pode (art. 69º do RAU); cfr. Acórdão TC nº 55/99, de 26/1/99, in DR IS-A, de 19/2/99, que declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação do artigo 168º, nº 1, alínea h), da Constituição (versão de 1989), da norma do artigo 69º, nº 1, alínea a), do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pelo Dec.lei nº 321-B/90, de 7
- 8. 15 de Outubro, na parte em que refere os descendentes em 1º grau do senhorio. A situação foi, entretanto, repristinada pelo Dec.lei nº 329-B/2000, de 22/12/00, que entrou em vigor no prazo de 30 dias. Quid juris quanto às decisões proferidas no prazo de intermediação ? 5. o senhorio não podia denunciar o arrendamento para habitação se o arrendatário lá permanecesse há mais de 20 anos (Lei nº 55/79, de 15 de Setembro); agora são 30 (art. 107º, nº 1, al. b) do RAU) - Acs. STJ de 30/4/96, in CJSTJ Ano IV, 2, pag. e RL de 8/2/96, in CJ Ano XXI, 1, pag. 18. 6. os juros legais eram de 15%, acrescido de 2% para as dívidas comerciais (art. 559º CC e parágrafo 3º do art. 102º do CCom); mais tarde, passaram a ser de 10% e de 15% para as civis e comerciais, respectivamente (Portarias 1171/95 de 25/9 e 1167/95 de 23/9); agora pela Portaria nº 262/99, de 12/4/99, foi fixada a taxa de juros para as empresas comerciais, em 12%, e pela Portaria nº 263/99, de 12/4/99, a taxa de juros legais, supletiva, em 7% (art. 559º CC). 6. o aditamento ao RAU, pelo Dec.lei nº 278/93, de 10 de Agosto, da faculdade de denúncia nos casos de transmissão do arrendamento por morte (art. 89º-A) - Ac. RP de 4/5/95, in CJ Ano XX, 3, pag. 198; Parecer de Menezes Cordeiro, na CJSTJ, Ano IV, Tomo I, pags. 5 a 10 - Consultar fotocópia fornecida). Regra geral: A lei só dispõe para o futuro (princípio da não retroactividade da lei - arts. 12º, nº 1 CC e 29º da Constituição). para o direito penal este princípio é absoluto; para o direito civil é relativo (não está constitucionalmente proibida a retroactividade; pode, no entanto, essa retroactividade resultar inadmissível por violação de qualquer dos direitos e garantias ali consagrados) - cfr. art. 12º, nº 1: “ainda que lhe seja atribuída eficácia retroactiva”. A retroactividade pode ser: a) - de grau máximo (não respeita, sequer, as causae finitae -caso julgado); 8
- 9. b) - de grau acentuado (não respeita os efeitos já produzidos); c) - de grau normal - consagrado na nossa lei (art. 12º, nº 1) - respeita os efeitos produzidos. a teoria dos direitos adquiridos (os direitos adquiridos à sombra de uma lei têm de ser respeitados pelas leis posteriores, que serão retroactivas se procurarem aplicar-se-lhes; sujeitas às leis novas só estarão as meras expectativas) e a doutrina do facto passado (todo o facto jurídico, isto é, todo o facto que produz efeitos jurídicos, ou seja um acontecimento causal ou um acto do homem, é regulado por uma lei, em si e nas suas consequências, e a lei aplicável deve ser sempre a que estava em vigor quando o facto se produziu. Só não será assim se uma nova lei determinar o contrário, mas então ela é retroactiva) - Galvão Telles, pags. 212 e 218. Art. 13º, nº 2 CC: consagra e desenvolve o princípio da retroactividade nos termos da teoria do facto passado. Distingue dois tipos de normas: as que dispõem sobre os requisitos de validade (formal ou substancial) de quaisquer factos ou sobre os efeitos de quaisquer factos (1ª parte) - só se aplicam a factos novos; as que dispõem sobre o conteúdo de certas situações jurídicas e o modelam sem olhar aos factos que a tais situações deram lugar (2ª parte) - aplicam- se às relações jurídicas constituídas antes da lei nova, mas subsistentes à data do início de vigência; um terceiro tipo (implícito) - leis que regulam o conteúdo das relações jurídicas atendendo aos factos que lhe deram origem (sem abstrair desses factos), como por exemplo nos contratos em que as disposições da lei nova tenham natureza supletiva - não se aplicam às situações já constituídas. Resumindo: constituição (lei antiga); conteúdo (lei nova) O estatuto legal e o estatuto contratual: “a lei nova só poderá, sem retroactividade, reger os efeitos futuros dos contratos em curso quando tais efeitos possam dissociar-se do facto da conclusão do contrato” (Baptista Machado, Introdução ... pag. 241) ou seja, “ a aplicação ou não aplicação imediata das disposições da LN ao conteúdo e efeitos dos 9
- 10. contratos anteriores depende fundamentalmente duma qualificação dessas disposições: referirem-se elas a um estatuto legal ou a um estatuto contratual”. Acerca disto, escreve Baptista Machado (Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil – pags. 122 a 124): “De acordo com o exposto, a aplicação ou não aplicação imediata das disposições da LN ao conteúdo e efeitos dos contratos anteriores depende fundamentalmente duma qualificação dessas disposições: referirem-se elas a um estatuto legal ou a um estatuto contratual; ou então, na fórmula do nº 2 do art. 12º do nosso código, depende fundamentalmente do ângulo de incidência dessas disposições sobre as SsJs, visadas nas suas hipóteses legais, isto é, depende da resposta à questão de saber se elas abstraem ou não dos factos constitutivos das mesmas SsJs. Podem, na verdade tais disposições referir-se a contratos e, todavia, não terem a natureza de regras próprias dum estatuto contratual: basta, por exemplo, que não encarem as partes, ou uma das partes, enquanto contratantes, mas enquanto membros de uma determinada classe ou enquanto pessoas que se encontram em dada situação (v. g., como operário e não como contratante, isto é, como simples contraparte num contrato de prestação de serviços). Por outras palavras ainda: a disposição legislativa qualificar-se-á como pertinente a um “estatuto legal”, ou - o que é o mesmo - abstrairá dos factos constitutivos da SJ “contratual” quando for dirigida à tutela dos interesses duma generalidade de pessoas que se achem ou possam vir a achar ligadas por uma certa relação jurídica (p. ex. por uma relação jurídica de trabalho, por uma relação jurídica de arrendamento, etc.) – de modo a poder dizer-se que tal disposição atinge essas pessoas, não enquanto contratantes, mas enquanto pessoas ligadas por certo tipo de vínculo contratual (enquanto patrões e operários, enquanto senhorios e inquilinos, etc.). É igualmente sugestiva, neste contexto, a distinção de AFFOLTER entre relações jurídicas com um conteúdo individualizado (individuellem) - individualizado, isto é, em função dos concretos factos constitutivos - e relações jurídicas com conteúdo tipificado (gatttungsmassigen) - quer dizer, determinado abstraindo dos factos na sua concreta dimensão e sem que possa ser influenciado por esta, a fim de valer da mesma forma para um tipo genérico de factos e situações. Podemos adiantar que as considerações que antecedem são sobretudo pertinentes em relação aos contratos normativos ou contratos ditados (contratos e convenções 10
- 11. colectivos de trabalho, acordos económicos colectivos, etc.). Quanto ao mais, não é possível fixar numa fórmula geral um critério preciso sobre este ponto; tudo depende da interpretação da lei, da sua ratio. Limitar-nos-emos, pois, a acentuar de novo uma ideia que já atrás foi expendida: Há que distinguir entre as normas de direito privado duas grandes classes: a daquelas que se reportam à estruturação básica do sistema jurídico e da ordem social, fixando o estatuto fundamental das pessoas e das coisas, e que, por isso, são de interesse geral; e a daquelas que se referem a SsJs criadas e modeladas pela livre iniciativa dos indivíduos sobre o arcaboiço construído pelas normas daquele primeiro grupo, SsJs estas que não interessam, em regra, senão às próprias partes. Ora, como é fácil de intuir, estas situações ou relações tecidas pela livre iniciativa dos indivíduos hão-de por força sofrer as repercussões das mudanças legislativas que ampliem a esfera de influência daquelas normas primárias ou institucionais. GABBA, colocado do ponto de vista da teoria dos direitos adquiridos, considera com inteira razão que a condição jurídica das pessoas ou das coisas precede toda a noção de direito adquirido e que há elementos gerais do corpo social sobre os quais a acção da LN é imediata, sem que isso implique retroactividade. Ora uma matéria em que o regime contratual de base individualista e o domínio da autonomia privada (num dos seus aspectos, pelo menos: naquele que se refere à liberdade de fixação do conteúdo) sofreram por toda a parte importantíssimas restrições, a ponto de se poder falar hoje num estatuto legal da relação de trabalho e de ser lícito afirmar que, em tal domínio, a lei visa antes regular um estatuto profissional que propriamente um contrato, é justamente a matéria do direito do trabalho. Daí que as leis do trabalho, e designadamente as leis sobre o contrato de trabalho, sejam de aplicação imediata ao conteúdo e efeitos futuros dos contratos anteriores. Assim o entendeu o nosso legislador ao estabelecer no art. 129º da Lei do Contrato Individual de Trabalho (Decreto-Lei nº 47.032, de 27-5-1966) o seguinte preceito: “Ficam sujeitos ao regime estabelecido neste diploma, quer os contratos celebrados depois da sua entrada em vigor, quer os celebrados antes, salvo quanto aos efeitos de factos ou situações totalmente passadas anteriormente àquele momento”. As leis interpretativas (art. 13º). Leis sobre prazos (art. 297º CC). O prazo era, por exemplo, de trinta anos e passou a ser de vinte. Contam-se vinte anos a partir da nova lei. Se, porém, o prazo de trinta anos 11
- 12. terminar antes do novo prazo de vinte, por já terem decorrido mais de dez anos quando a nova lei entrou em vigor, é então aplicável o antigo prazo. Sendo o novo prazo mais longo, é este o prazo relevante, computando-se todo o tempo decorrido (Cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, in C. Civ. Anotado”, 4ª ed., vol. I, pag. 271). G. Os direitos de personalidade (arts. 66º a 81º) Cfr. Capelo de Sousa; Mota Pinto, pag. 206; Horster, pag. 257. Os direitos de personalidade pertencem aos direitos absolutos como direitos de exclusão, oponíveis a todos os terceiros. Estes direitos emanam da própria pessoa cuja protecção visam garantir. Resulta isto do nº 1 do art. 70º CC, que protege os indivíduos - independentemente de culpa - contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral. A protecção assim garantida abrange o homem naquilo que ele é e não naquilo ele tem. Contudo, objecto da respectiva relação jurídica nunca é o indivíduo ou a pessoa ou a sua personalidade, mas sempre o direito de personalidade que incide sobre certas manifestações ou objectivações da mesma. A ideia da protecção da pessoa humana, da sua personalidade e dignidade, encontra expressão jurídica em vários preceitos constitucionais (o art. 1º fala da “dignidade da pessoa humana” como fundamento da sociedade e do Estado; o art. 13º, nº 1, refere-se à igual “dignidade social” dos cidadãos; o art. 24º, nº 1, declara que “a vida humana é inviolável”; o art. 25º garante o “direito à integridade pessoal”; o art. 26º consagra “outros direitos pessoais” que vão do direito à identidade pessoal até à reserva da intimidade da vida privada; o art. 34º assegura a “inviolabilidade do domicílio e da correspondência”; o art. 35º regula a “utilização da informática” em ordem a proteger o cidadão contra os seus abusos). Em sintonia com estes preceitos encontram-se os arts. 70º a 81º CC que transpõem a ideia constitucionalizada da protecção à pessoa humana para o campo do direito civil. 12
- 13. O Código Civil não contém uma definição geral ou uma noção de direito de personalidade (apenas o art. 70º consagra o direito geral de personalidade). Capelo de Sousa define os direitos da personalidade como “os direitos subjectivos, privados, absolutos, gerais, extra-patrimoniais, inatos, perpétuos, intransmissíveis, relativamente indisponíveis, tendo por objecto os bens e as manifestações interiores da pessoa humana, visando tutelar a integridade e o desenvolvimento físico e moral dos indivíduos e obrigando todos os sujeitos de direito a absterem-se de praticar ou de deixar de praticar actos que ilicitamente ofendam ou ameacem ofender a personalidade alheia sem o que incorrerão em responsabilidade civil e/ou na sujeição às providências cíveis adequadas a evitar a ameaça ou a atenuar os efeitos da ofensa cometida”. Esta definição cinge-se aos efeitos civis, sendo certo, porém, que os direitos de personalidade também podem apresentar efeitos fora do âmbito civil. Meios de defesa contra as violações de um direito de personalidade: o art. 70º determina, no seu nº 1, como princípio o de que todo o indivíduo tem o direito de ver protegida a sua personalidade física e moral. Este direito geral de personalidade do art. 70º, nº 1, que visa a realização da autodeterminação e defende contra intervenções ou limitações injustificadas, abrange todos os casos dos direitos de personalidade que não são especialmente protegidos pelos arts. 72º a 80º. Assim, refere-se ao direito à vida, ou seja, o direito de não ser privado da vida contra a vontade, à liberdade e integridade de consciência, à integridade física e psíquica, à liberdade, à honra, à imagem social e de carácter, à saúde e ao repouso, à autodeterminação quanto aos dados pessoais no contexto da informática, à protecção contra a manipulação genética e, por fim, ainda, a uma morte digna. Em caso de violação de um direito de personalidade a solução deve ser procurada primeiro nas regras dos arts. 72º a 80º; só na sua insuficiência se recorre ao direito geral de personalidade do nº 1 do art. 70º. De acordo com a lei, todos estes direitos são protegidos duplamente: - contra qualquer ofensa ilícita. Não é preciso culpa para se poder verificar uma ofensa. Além disso, não é necessária a intenção de prejudicar o ofendido: decisiva é a ofensa em si. Estas soluções, assentes no facto objectivo da violação, compreendem-se perfeitamente, uma vez que a lei pretende a protecção mais ampla possível. 13
- 14. - contra uma ameaça de ofensa, sendo esta ameaça concreta (v. g. hipótese de repetição de uma ofensa já realizada; antecedentes na pessoa do autor da ameaça) e não apenas pensável Tendo ocorrido uma ofensa ilícita ou existindo uma ameaça de ofensa ilícita, a lei admite uma dupla reacção: a) - o nº 2 do art. 70º prevê “as providências adequadas às circunstâncias do caso”. Tais providências, que a lei não especifica deixando-as ao critério do julgador de acordo com o regime do direito em causa, destinam-se, no caso da concretização da ofensa, a atenuar os seus efeitos e, no caso de ameaça de ofensa, a evitar a sua consumação (apenas no art. 75º, nº 2, a lei prevê determinadas providências concretas quanto à manutenção da reserva a respeito do conteúdo de cartas confidenciais); b) - além das providências adequadas poderá haver lugar à responsabilidade civil caso se verifiquem os pressupostos da responsabilidade por factos ilícitos, designadamente a culpa e a existência de um dano (art. 70º, nº 2, em ligação com o art. 483º CC) ou os pressupostos da responsabilidade pelo risco, ou seja, a concretização do risco e a existência de um dano (art. 70º, nº 2, em ligação com o art. 499º CC). As decisões jurisprudenciais mais frequentes versam sobre o direito ao sono, à vida, ao bom nome versus direito à informação e liberdade de imprensa, colisão de direitos (Acs. STJ de 26/4/95, in BMJ 446, pag. 224; e de 9/1/96, in BMJ 453, pag. 417 - fotocópias). A tutela dos direitos de personalidade e seu confronto com as restrições ao direito de propriedade. Direitos de personalidade e tutela dos interesses difusos. O caso da indemnização a familiares de sinistrados em acidente de viação ou de outra natureza (arts. 495º e 496º CC). H. Das coisas 14
- 15. O objecto dos negócios jurídicos: coisas no sentido do art. 202º CC. Classificação das coisas (art. 203º): interesse prático Na distinção entre coisas móveis e imóveis, ter-se-á em conta que os direitos não abrangidos na alínea d) do art. 204º são móveis por força do art. 205º, nº 1. É o caso do direito e acção à herança, o que tem interesse para a graduação de créditos: o crédito por contribuição autárquica, incidente sobre imóveis, não tem privilégio quando penhorado aquele direito à herança. Construções e edificações (BMJ 423, pag. 528); Logradouro - espaço complementar e serventuário de um edifício com o qual constitui uma unidade predial (BMJ 429, pag. 761); Prédio rústico e prédio urbano (BMJ 214, pag.216); noção de terreno para efeito de acessão industrial imobiliária (Ac. RP de 4/3/97, CJ Ano XXII, 2, pag. 177). Coisas compostas (art. 206º) e acessórias (art. 210º); Frutos (212º) - os eucaliptos em formação não constituem fruto, antes integram o capital fundiário, o que releva em caso de expropriação (BMJ 417, pag. 718). Na distinção entre partes integrantes e componentes ver o Ac. STJ de 31/1/96, in DR II S, de 7/6/96 (BMJ 453, pag. 46) - “A cláusula de reserva de propriedade convencionada em contrato de fornecimento e instalação de elevadores em prédios urbanos torna-se ineficaz logo que se concretiza a respectiva instalação” Benfeitorias (art. 216º) - relacionar com art. 1273º para o possuidor e 1046º para o arrendatário. Diferença relativamente à acessão industrial (Ac. STJ de 17/03/98, anotado por Antunes Varela, in RLJ Ano 132, pag. 246). Pelo Assento de 19/4/89, in DR IS-A, de 2/6/89, ficou definido que “são públicos os caminhos que, desde tempos imemoriais, estão no uso directo e imediato do público”. Ainda sobre caminhos e atravessadouros pode ver-se BMJ 422, pag. 355. Sobre baldios, sua natureza jurídica - propriedade colectiva ou de mão comum dos compartes - nulidade do contrato-promessa por impossibilidade legal do objecto (art. 15
- 16. 280º) e conversão do negócio jurídico (art. 293º), cfr. Henrique Mesquita, in RLJ Ano 127º, pag. 310 e ss. Os cemitérios, actualmente sob jurisdição dos municípios e freguesias, são bens do domínio público das autarquias locais. Assim, os direitos dos particulares sobre sepulturas e jazigos dependem de prévia concessão, alvará, ou de uma mera licença, no caso de sepultura temporária, que reveste a natureza de um contrato administrativo e não retira à parcela concedida o carácter de bem do domínio público, insusceptível de posse e de aquisição por usucapião (Ac. RC in CJ Ano XX, 1, pag. 20). 16