1. O documento é uma edição da Revista Jurídica da Presidência, publicação quadrimestral do Centro de Estudos Jurídicos da Presidência.
2. A edição contém 10 artigos acadêmicos revisados por 159 especialistas, abordando diversos temas jurídicos como direito antitruste, direitos humanos e transição de regimes.
3. A revista mantém seu compromisso com a qualidade acadêmica e acesso aberto, divulgando pesquisas jurídicas sobre a atuação do poder públic




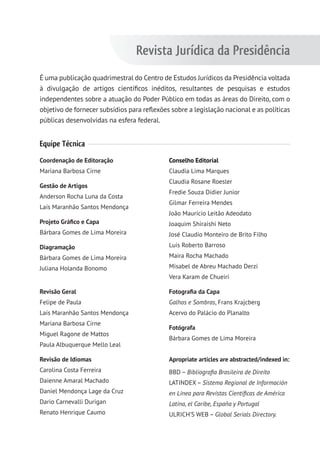





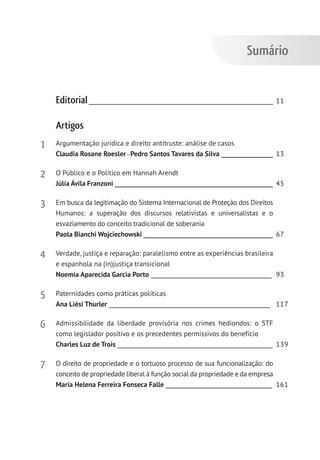

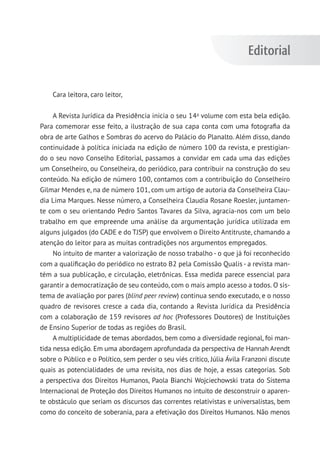
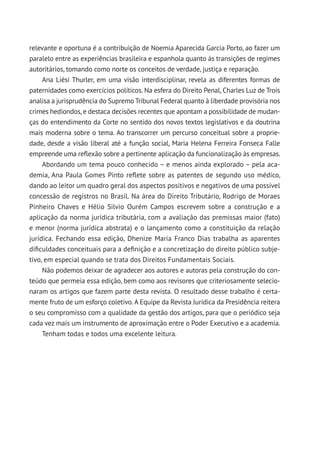


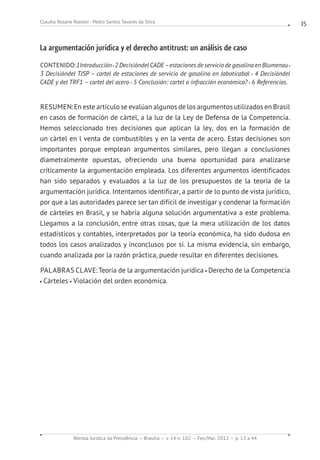

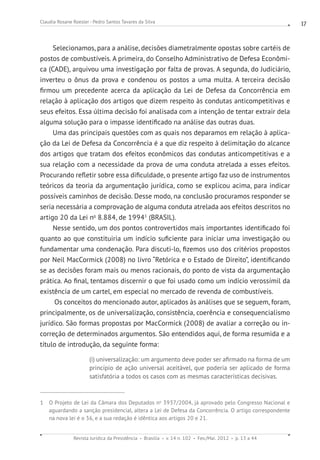
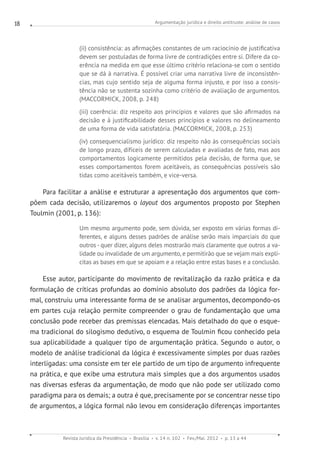

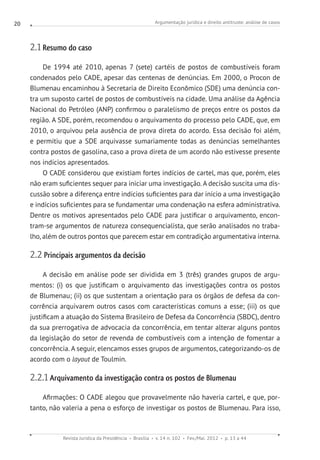
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
Claudia Rosane Roesler - Pedro Santos Tavares da Silva 21
comparou os seguintes dados: de um lado, (i) o paralelismo de preços nos postos
da região e a discrepância de preços com as cidades vizinhas; de outro lado, porém,
(ii) a estrutura de fornecimento de combustíveis vigente no país; (iii) a existência, à
época, de liminares que isentavam algumas distribuidoras do pagamento de alguns
tributos nas cidades vizinhas; (iv) pequenas variações de preços nos postos; (v) lucro
bruto médio dos postos da cidade abaixo da média dos 20% (vinte por cento) nor-
mais nesse mercado.
De posse disso, a decisão aplicou a seguinte garantia aos dados, (que é o raciocí-
nio aplicado à generalidade dos casos de cartel no CADE): “o alinhamento de preços
é um forte indício da existência de um cartel, mas não constitui prova suficiente para
sua caracterização”(BRASIL, 2010). Essa garantia se apoia, pelo lado jurídico, na juris-
prudência do CADE ao interpretar a Lei no
8.884, de 1994, e, pelo lado econômico, no
fato de que, em mercados de concorrência perfeita, os preços seriam também, teorica-
mente, idênticos.Tradicionalmente, preços iguais são considerados como indício clás-
sico de um cartel. No entanto, apesar de ser uma conclusão considerada, ao menos
a priori, contraintuitiva, há mercados competitivos que também apresentam preços
iguais. Aliás, nem tão contraintuitiva assim, já que, em mercados que se aproximam
de estruturas classificadas como de concorrência perfeita, os preços seriam idênticos
(BRASIL, 2010, p. 13). Ou seja: a necessidade de prova ou indício de acordo existe, em
casos de cartel de postos de combustíveis (ou outros com as mesmas características),
para afastar a hipótese do mercado estar próximo da concorrência perfeita.
Podemos concluir que se trata da aplicação de um lugar-comum do direito anti-
truste, o de que não existe ilicitude no mero paralelismo de preços, quando decorrente de
concorrência natural no mercado.
[...] o mero paralelismo de preços entre postos de combustíveis não é sufi-
ciente para punir a conduta. É necessário que outros indícios, preferencial-
mente provas diretas, como atas de reunião com fixação de preço e escutas
telefônicas com autorização judicial, sejam apresentadas para garantir a con-
denação. (COMBATE A CARTÉIS NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, 2009, p. 9)
No mesmo sentido:
Nem toda prática de preços semelhantes é direcionada a restringir a con-
corrência. Ela pode ser, ao contrário, sobretudo em estruturas monopolis-
tas, sintoma de intensa concorrência entre as partes. A lei brasileira con-
firma esse entendimento ao afirmar, logo em seguida, que a prática deve
ser por acordo entre concorrentes. Essa afirmação não constitui uma con-
tradição em termos, exigindo o retorno à noção de acordo expresso para](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-23-320.jpg)
![Argumentação jurídica e direito antitruste: análise de casos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
22
caracterizar a ilicitude. Constitui - isto, sim -um adendo necessário para
deixar claro que a mera semelhança de preços não é indício suficiente para
a ilicitude. (SALOMAO FILHO, 2003, p. 273)
2.2.2 Arquivamento de outros casos de cartéis de postos de gasolina por suposta
concorrência perfeita
Em seguida, a decisão passou a considerar não apenas o fato de que provavel-
mente não haveria um cartel em Blumenau, mas a explicar porque casos como esse
não seriam sequer passíveis de investigação. Os argumentos a seguir analisados fo-
ram usados para sustentar a alegação de que a SDE deveria arquivar denúncias contra
postos de gasolina baseadas apenas em preços semelhantes, reajustes paralelos e preços
mais altos do que os de municípios vizinhos, sem investigá-las.
Os dados utilizados para essa alegação foram: (i) o elevado número de denún-
cias desse tipo, do qual não se tem dados consolidados, mas se sabe que, de 2005
a meados de 2010, foram arquivados pelo SBDC no mínimo 160 (cento e sessenta)
procedimentos resultantes de denúncias de cartéis de combustíveis, sendo que, em
toda a história do CADE, apenas 7 (sete) denúncias desse tipo resultaram em uma
condenação; (ii) tais procedimentos estariam se arrastando por vários anos e esta-
riam consumindo demasiados recursos públicos em termos de tempo, atenção e re-
cursos financeiros; (iii) os procedimentos não estariam resultando em condenações
ou produzindo algum retorno para a coletividade.
Em seguida, para interpretar tais dados, usou-se uma garantia baseada em um
raciocínio alternativo, múltiplo e mutuamente excludente, com três (supostamente
únicas) explicações para esse volume elevado de denúncias e pequeno número de
condenações: (i) a de que a quantidade excessiva de denúncias “mal embasadas” se-
ria reflexo de um problema informacional por parte dos consumidores; (ii) problemas
regulatórios do setor estariam gerando situações lícitas semelhantes às de cartel;
(iii) a proliferação de cartéis no setor seria resultado da impunidade, pela falta de
investigações do SBDC e punições do CADE.
A primeira hipótese do raciocínio da garantia acima foi apoiada com o argumen-
to histórico de que
[...] após um longo período de preços regulados, [o consumidor] espera
uma significativa heterogeneidade de preços dos derivados de petróleo,
entendendo, a partir dessa pretensão, que preços iguais ou mesmo reajus-
tes próximos seriam indícios manifestos de cartel. (BRASIL, 2010, p. 11)](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-24-320.jpg)

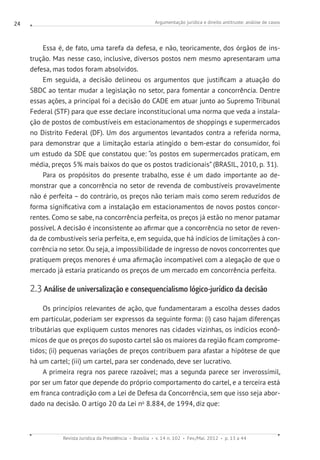
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
Claudia Rosane Roesler - Pedro Santos Tavares da Silva 25
Constituem infração da ordem econômica, independentemente de cul-
pa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: [...]
III - aumentar arbitrariamente os lucros. (BRASIL, 1994, grifo nosso)
A garantia utilizada nesse caso, quando universalizada, também não parece
guardar relação direta com os dados particulares mencionados acima. Ao ser uni-
versalizada, foi criada uma espécie de “anistia aos cartéis” com esse raciocínio:
[...] caso não haja indício, na própria denúncia de formação de cartéis, de
um acordo direto entre concorrentes em um mercado de produtos homo-
gêneos e preços transparentes, essa denúncia não deverá ser investigada.
(BRASIL, 2010)
Um dos problemas nesse raciocínio é que nem todos os autorizados a denunciar
infrações à ordem econômica, tais como associações de consumidores, por exemplo,
possuem poder ou capacidade para coletar esse tipo de prova. Ao realizar esse ra-
ciocínio, o efeito prático foi o de estabelecer uma consequência incompatível com a
legislação, além de inconsistente do ponto de vista interno do raciocínio: seguindo-
-se os parâmetros construídos pelo CADE em seu argumento, a prova necessária
para iniciar a investigação é a mesma necessária para a condenação.
Outro problema com o princípio de ação universal é que ele não é uma formu-
lação abstrata, mas apenas uma generalização das decisões anteriores. Segundo
MacCormick (2008, p. 123):
Um fundamento universalizado de julgamento diz ‘Sempre que ocorrer
c, faça V...’, enquanto um fundamento generalizado não pode nunca dizer
mais do que ‘Frequentemente, se ocorrer c, faça v...’ou talvez‘Quase sempre
que ocorrer c, faça V...’
Ou seja, parece-nos que o entendimento do CADE é uma generalização, e não
um princípio de ação: como frequentemente não há condenações, as denúncias não
devem ser investigadas.
3 Decisão do TJSP – Cartel de Postos de Combustíveis de Jaboticabal
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), ação civil pública no
291.01.2006.000904-
1. Juíza Carmen Silvia Alves, 1ª Vara cumulativa de Jaboticabal (BRASIL, 2008).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-27-320.jpg)
![Argumentação jurídica e direito antitruste: análise de casos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
26
3.1 Resumo do caso
Em fevereiro de 2006, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) ajuizou uma
ação civil pública contra os postos de combustíveis da cidade de Jaboticabal, que,
em 2005, estariam praticando preços muito próximos, os mais altos da região. O
MPSP pediu a aplicação de uma multa e a imposição da obrigação para que os
postos não mais praticassem os referidos preços. Não foi produzida prova direta do
acordo: apenas foi constatado que postos com diferentes custos estariam praticando
os mesmos preços ao consumidor. Em maio de 2008, o pedido foi julgado parcial-
mente procedente, e todos os postos de combustíveis da cidade foram condenados a
pagar, ao fundo de interesses difusos do Estado de São Paulo, uma multa educativa
no valor de 20.000 (vinte mil) reais cada um. As apelações ainda não foram julgadas.
3.2 Principais argumentos da decisão analisada
3.2.1 Da dispensa da prova pericial e da conduta de formação de cartel
A decisão alega que o ônus da prova nesse caso, por envolver a aplicação do
Direito do Consumidor, estaria invertido, ou seja, não seria necessária a realização
de uma perícia econômica por parte da acusação. Assim, os postos deveriam provar
que não estariam causando nenhum dano à economia. Essa alegação parte princi-
palmente dos dados produzidos pelo Procon em forma de planilhas de preços.
Como garantia, a decisão fornece o raciocínio de que a acusação do Ministério
Público de São Paulo e as evidências trazidas já tornariam a acusação de cartel
verossímil, pois seria inverossímil que todas as circunstâncias e os custos de todos
os postos da cidade fossem iguais, resultando em preços iguais. Ou seja, contra o
argumento da defesa, de que seria necessária uma perícia para apurar as diferentes
circunstâncias entre os postos, a decisão forneceu a seguinte garantia:
[...] é justamente porque existem inúmeras variáveis, como custos, circuns-
tâncias de localização, perfil do consumidor, volume de vendas, etc., que não
se admite que os preços praticados em postos diversos sejam os mesmos.
(BRASIL, 2008)
Resumidamente, esse argumento da decisão se traduz no raciocínio universa-
lizável que diz: “a perícia deve ser produzida, a menos que seja demasiadamente
onerosa e não seja um fator determinante na elucidação do caso”.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-28-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
Claudia Rosane Roesler - Pedro Santos Tavares da Silva 27
A principal alegação da decisão, portanto, é a existência de cartel de postos
de gasolina. Baseado nos dados de paralelismo de preços comparados aos custos
diferentes entre os postos, concluiu-se que a única forma em que postos com custos
muito diferentes poderiam praticar preços semelhantes seria por meio de um acor-
do, explícito ou implícito:
[...] não é possível que revendedores que adquirem os combustíveis e insu-
mos a preços diferentes, têm custos e obrigações distintas, estão em fases
distintas de desenvolvimento e aprimoramento dos serviços, possam ven-
der o produto ao consumidor a preço idêntico. (BRASIL, 2008)
3.3 Refutações
Em seguida, a decisão desenvolve o que apresentaremos como condições de
refutação às objeções probatórias mais comuns em casos de cartel. Elas serão apre-
sentadas aqui, a título de ilustração, na forma de princípios gerais de ação, em refu-
tação às formulações correspondentes observadas nos casos julgados pelo CADE e
analisados nesse trabalho.
3.3.1 Indício de acordo
No presente caso, quanto à prova de acordo expresso, entendeu-se que:
É certo que não há prova de acordo expresso, como gravações de conversas
telefônicas ou de reuniões para combinação de preços. Todavia, esta prova
específica é difícil de ser produzida, principalmente no caso em questão, no
qual, ao que parece, não havia um líder atuando em coordenação ao cartel
[...] No caso ora tratado, não seria possível monitorar conversas entre proprie-
tários de vinte (20) postos de gasolina. (BRASIL, 2008, grifo nosso)
Ou seja, se fossemos redigir esse argumento na forma de um princípio relevante de
ação universalmente afirmado, como uma refutação ao afirmado pelo CADE, diríamos
que “caso não haja indício, na própria denúncia de formação de cartéis, de um acordo
direto entre concorrentes no setor de postos de combustíveis, essa denúncia não deve-
rá ser investigada e não poderá resultar em condenação, a menos que seja impossível
produzir tal prova”.
Esse raciocínio não está distante do que aparece na condenação do cartel do
aço, que analisaremos posteriormente. É necessário um indício de que o acordo
ocorreu, e não necessariamente uma gravação direta ou uma confissão:](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-29-320.jpg)
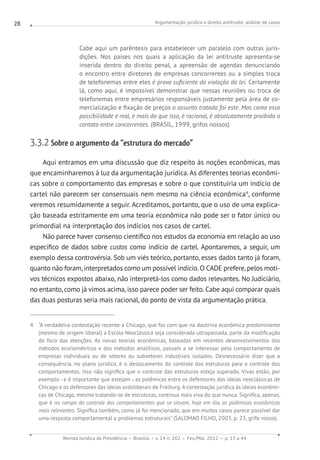
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
Claudia Rosane Roesler - Pedro Santos Tavares da Silva 29
Entendemos que, por se tratar de um assunto dentro do contexto do contingente
(aquilo que pode ou não pode ser) e não do necessário (aquilo que necessariamente é
ou não), a comprovação da existência ou não de um cartel não precisa ser feita, ape-
nas e tão somente, da mesma forma que se comprova uma teoria científica das ciên-
cias naturais ou exatas: ela também pode ser feita por meio de regras da experiência,
verossimilhança da narrativa acusatória, coerência e racionalidade argumentativa. Ou
seja, mesmo que na ciência econômica ainda não haja consenso teórico sobre o uso de
determinado dado para a comprovação de um cartel, isso não impede o juiz de usá-lo.
Aliás, mesmo que houvesse um consenso científico de que determinado dado não
pode ser, teoricamente, usado como um indício de cartel, ainda assim o juiz não estaria
impedido de utilizar-se dele racionalmente – deverá fazê-lo se o caso particular anali-
sado não possuir as mesmas características dos estudados pelos economistas.
A decisão do CADE frequentemente recorre a estudos econômicos para apoiar os
seus raciocínios. Ou seja, ela utiliza como premissas diversas conclusões de estudos
acadêmicos que não estão sujeitos ao debate dentro do discurso jurídico, mas que,
não obstante, também não são axiomas econômicos: são temas postos em debate
pela comunidade acadêmica, fora do alcance da argumentação jurídica. Não se trata,
a seguir, da análise de uma perícia econômica, mas do uso de determinados estudos,
ainda teóricos, para se chegar a conclusões práticas.
3.3.2.1 Análise do argumento da “estrutura do mercado” proposto pelo CADE
No caso dos postos de combustíveis de Blumenau, a “estrutura de fornecimen-
to de combustíveis vigente no país” serviu como argumento contra a condenação
dos postos. O apoio desse raciocínio é, basicamente, o fato de que esse setor pos-
sui produtos homogêneos e preços transparentes. Essas características econômicas
criariam a necessidade da produção de outros indícios, além da demonstração do
paralelismo de preços, para a condenação dos postos5
.
Esse raciocínio não é diferente do apresentado no caso de Jaboticabal. A prin-
cipal diferença da decisão do interior de São Paulo é o fato de que nessa os dados
5 O documento de trabalho no
40 da SEAE/MF foi amplamente referenciado na decisão sobre os postos
de Blumenau. Os pontos que consideramos mais relevantes para o tópico “custos” foram aqui citados.
Segundo o Conselheiro Ragazzo, relator da decisão dos postos de Blumenau, e autor desse documen-
to de trabalho, “[...] a homogeneidade de preços comumente verificada na revenda de combustíveis
pode ter outras explicações perfeitamente críveis e que, por isso, não pode ser tomada como indício
suficiente de um cartel, não prescindindo de outros elementos a demonstrar a existência de colusão para
motivar uma investigação” (RAGAZZO; DA SILVA, 2006, p. 11, grifo nosso).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-31-320.jpg)
![Argumentação jurídica e direito antitruste: análise de casos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
30
referentes aos custos foram interpretados como sendo um“outro elemento a demons-
trar a colusão”. No CADE, o custo diferente de aquisição dos produtos é uma variável
que é, pelo menos nas decisões analisadas nesse trabalho, largamente ignorada
como um indício de acordo. Analisaremos os motivos técnicos para isso a seguir.
No documento de trabalho no
40 da SEAE/MF, citando estudo realizado por
Nunes Gomes, que analisaram o mercado de revenda de combustíveis no interior
de São Paulo, Ragazzo afirma que “no ver desse autor, mesmo que os postos tenham
custos iguais entre si, a variabilidade dos preços de revenda deveria ser, no mínimo, igual
à verificada no atacado”(RAGAZZO; SILVA, 2006, p. 31, grifo nosso).
E, nas palavras dos autores mencionados acima, para esclarecer:
[...] em outras palavras, a variabilidade dos preços de varejo deve ser maior
que a variabilidade dos preços de atacado. Mesmo que os postos tenham
estruturas de custos iguais, no mínimo seus preços devem ter variabilidade
igual à do atacado. (NUNES; GOMES, 2005, p. 9)
O estudo de Nunes Gomes, que considera os custos dos postos como um
possível indício (de forma semelhante à juíza de Jaboticabal) foi afastado nas con-
clusões do documento de trabalho da Secretaria de Acompanhamento Econômico
(SEAE), principalmente ao ser confrontado com outro estudo6
, de Matthew Lewis,
que, ao analisar o mercado de revenda de combustíveis de San Diego, nos EUA,
demonstra, pela leitura de Ragazzo, essencialmente que
[...] não se poderia usar o argumento de que uma suposta heterogeneidade
entre os revendedores de combustíveis e uma suposta lealdade à bandeira
justificaria uma grande diferenciação nos preços de revenda. (RAGAZZO;
SILVA, 2006, p. 20)
O estudo de Matthew Lewis diz que revendedores heterogêneos (ou seja, com
custos e produtos diferentes) não necessariamente geram preços diferentes ao con-
sumidor. É o raciocino que dá apoio ao que vimos no caso de Blumenau, de que os
preços semelhantes podem ser tanto um indício de cartel quanto de competição.
Além disso, nada garante que essas conclusões não sejam fruto das particularidades
6 O documento também cita o fato de que alguns postos de bandeiras específicas que recebem inves-
timentos das distribuidoras pagam esses investimentos por meio de preços mais elevados do que
o normal na aquisição de combustível, explicando, assim, a heterogeneidade dos preços de compra
dos combustíveis pelos postos. Ora, acreditamos que esse fato é demasiadamente particular para ser
generalizado em todos os casos de cartel. Ele pode ser um argumento da defesa nos casos particu-
lares em que isso de fato ocorrer, mas usá-lo para justificar a não investigação de todas as denúncias
fundadas em paralelismo de preços nos parece incorreto.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-32-320.jpg)
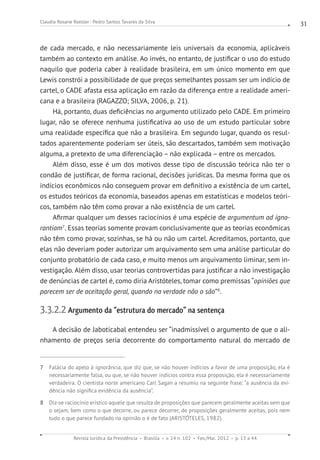
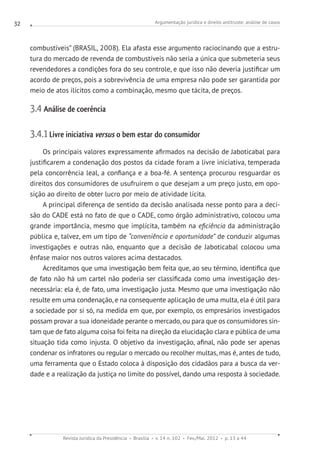
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
Claudia Rosane Roesler - Pedro Santos Tavares da Silva 33
3.4.2 Fiscalização e sanção versus Regulação
Um dos pedidos do Ministério Público na ação civil pública em análise foi o de
impor uma obrigação de reduzir os preços dos combustíveis aos postos, de forma
semelhante a um termo de ajustamento de conduta (TAC). Uma crítica comumente
feita pelo SBDC ao Ministério Público (MP) é justamente o fato de que o MP por ve-
zes gera outras distorções ao utilizar esse tipo de instrumento para tentar regular o
mercado, atitude que engessaria a concorrência.
A crítica do SBDC não se limita aos TACs, mas se estende às ações civis públicas
em geral, que, segundo a SDE, conforme sua cartilha institucional, possuiriam, em
relação ao procedimento administrativo, apenas uma função secundária no combate
aos cartéis9
.
Ora, não foi o que aconteceu em Jaboticabal. Não foi firmado TAC com os postos
da cidade, e a sentença se limitou a aplicar uma multa de caráter pedagógico, com
uma clara função punitiva – não impôs obrigação aos postos. Além disso, as notícias
da cidade parecem indicar que, de fato, houve a entrada de um novo concorrente no
mercado, e que os preços dos combustíveis em Jaboticabal são agora os menores
da região: “O valor do combustível em Jaboticabal segue abaixo das demais cidades da
região após a abertura de um novo empreendimento [...]” (TRIBUNA REGIÃO, 2011). É
claro, esse fato talvez não tenha relação com a condenação em análise. Acreditamos,
no entanto, que ele é, no mínimo, um fator interessante a ser considerado em futuras
tentativas de replicação desse tipo de argumentação em outros municípios: o fato
é que esse tipo de iniciativa parece já ter alcançado o objetivo a que se propunha,
sem precisar interferir no mercado por meio de TAC.
4 Decisão do CADE e do TRF1 - Cartel do Aço
CADE. Processo administrativo no
08000.015337/1997-48, julgado em 27/10/1999,
Conselheiro Relator: Ruy Afonso de Santacruz Lima e Tribunal Regional Federal da
1a
Região (TRF1). Apelação Cível no
8688.20.00.401340-0/DF, Sétima Turma, julgado
9 “O Poder Judiciário tem apontado acertadamente que não se combate cartéis por meio de TACs ou se
investiga tais práticas por meio de Ação Civil Pública, pois estes não possuem os efeitos dissuasórios
e os meios de prova de uma investigação criminal e acabam sustentando preços acima dos que vige-
riam se estivéssemos diante do livre mercado. Por outro lado, a Ação Civil Pública, após identificado
e punido administrativa ou criminalmente um cartel, possui papel fundamental na recomposição dos
danos sofridos individualmente e pela coletividade durante a atuação do cartel”(COMBATE A CARTÉIS
NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, 2009, p. 25).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-35-320.jpg)
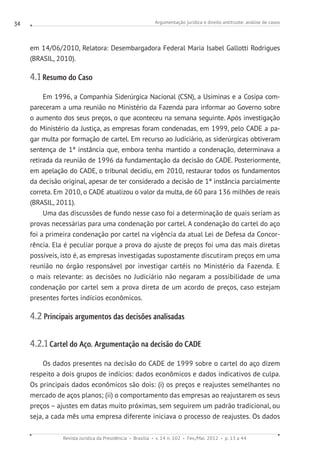
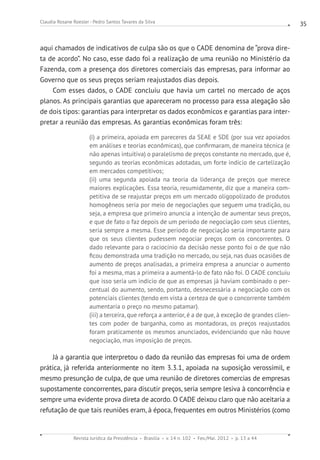
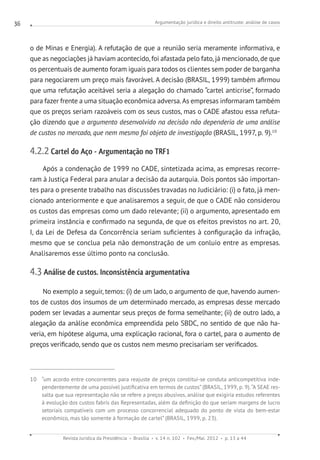
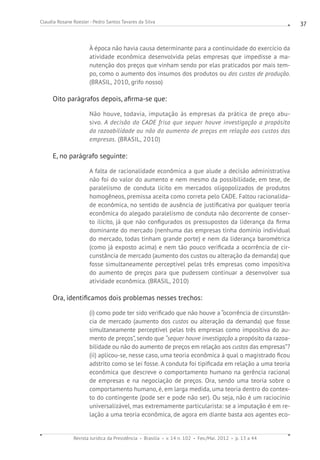
![Argumentação jurídica e direito antitruste: análise de casos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
38
nômicos emularem o comportamento descrito pela teoria da liderança de
preços. Isso porque o fator determinante na condenação foi o fato de que
uma empresa aumentou os seus preços antes que a suposta líder o tivesse
feito. Nada impede que, cientes desse raciocínio, os próximos cartéis emu-
lem o comportamento tido como “racional” pela teoria econômica adotada.
A decisão, no que diz respeito a esse fundamento, merece a mesma apreciação
dada por MacCormick à célebre decisão do Rei Salomão de ordenar que a criança em
disputa por duas mães fosse dividida pelo fio da espada (sabendo que a verdadeira
mãe se oporia a isso), mas, em nenhum dos dois casos, a decisão poderia ser replica-
da: as próximas mães em litígio saberiam como reagir diante da provocação do rei.
É o requisito da universalização, descrito por MacCormick, que falta nesse tipo de
decisão, e que a torna menos racional (MACCORMICK, 2008, pp. 103-133).
5 Conclusão: cartel ou infração à ordem econômica?
A seguir, procuramos desenvolver uma reflexão sobre as dificuldades identifica-
das acima quanto à prova da existência de um cartel, tomando como base a análise
específica dos argumentos das decisões aqui tematizadas.
No caso do cartel do aço, na decisão do recurso contra a decisão da primeira
instância da Justiça Federal, a reunião feita no Ministério da Fazenda não foi consi-
derada como um indício de acordo, mas, apesar disso, a condenação foi mantida. As
empresas recorreram novamente, sustentando
[...] não ser possível a configuração de infração à ordem econômica pela
simples materialização de um dos efeitos previstos no art. 20, sendo ne-
cessário que tais efeitos decorram de alguma das condutas descritas no art.
21, da Lei 8.884/94. (BRASIL, 2010)
O artigo 21 da Lei de Defesa da Concorrência descreve as condutas anticompe-
titivas que são passíveis de sanção. Dentre elas, está a conduta de “fixar ou praticar,
em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de
bens ou de prestação de serviços” (BRASIL, 1994). Porém, elas somente serão enten-
didas como infração à ordem econômica se os efeitos descritos no artigo 20 forem
identificados:
Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os
atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam
produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-40-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
Claudia Rosane Roesler - Pedro Santos Tavares da Silva 39
I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre a concorrência ou
a livre iniciativa;
II – dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III – aumentar arbitrariamente os lucros;
IV – exercer de forma abusiva posição dominante. (BRASIL, 1994)
O contrário não é verdadeiro: presentes os efeitos do artigo 20, não é necessá-
ria a demonstração das condutas do 2111
. Foi isso que entendeu o TRF1 na decisão
analisada acima, quando, ao responder aos argumentos da recorrente, que pleiteava
a anulação da sentença que se baseou apenas na condenação por efeitos (afastada
a prova do acordo), disse (e repetiu diversas vezes) que “[é] possível, portanto, haver
infração à ordem econômica pela simples caracterização dos resultados descritos no art.
20, da Lei 8.884/94” (BRASIL, 2010).
Digamos que o caso de Jaboticabal tivesse sido decidido pelo CADE. Ora, os
indícios constantes nessa denúncia eram apenas em relação ao paralelismo dos
preços e a sua notável diferença com outros municípios – justamente as caracterís-
ticas que, de acordo com o CADE no caso dos postos de Blumenau, devem motivar o
arquivamento das investigações pelo SBDC. Ou seja, o cartel não teria sido punido
(partindo da premissa que a decisão da juíza foi acertada).
Ora, em tese, se existem fortes indícios de um cartel, é possível que esses preços
estejam causando danos à economia e à concorrência (causando os efeitos descritos
no artigo 20 da Lei de Defesa da Concorrência) – principalmente quando se trata de
combustíveis, produto essencial que influencia praticamente todos os outros preços
na economia. Porém, aparentemente, existem apenas duas opções atualmente no âm-
bito do SBDC para lidar com esses preços tidos como injustos: (i) aceitar condenações
de postos somente pela tipificação “prática de cartel” (o que, de fato, no CADE, exige
uma prova mais robusta), e isso exigiria uma intensificação das investigações (hipóte-
se que parece ser, de acordo com o CADE, demasiadamente custosa para a administra-
ção pública); ou (ii) criar, pela jurisprudência, uma nova infração chamada“paralelismo
de preços” – hipótese também vedada, já que é certo que essas coincidências nos
preços podem acontecer pela competição natural do mercado, além disso ser a própria
definição de um ilícito per se, que não é aceito no ordenamento jurídico brasileiro.
11 É perfeitamente possível, pois, dentro do sistema estabelecido pela Lei no
8.884, de 1994, que se
verifique algum acordo previsto no art. 21 sem que haja infração à ordem econômica. Basta, para
tanto, que não se dê a incidência de qualquer dos incisos do art. 20. Da mesma forma, um ato não
tipificado no referido art. 21 poderá ser ilícito se tiver por objeto ou produzir efeito previsto no art.
20 (FORGIONI, 1998, p. 328).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-41-320.jpg)
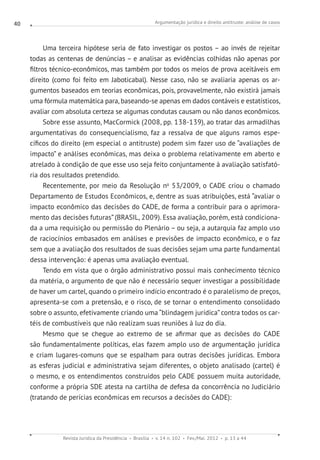
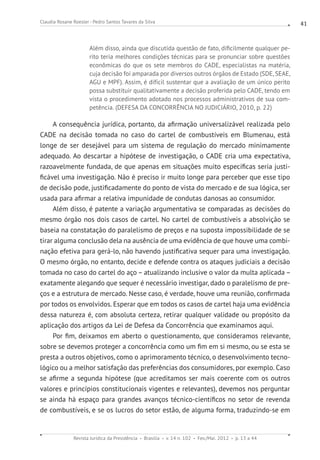
![Argumentação jurídica e direito antitruste: análise de casos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 13 a 44
42
novos ganhos de eficiência. Acreditamos que a resposta a essa pergunta influencia
na ponderação dos valores envolvidos numa decisão de intervir nesse mercado, na
medida em que mitiga o peso da livre iniciativa na equação, autorizando a interven-
ção do Estado pelo Poder Judiciário.
Como já vimos no caso de Jaboticabal, tal intervenção pode se mostrar frutífera,
sem a necessidade de uma ingerência demasiada no setor privado da economia, mas
seguindo uma lógica simplesmente fiscalizadora e sancionadora.
6 Referências
ARISTÓTELES.Tópicos.Introdução,Trad. e Notas Miguel Sanmartín. Madrid: Gredos, 1982.
ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. Trad. Maria
Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: Landy Editora, 2006.
BRASIL. Combate a Cartéis na Revenda de Combustíveis. Secretaria de Direito
Econômico, Ministério da Justiça, 1. ed. 2009. Disponível em: http://portal.mj.gov.
br/main.asp?Team=%7BDA2BE05D-37BA-4EF3-8B55-1EBF0EB9E143%7D. Aces-
so em: 16 de novembro de 2011.
________. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo administrativo no
08000.015337/1997-48. 1. Representação contra as empresas Cosipa, Usiminas e
CSN por prática de cartel na comercialização de aço comum. 2. Infração prevista no
artigo 20, I c/c artigo 21, I da Lei no
8.884/94. [...] 4. Conduta de cartel configurada:
paralelismo de conduta sem explicação racional do ponto de vista econômico e reu-
nião entre os concorrentes anterior ao efetivo aumento de preços.Representantes:
SDE “Ex Offício”. Representadas: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – USIMINAS,
Cia Siderúrgica Paulista–COSIPA, Cia Siderúrgica Nacional–CSN. Conselheiro Rela-
tor: Ruy Afonso de Santa-cruz Lima. Julgado em 27 de outubro de 1999. Disponível
em: http://www.cade.gov.br. Acesso em: 16 de novembro de 2011.
________. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo administrativo no
08012.005545/1999-16. Processo Administrativo. Denúncia de formação de Car-
tel. Mercado de postos de combustíveis em Blumenau/SC. Indícios insuficientes.
Ausência de prova direta. Arquivamento. Representantes: Comissão Parlemantar Ex-
terna da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Procon do Município
de Blumenau/SC. Representadas: Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de
Petróleo de Blumenau – Sinpeb e outros. Julgado em: 28 de abril de 2010. Disponí-
vel em: http://www.cade.gov.br/. Acesso em: 16 de novembro de 2011.
________. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Resolução no
53, de 16 de
setembro de 2009 - Cria o Departamento de Estudos Econômicos (DEE). Disponível
em http://www.cade.gov.br. Acesso em: 23 de novembro de 2011.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-44-320.jpg)
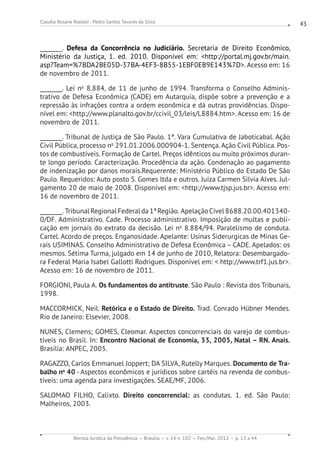




![O Público e o Político em Hannah Arendt
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 45 a 66
48
O fenômeno político em Hannah Arendt (2010) aparece entres os homens e per-
tence ao mundo. O entre-homens surge da nossa capacidade de ação, atividade que
cria e mantém, ao mesmo tempo, o espaço que nos une e nos separa – o mundo dos
homens, ou mundo da vida. A ação, agir criador e renovador, depende da pluralidade,
sendo prática intersubjetiva e, como manifestação, só aparece no “público”. A ação no
entre-homens é, assim, o locus da política.
Quando trata da política Hannah Arendt está preocupada com o que estamos fa-
zendo [ação] no mundo que compartilhamos2
; orientação que guia sua crítica ao estágio
do“político”na modernidade e permite apontar, a partir de uma releitura de contraste e
oposição, que“o que se está fazendo”elimina o significado da política. O propósito deste
trabalho não será tanto reconstruir o diagnóstico de tempo da autora, mas sim examinar
o alcance do“político”no seu pensamento e os elementos que lhe conferem idoneidade.
O “público” como locus do político e a ação política como liberdade
Para Hannah Arendt, o “público” é aquilo que está contraposto ao “privado”, sen-
do a esfera onde o agir humano pode ser compartilhado intersubjetivamente.
A esfera privada refere-se ao reino das necessidades, ao universo da família, ao
domínio da “sombra”, resguardado nos limites da propriedade privada. A forma institu-
cional do privado como propriedade (aqui no sentido de propriedade imóvel) simboliza
nesse contexto a garantia de certa “independência”, da existência de um “interior” que
oferece um lugar onde se está livre da luz da publicidade (do espaço público), represen-
tando, dessa forma, a precondição para promover os aspectos únicos da personalidade
sem os quais a vida se tornaria eternamente superficial (COHEN; ARATO, 2000, p. 218).
O conceito de “público” relaciona-se a dois fenômenos distintos. A ideia faz refe-
rência tanto ao espaço onde o que é relevante aparece, o palco que sustenta o agir
intersubjetivo, quanto à noção de mundo dos homens, o mundo que construímos
enquanto “produtores” e que supera nossa temporalidade biológica.
O domínio público é o “espaço de aparição”, um foco de atenção universal
que confere dignidade e importância às coisas e pessoas que nele apare-
cem. [...] O outro aspecto do “público”, que faz referência a esse “palco” e
permite ação em seus próprios termos, é “o mundo”. (CANOVAN, 1994, p.
180-181, tradução nossa)
2 Na abertura da obra Condição Humana Hannah Arendt anuncia: “‘O que estamos fazendo’ é, na verda-
de, o tema central deste livro” (ARENDT, 2010, p. 6).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-50-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 45 a 66
Júlia Ávila Franzoni 49
Dessa forma, para compreender o alcance do “público” em Hannah Arendt, assim
como as características que lhe conferem idoneidade, é necessário desenvolver as di-
mensões de espaço público na qualidade de “palco” das ações humanas e de “mundo”
dos homens, ou mundo da vida. São essas dimensões que particularizam o “público” e
a partir das quais se torna possível trabalhar os conceitos de ação, liberdade e política.
O espaço público, no sentido de“palco”para as ações humanas, só abriga o que é
relevante (distinguindo-se daquilo que deve ser tratado na esfera privada), fazendo
referência a um lugar físico ou institucional.
Quando as pessoas se reúnem para tratar de interesses comuns do mun-
do, elas constituem uma arena pública, [...] um espaço de aparição. Nesse
palco comum elas podem valer-se da ação no sentido especial da palavra
em Hannah Arendt: elas podem interagir entre si, falar sobre seus assun-
tos comuns, propor iniciativas, tentar influenciar eventos e, nesse processo,
revelar a si mesmas como indivíduos únicos, ficando abertas ao julgamen-
to de seus pares. Espaço público no sentido de Hannah Arendt pode ser
um espaço físico oficialmente dirigido por interesses públicos. (CANOVAN,
1994, p. 181, tradução nossa)
Para Hannah Arendt o “mundo” dos homens difere do que se entende por “nature-
za”, ou “terra”. O mundo é aquilo que construímos estando juntos. Só se pode ver e ex-
perimentar o mundo tal como “realmente” é, entendendo-o como algo compartilhado
por muitas pessoas, que está entre elas, que as separa e as une, revelando-se de modo
diverso a cada uma, e que só é compreensível na medida em que muitas pessoas pos-
sam falar sobre ele e trocar opiniões e perspectivas em mútua contraposição. Somente
na liberdade de falarmos uns com os outros é que surge, totalmente objetivo e visível
desde todos os lados, o mundo sobre o qual se fala. Viver num mundo real e falar uns
com os outros sobre ele são basicamente a mesma coisa (ARENDT, 2008, p. 185).
Aconsciência de pertencimento e de existência do mundo só ocorre na pluralidade
e no compartilhamento intersubjetivo da experiência de“estar no mundo”. E, não sendo
expressão da natureza, mas algo criado e mantido pelos homens, o mundo é artificial,
e sua perenidade no tempo depende de “agirmos”e “falarmos sobre ele”. O mundo e as
coisas deste mundo, em meio aos quais os assuntos humanos têm lugar, resultam do
fato de que os seres humanos produzem o que eles próprios não são – isto é, coisas
– e de que mesmo as esferas ditas psicológica e intelectual só se tornam realidades
permanentes nas quais as pessoas podem viver e se mover na medida em que estejam
presentes como coisas, como um mundo das coisas (ARENDT, 2008, p. 159-160).
Esse mundo, enquanto artifício humano mais que como a comunidade dos ho-
mens, é a obra do homo faber (CORREIA, 2010, p. XXVI). A obra ou fabricação [work]](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-51-320.jpg)
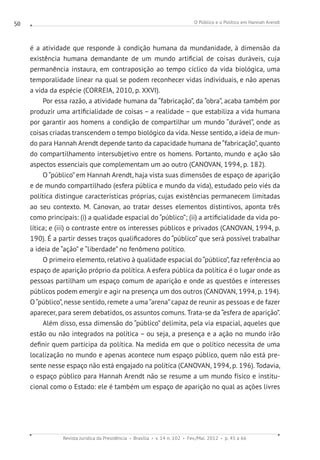
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 45 a 66
Júlia Ávila Franzoni 51
ganham lugar3
(CANOVAN, 1994, p. 199), e, portanto, a política estaria inserida no
contexto do plural, no espaço que surge entre a palavra e a ação – o mundo público
–, cuja existência permite o aparecimento da liberdade (LAFER, 2007, p. 21).
É nesse contexto que se insere o segundo elemento, que, tratando da artificiali-
dade da vida política, faz referência à durabilidade do mundo em sua relação intrin-
cada e dependente da ação compartilhada entre os homens. A política é sempre prá-
tica, e, nesse sentido, sua afirmação e existência são auferidas numa realidade que é
construída pela relação entre os homens. Essa realidade artificial, ou“mundo da vida”,
demarca a esfera onde o fazer político se desenvolve, e, aliado a isso, a imprescindi-
bilidade da ação intersubjetiva indica que a política está sempre sendo construída.
O espaço da aparência, o “público”, passa a existir sempre que os homens se
reúnem na modalidade do discurso e da ação, e, portanto, precede toda e
qualquer constituição formal do domínio público e as várias formas de go-
verno, isto é, as várias formas possíveis de organização do domínio público.
Sua peculiaridade reside no fato de que, ao contrário dos espaços que são a obra
de nossas mãos, não sobrevive à efetividade do movimento que lhe deu origem,
mas desaparece não só com a dispersão dos homens, mas também com o desa-
parecimento ou suspensão das próprias atividades. Onde quer que as pessoas
se reúnam, esse espaço existe potencialmente, mas só potencialmente, não
necessariamente, nem pra sempre. (ARENDT, 2010, p. 249, grifo nosso)
O que explica a durabilidade do mundo é, portanto, a ação. E como atividade
alheia ao processo vital, diferentemente do trabalho, não é algo para o qual os ho-
mens naturalmente se guiam. Para Hannah Arendt, é com palavras e atos que nos
inserimos no mundo humano, e essa inserção é como um segundo nascimento, não
nos sendo imposta pela necessidade, como trabalho [labor], nem desencadeada pela
utilidade, como a obra [work] (ARENDT, 2010, p. 221).
A ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos aparecem
uns para os outros, certamente não como objetos físicos, mas qua homens.
Esse aparecimento, em contraposição à mera existência corpórea, depende
da iniciativa, mas trata-se de uma iniciativa da qual nenhum ser humano
pode abster-se sem deixar de ser humano. [...] Uma vida sem discurso e
ação é literalmente morta para o mundo; deixa de ser uma vida humana,
uma vez que já não é vivida entre os homens. (ARENDT, 2010, p. 220-221)
3 É nesse sentido que a autora irá desenvolver a “tese” de seu trabalho; a ideia de que o “público” em
Hannah Arendt envolve mais que a política para abranger o fenômeno da “alta cultura”, atividade
também oriunda da ação.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-53-320.jpg)
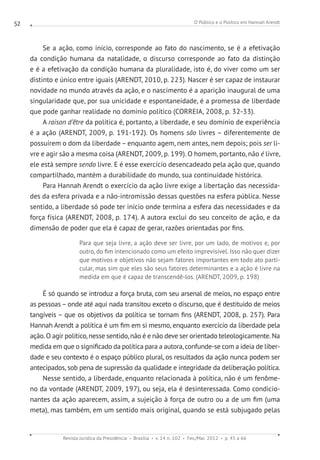

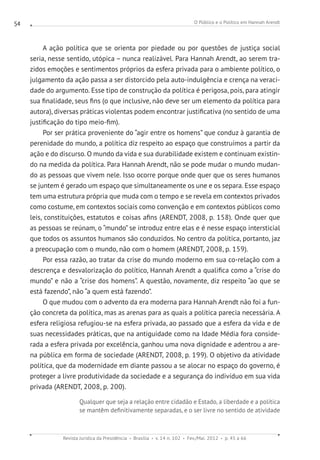
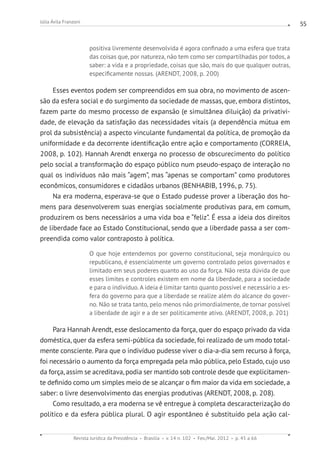


![O Público e o Político em Hannah Arendt
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 45 a 66
58
Em processos comunicativos sistematicamente limitados, os participantes
formam convicções subjetivamente não-coercitivas, mas ilusórias; com
isso, geram comunicativamente um poder que pode ser usado contra esses
mesmos participantes, no momento em que se institucionaliza. (HABER-
MAS, 1993, p. 116)
Hannah Arendt não aceita essa percepção da formação de opinião como válida
para construção do poder político. Habermas fundamenta essa direção do pensa-
mento arendtiano na fuga que a autora opera no momento de justificar as razões
do poder da opinião. Para ele, ao invés de fundamentá-lo na sua original construção
comunicativa da ação, Hannah Arendt o faz a partir da ideia de promessa e da capaci-
dade que os indivíduos têm de cumpri-las.“A fim de assegurar o núcleo normativo de
uma equivalência original entre o poder e a liberdade, ela prefere recorrer, em última
análise, à figura venerável do contrato, que ao seu próprio conceito de práxis comuni-
cativa. Retrocede, assim, até a tradição do direito natural.”(HABERMAS, 1993, p. 118).
Todavia, quando trata do problema relativo ao poder da opinião, Hannah Arendt
faz referência à “imprevisibilidade” que a ação e o discurso geram. Ou seja, para a
autora, a questão principal a ser resolvida é a segurança na efetivação dos consen-
sos, haja vista as incertezas do futuro. Ao contrário do apresentado por Habermas, a
questão é respondida por Hannah Arendt a partir das potencialidades encontradas
na própria práxis comunicativa. Nesse sentido, o “remédio” não provém de qualquer
outra esfera superior ou mais eficaz, como a noção de “contrato” jusnaturalista.
Estes [a disposição para perdoar e ser perdoado, para fazer promessas e
cumpri-las] são os únicos preceitos morais que não são aplicados à ação a
partir de fora, de alguma faculdade supostamente superior ou de experiências
fora do alcance da própria ação. Pelo contrário, surgem diretamente da vontade
de conviver com os outros na modalidade da ação e do discurso e são, assim,
semelhantes a mecanismos de controle instaurados na própria faculdade de
iniciar processos novos e intermináveis (ARENDT, 2010, p. 306, grifo nosso)
O poder que passa a existir quando as pessoas se reúnem e “agem em concer-
to”, desaparece assim que elas se separam e, para Hannah Arendt, a força que as
mantém unidas, distinta do espaço da aparência no qual se reúnem e do poder que
conserva a existência desse espaço público, é a força da promessa e do contrato pú-
blico (ARENDT, 2010, p. 305). O “contrato”, assim, é enxergado como um instrumento
cuja aplicação e fundamentação são estritamente vinculados à práxis comunicativa.
Muito embora a crítica feita por Habermas à categoria de “promessa” e “contrato
público” em Hannah Arendt não mereça prosperar, pois está em evidente desacordo](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-60-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 45 a 66
Júlia Ávila Franzoni 59
com o defendido pela autora, esse não é o caso do apontamento relativo ao redu-
zido alcance que a noção de “poder político” apresenta no pensamento arendtiano.
Isso porque esse problema repercute diretamente na compreensão das instituições
modernas e no tipo de violência que elas são capazes de gerar e manter.
Hanna Pitkin
A mais recorrente crítica feita ao pensamento de Hannah Arendt diz respeito à
exclusão do domínio do“público”de questões sócio-econômicas, e o consequente afas-
tamento de questões de “justiça social” da esfera pública e da agenda política. Por
acreditar que questões de justiça e de igualdade são inerentes à discussão política,
Hanna Pitkin procura demonstrar incoerências no pensamento de Hannah Arendt, e o
faz a partir de dois questionamentos principais: (i) o que mantém os cidadãos juntos
como um corpo no espaço“público”; (ii) e qual é o objeto da discussão pública? (PITKIN,
1994, p. 270).
Como resposta à primeira pergunta, afirma que no pensamento arendtiano o
que mantém a unidade dos cidadãos na esfera pública e os une na ação política é a
capacidade de realizar “contratos”.
Quando Arendt pergunta explicitamente que “força” mantém juntos os ci-
dadãos, a resposta é uma invocação tradicional e bastante improvisada
da teoria do contrato social. [...] Este é um ensinamento surpreendente
para uma teórica cuja inteira doutrina parece, em outros aspectos, uma
crítica sustentada ao cálculo utilitarista de auto-interesse, que reduz tudo
ao “meramente útil ou necessário”, e particularmente trata seres humanos
como meio para fins privados, como se trata outro “material”. Os cidadãos
de Arendt parecem não menos egoísta do que qualquer “homem econômi-
co racional”. (PITKIN, 1994, p. 271, tradução nossa)
Nesse sentido, Hanna Pitkin aponta a mesma crítica feita por Habermas, quando
ele afirma que Hannah Arendt abandona seu conceito de práxis comunicativa, gê-
nese do mundo da vida, para justificar a formação da ordem política na capacidade
que os homens têm de fazer e cumprir promessas. Habermas também acredita que
há um retorno incoerente de Hannah Arendt à teoria do contrato social, justamente
porque as categorias do pensamento arendtiano superam, de maneira original, o
pensamento político jusnaturalista. A crítica já sugerida ao posicionamento haber-
masiano pode ser integralmente aplicada aqui.
Em relação ao segundo questionamento, Hanna Pitkin levanta o problema rela-](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-61-320.jpg)

![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 45 a 66
Júlia Ávila Franzoni 61
não poderia ser “atrapalhado” por questões que o desvirtuariam dessa empreitada.
Todavia, acredita-se que a autora superestima uma característica da esfera pú-
blica arendtiana, qual seja, sua capacidade de ser palco da busca por imortalidade
humana, transformando-a no elemento principal da construção. Tanto o desejo de
imortalidade, quanto a condição do “público”, que age como espaço para sua concre-
tização, não são as características que particularizam a esfera pública enquanto tal.
O “público” para Hannah Arendt não se identifica na possibilidade de garantir a
imortalidade aos homens, mas sim por ser a esfera do exercício da liberdade através
da ação, atividade que, por garantir a durabilidade do mundo dos homens, aproxima-
-nos enquanto seres humanos. A imortalidade está ligada à faticidade da morte, en-
quanto a durabilidade do mundo associa-se ao fato do nascimento. Os homens, como
entes do mundo, são politicamente não seres para a morte, mas permanentes afir-
madores da singularidade que o nascimento inaugura (CORREIA, 2008, p. 33). E, essa
última condição [o nascimento], por nos permitir tanto inaugurar quanto, pela ação,
manter o mundo dos homens, torna imprescindível a existência do espaço público.
Seyla Benhabib
Seyla Benhabib se alinha aos críticos de Hannah Arendt que defendem a impos-
sibilidade fática de exclusão, no espaço público da política, de questões relativas à
justiça social. Embora a autora ressalte a importância do pensamento arendtiano
para compreensão da categoria da esfera pública e da ação política como práxis
discursiva, discorda da normatividade que adquire este pensamento quando trata da
ascensão do“social”na modernidade e do conseqüente desaparecimento do político.
Além de apresentar um reexame metodológico das categorias arendtianas, Seyla
Benhabib irá defender que a ideia de “público” em Hannah Arendt não é compatível
com a complexidade das práticas inscritas no mundo moderno.
A autora constrói seu argumento questionando, inicialmente, as consequências
da aplicação no mundo moderno de todos os parâmetros políticos do mundo grego
arendtiano. A ideia central parte da constatação de que o espaço agonístico grego
só foi possível haja vista a exclusão de vários grupos de seres humanos e, em se-
guida, pergunta se a crítica arendtiana à ascensão do social, que foi acompanhada
pela emancipação desses grupos e os trouxeram para vida pública, é uma crítica ao
universalismo político enquanto tal. Nas palavras da autora:
[...] a ‘recuperação do espaço público’ em condições de modernidade, é ne-
cessariamente um projeto elitista e antidemocrático que dificilmente pode](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-63-320.jpg)
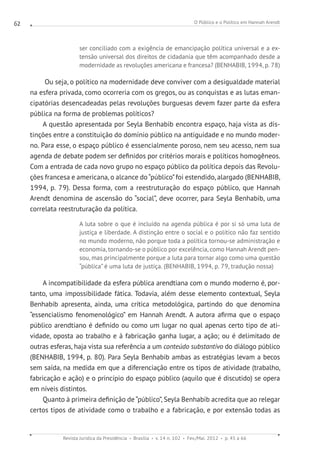

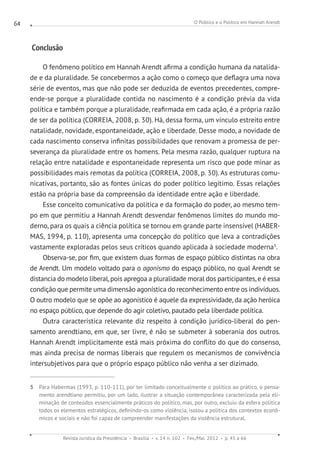
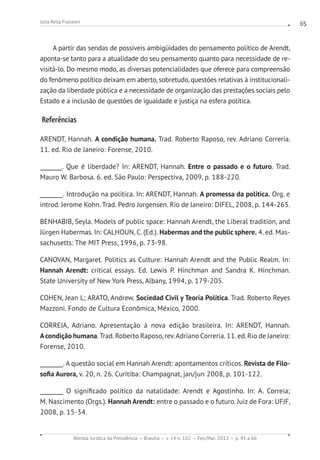
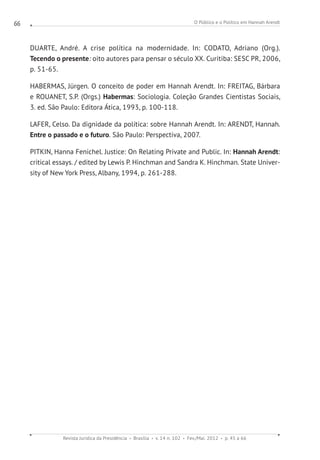




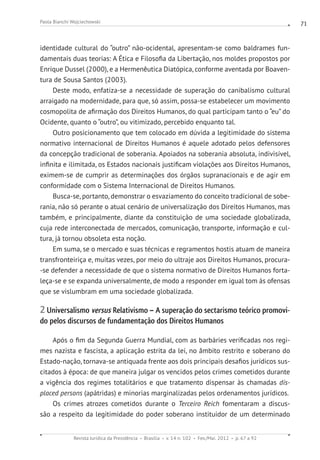
![Em busca da legitimação do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 67 a 92
72
ordenamento jurídico, na medida em que muitos oficiais nazistas em suas defesas
perante o Tribunal de Nuremberg ampararam-se na argumentação central de que os
atos por eles cometidos estavam em plena conformidade com o ordenamento jurídi-
co vigente à época. Desta maneira, buscando a absolvição de seus crimes invocavam
o eixo central do positivismo jurídico, o qual:
[...] elimina do direito qualquer referência à idéia de justiça e, da filosofia,
qualquer referência a valores, procurando modelar tanto o direito como a filo-
sofia pelas ciências consideradas objetivas e impessoais e das quais compete
eliminar tudo o que é subjetivo, portanto arbitrário. (PERELMAN, 1998, p. 91)
Hannah Arendt (2004), como correspondente da revista The New York Times,
assistiu, perante a Casa da Justiça de Jerusalém, a um caso paradigmático: o julga-
mento de Otto Adolf Eichmann, responsável diretamente pela deportação de mi-
lhões de judeus aos campos de extermínio nazista. A consonância de seus atos com
o ordenamento jurídico alemão, em vigor no regime nacional-socialista, constituiu a
pedra angular da defesa de Eichmann.
Portanto, a aplicação da lei em seus estritos termos–postura positivista–passou
a ser enxergada com desconfiança.Ademais, vislumbra-se que estes tribunais de exce-
ção – Nuremberg e a Corte de Jerusalém – só poderiam ser legitimados recorrendo-se
a um direito externo ao ordenamento jurídico alemão, de modo que as violações ocor-
ridas no interior do Estado-nação passavam a ser julgadas no âmbito internacional e,
assim, a própria concepção de soberania foi colocada em xeque.
Desta maneira, tais julgamentos geraram uma revisão natural e inevitável dos
Direitos Humanos, os quais não mais poderiam ser considerados nos estritos limites
dos Estados-nacionais, mas passavam a ser pensados em um âmbito global.
Outro fenômeno que exerceu influência decisiva no processo de reformulação
dos Direitos Humanos, encetado no pós-guerra, foi a questão das displaced persons
(apátridas). As guerras civis do século XX foram marcadas pelas migrações irregu-
lares de grupos humanos unidos de maneira comprimida e oprimida que, vendo-se
obrigados a migrar de seus países de origem e sem a possibilidade de serem absor-
vidos por outros Estados-nação, encontravam-se também desprovidos de qualquer
amparo legal, eram o “refugo da Terra” (ARENDT, 1989, p. 300).
Na perspectiva de Arendt (1989, p. 300), a questão do “direito a ter direitos”e de
“pertencer a algum tipo de comunidade organizada”, só nasceu efetivamente “quan-
do surgiram milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não podiam
recuperá-los devido à nova situação política global”.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-74-320.jpg)
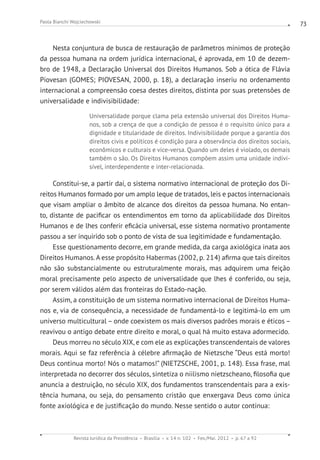

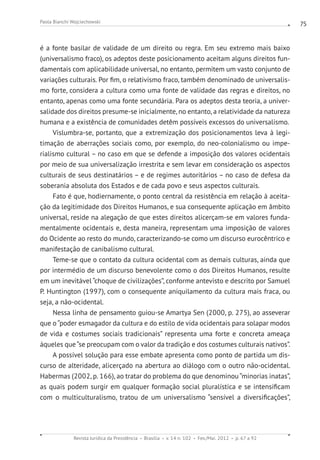
![Em busca da legitimação do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 67 a 92
76
afirmando que este seria do “tipo de uma inclusão não-niveladora e não-apreensória
do outro em sua alteridade” (HABERMAS, 2002, p. 55).
No entanto, Habermas foi acusado por Dussel de adotar uma visão etnocentrista
e não levar em consideração o ponto de vista dos realmente excluídos, na medida
em que situa o nascimento deste contradiscurso em Kant. Sob a ótica de Dussel
(2000, p. 70), em uma perspectiva universal (não eurocêntrica), este contradiscurso
teve gênese há cinco séculos, na América Latina, com o protesto contrário às iniqui-
dades vislumbradas em terras indígenas, sustentado por Bartolomeu de las Casas,
Antonio de Montesinos e Francisco de Vitória.
Enrique Dussel (2000, p. 72) defende a necessidade do contato com o “outro”
para que se passe a enxergar sob o prisma da alteridade, a partir de uma visão não
etnocentrista. Nesse sentido, afirma que a construção periférica de um discurso, que
não representa um mero prolongamento do pensamento europeu, constitui-se de
maneira crítica e atua como um verdadeiro contradiscurso.
Desta maneira, vislumbra-se a impossibilidade de construir um discurso de al-
teridade dos Direitos Humanos sem, necessariamente, tratar, ainda que de maneira
breve, da Filosofia e Ética da Libertação, nos moldes propostos por Enrique Dussel.
A Filosofia da Libertação consistiria em um projeto filosófico destinado a atuar
como um contradiscurso em relação ao paradigma eurocêntrico enraizado na mo-
dernidade, no qual os ideais e valores ocidentais são disseminados como verdades
incontestáveis, independentes e auto-realizáveis, não só na Europa e Estados Uni-
dos, como também na “periferia mundial” (DUSSEL, 2000, p. 51).
Nas palavras do autor, a Filosofia da Libertação reveste-se de:
[...] um contradiscurso, é uma filosofia crítica que nasce na periferia (e a
partir das vítimas, dos excluídos) com pretensão de mundialidade. Tem
consciência expressa de sua perificidade e exclusão, mas ao mesmo tempo
tem uma pretensão de mundialidade. Enfrenta conscientemente as filoso-
fias européias, ou norte-americanas (tanto pós-moderna como moderna,
procedimental como comunitarista, etc.), que confundem e até identificam
sua europeidade concreta com sua desconhecida função de “filosofia-cen-
tro” durante cinco séculos. (DUSSEL, 2000, p. 73)
Essa corrente filosófica visa, portanto, romper com a modernidade eurocêntrica,
fazendo emergir a consciência do“outro colonial, do bárbaro, das culturas em posição
assimétrica, dominadas ‘inferiores’, excluídas, como uma fonte ou recurso (sources)
essencial na constituição da identidade do eu moderno” (DUSSEL, 2000, p. 73).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-78-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 67 a 92
Paola Bianchi Wojciechowski 77
Em suma, trata-se de considerar a dimensão do outro enquanto outro, em sua
alteridade. No entanto, não basta que o outro seja respeitado em sua integralidade
para que transponha o obstáculo de subjugamento de sua própria cultura pela ma-
joritária ou hegemônica e, assim, afirme-se culturalmente. Sob esse prisma, Dussel
(2000, p. 420) defende que a afirmação integral da própria cultura hodiernamente
seria impraticável sem dois momentos precedentes:
[...] 1) o descobrimento, feito pelas próprias vítimas, primeiramente, da
opressão e exclusão que pesa sobre a sua cultura; 2) a tomada de consci-
ência crítica e auto-reflexa sobre o valor do que lhe é próprio, mas que se
recorta afirmativamente como ato dialeticamente anteposto e com respei-
to à materialidade como negatividade.
Dussel (2000, p. 425) descreve ainda um momento cogente e posterior à cons-
cientização da vítima, que diz respeito à ocasião na qual o outro (excluído-oprimido)
batalha pela inclusão no conjunto de pessoas também vitimizadas e aqueles que a
elas se unem. A esse propósito, afirma que a Ética da Libertação tem por base justa-
mente conferir vozes aos oprimidos.
Entendendo-se as premissas deste discurso de alteridade alicerçado principal-
mente sobre a Filosofia e Ética da Libertação, impende questionar a forma pela qual
este discurso pode ser transposto a uma política de Direitos Humanos, de modo a
revesti-los de caráter verdadeiramente emancipador e de inclusão social.
Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 432), na tentativa de definir as condições
por meio das quais os Direitos Humanos se prestariam a promover uma política
progressista e emancipatória, propõe o seguinte questionamento: “Como poderão os
Direitos Humanos ser uma política simultaneamente cultural e global?”.
A fim de responder tal questão, o autor em apreço aponta condições idôneas a
imprimir aos Direitos Humanos um caráter global, sem lhes retirar a validade local,
de modo que sobre essas condições se alicerçam políticas progressistas de Direitos
Humanos que visam à inserção social e se desenvolvem em um contexto multicul-
tural e dialógico (SANTOS, 2003, p. 432).
A esse propósito o autor afirma a necessidade de um projeto cosmopolita de
Direitos Humanos. No entanto, é necessário esclarecer-se aqui que a concepção de
“cosmopolita” utilizada por Santos (2003) diverge do conceito moderno habitual,
que se limita à concepção daquilo que é referente a todos os países. Para entendê-
-lo, imperioso faz-se apresentar as formas de globalização por ele conceituadas.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-79-320.jpg)

![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 67 a 92
Paola Bianchi Wojciechowski 79
Humanos no nosso tempo, exige que estes sejam transformados à luz do que
é chamado de multiculturalismo emancipatório. [...] (SANTOS, 2000, p. 438)
Para que haja a possibilidade desta realocação dos Direitos Humanos em um
aspecto dialógico multicultural, o autor em comento aponta cinco premissas: su-
peração da querela separatista entre universalismo e relativismo; identificação de
“preocupações isomórficas”no interior de culturas distintas, no que concerne às con-
cepções de dignidade da pessoa humana; alargar a consciência de que tais concep-
ções culturais revestem-se de uma incompletude natural; a aceitação de que cada
cultura tem a sua visão de dignidade humana, sendo que deverá preponderar aquela
que apresenta o maior âmbito de reciprocidade; e, por fim, a aceitação de que as cul-
turas apresentam a tendência de separar as pessoas e os grupos sociais de acordo
com o “princípio da igualdade”, que atua por meio de hierarquias entre unidades ho-
mogêneas, e o “princípio da diferença”, que age por intercessão da hierarquia entre
identidades e distinções singulares (SANTOS, 2003, p. 441-442).
Nesse contexto, o autor em apreço apresenta os fundamentos da hermenêutica
diatópica, que se constitui em um procedimento hermenêutico por meio do qual
se intenciona alargar ao máximo a autoconsciência das incompletudes culturais,
visando-se, por esta via, conferir maior eficácia à luta pelos Direitos Humanos.
No entanto, para que esse procedimento não resulte em uma inevitável assimi-
lação da cultura mais fraca pela mais forte e se caracterize, assim, como um neo-
-colonialismo cultural, é necessária a verificação de algumas condições por parte da
totalidade daqueles interessados em um diálogo intercultural.
Tais condições foram sintetizadas por Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 458)
da seguinte maneira:
1. Da completude à incompletude. [...] O verdadeiro ponto de partida do
diálogo é o momento da frustração ou de descontentamento com a cul-
tura a que pertencemos, um sentimento por vezes difuso de que a nossa
cultura não fornece respostas satisfatórias para todas as nossas questões,
perplexidades ou aspirações. Este sentimento suscita a curiosidade por ou-
tras culturas e suas respostas, uma curiosidade quase sempre baseada em
conhecimentos muito vagos dessas culturas. [...] 2. Das versões culturais es-
treitas às versões amplas. Das diferentes versões de uma dada cultura deve
ser escolhida para o diálogo intercultural a que representa o círculo de
reciprocidade mais amplo, a versão que vai mais longe no reconhecimento
do outro. [...] 3. De tempos unilaterais a tempos partilhados. O tempo do
diálogo intercultural não pode ser estabelecido unilateralmente. Cabe a
cada comunidade cultural decidir quando está pronta para o diálogo in-](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-81-320.jpg)
![Em busca da legitimação do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 67 a 92
80
tercultural. [...] 4. De parceiros e temas unilateralmente impostos a parceiros
e temas escolhidos por mútuo acordo. [...] a hermenêutica diatópica tem de
centrar-se não nos ‘mesmos’ temas, mas nas preocupações isomórficas, em
perplexidades e desconfortos que apontam na mesma direção apesar de
formulados em linguagens distintas e quadros conceituais virtualmente in-
comensuráveis [...] 5. Da igualdade ou diferença à igualdade e diferença. [...]
A hermenêutica diatópica pressupõe a aceitação do seguinte imperativo
transcultural: temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferiori-
za; temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza.
Vislumbra-se da linha argumentativa desenvolvida pelo autor semelhanças com
a Filosofia da Libertação, nos moldes propostos por Dussel (2000), e já esboçado
em item anterior, no que diz respeito à percepção da vítima como tal – momento do
diálogo intercultural por excelência – notadamente na medida em que representa a
insatisfação do próprio excluído, vitimizado, oprimido, com determinada caracterís-
tica de sua cultura, quando em comparação com cultura diversa.
Emerge daí também o caráter cogente da abertura para o diálogo e fortaleci-
mento dos canais democráticos, a fim de se dar vozes aos oprimidos. A este pro-
pósito, ressalta Ana Letícia Baraúna Medeiros (2007, p. 25) que “é imprescindível a
garantia de um diálogo transcultural, construído empiricamente com base em troca
e não em imposição de valores”.
Baseando-se neste caráter de alteridade e multiculturalismo, o discurso afirma-
tivo dos Direitos Humanos funda-se como um instrumento de libertação e inclusão
social, na medida em que comunidades oprimidas percebendo-se em situações de
injustiça e exclusão social podem manejá-los como um mínimo moral e jurídico
(BARRETO, 2010, p. 231) a manter suas próprias especificidades culturais.
Seguindo por essa linha de pensamento, Joaquín Herrera Flores (2004, p. 377-
378) defende com maestria que:
Os Direitos Humanos no mundo contemporâneo necessitam desta visão
complexa, desta racionalidade de resistência e destas práticas intercultu-
rais, nômades e híbridas para superar os resultados universalistas e parti-
cularistas que impedem uma análise comprometida dos direitos já há mui-
to tempo. Os Direitos Humanos não são declarações textuais. Tampouco
são produtos unívocos de uma cultura determinada. Os Direitos Humanos
são os meios discursivos, expressivos e normativos que pugnam por rein-
serir os seres humanos no circuito de reprodução e manutenção da vida,
permitindo-nos abrir espaços de luta e reivindicação. [...] O único univer-
salismo válido consiste, pois, no respeito e na criação de condições sociais,
econômicas e culturais que permitam e potenciem a luta pela dignidade:](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-82-320.jpg)
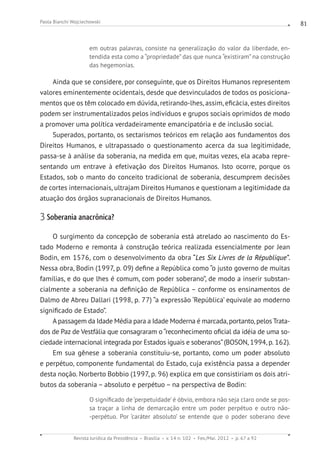
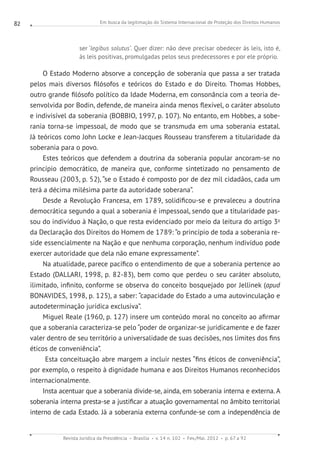
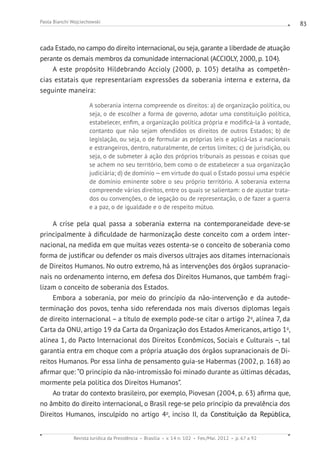
![Em busca da legitimação do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 67 a 92
84
de modo que ao reconhecer a prevalência dos Direitos Humanos, está, ao mesmo tem-
po, aceitando a imposição de limites e condicionamentos à soberania estatal.
Por outro lado, a noção de soberania é atacada também pelo mercado global.
Na era da globalização, parece estranho querer-se afirmar de maneira tão veemente
a soberania externa dos Estados frente às políticas de Direitos Humanos, quando as
práticas internacionais e o regramento do mercado global atingem de maneira indis-
tinta, e muitas vezes destrutiva, todas as nações do globo, sem limitações espaciais.
A este propósito Habermas (2002, p. 195) assevera que:
Agentes não-estatais como empresas transnacionais e bancos privados
com influência internacional esvaziam a soberania dos Estados nacionais
que eles mesmos acatam de um ponto de vista formal. [...] Mas mesmo os
governos dos países economicamente mais fortes percebem hoje o abismo
que se estabelece entre seu espaço de ação nacionalmente delimitado e
os imperativos que não são sequer do comércio internacional, mas sim das
condições de produção integradas em uma rede global.
A formação de blocos econômicos e políticos, de per si, acabam por gerar um
esvaziamento do conceito tradicional de soberania, eis que se constituem entidades
supranacionais das quais emanam regras e direitos vinculantes aos Estados. Assim,
por exemplo, a União Européia, originada a partir da assinatura do Tratado de Maas-
tricht, representa uma sofisticação do Estado Federal (MAGALHÃES, 2002, p. 129) e,
portanto, um desafio ao conceito tradicional de soberania.
Sem olvidar-se também dos riscos transfronteiriços, decorrentes dos avanços
tecnológicos e científicos, principalmente na área da manipulação genética, energia
nuclear, produção química, que desencadearam o que foi denominado por Ulrich
Beck (2002, p. 29) de “sociedade de riscos globais”, que exigem, da mesma maneira,
uma atenção do direito internacional e, assim, acabam também por minar a noção
tradicional de soberania.
As normas cogentes do mercado global, somadas ao processo mundial de cone-
xão de transporte, informação e cultura, fazem com que a ideia de soberania torne-
-se anacrônica. Ademais, esta união involuntária dos Estados-nação em torno de
uma sociedade de risco global, suscita a necessidade de criação de órgãos políticos
supranacionais eficazes (BECK, 2002, p. 195).
Assim, conforme aventado por Habermas (2002, p. 123), avança um processo
de “esvaziamento” da soberania, que, por sua vez, exige uma profunda revisão das
estruturas supranacionais, as quais carecem de ampliação e reestruturação a fim de
possibilitar que se realizem eficientes ações políticas universais.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-86-320.jpg)
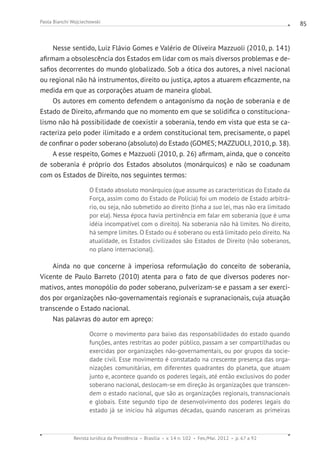
![Em busca da legitimação do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 67 a 92
86
organizações internacionais, constituídas por estados-membros, sendo que
em algumas áreas da atividade política, econômicas, sociais e culturais,
incluíram além de representações de governos, representantes de órgãos
da sociedade civil, que se fazem ouvir de forma crescente no fórum inter-
nacional. (BARRETO, 2010, p. 225)
Conforme muito bem sintetizado por Hans Kelsen (1998, p. 544), para se definir
a questão da soberania, na atualidade, impende questionar a respeito de se há ou
não sobreposição da ordem jurídica internacional em relação ao ordenamento inter-
no, ou seja, “a questão de saber se o Estado é soberano ou não coincide com a ques-
tão de saber se o Direito internacional é ou não ordem superior ao Direito nacional”.
4 A relativização do conceito de soberania como forma de legitimar e conferir
eficácia ao sistema normativo internacional de Direitos Humanos
A noção tradicional de soberania tornou-se obsoleta perante a universalização
dos Direitos Humanos iniciada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948. Além disso, a globalização, em geral, e o mercado global, em particular, com
suas práticas e regulamentos transfronteiriços, acabaram por minar em definitivo o
conceito de soberania absoluta.
Desta forma, se o mercado, suas práticas e regulamentos adquirem caráter su-
pranacional, a política de Direitos Humanos deve também evoluir neste sentido, sob
pena de perder sua legitimidade (e eficácia) para repreender as práticas infamantes
do mercado capitalista e graves ultrajes aos Direitos Humanos que se observam na
sociedade globalizada.
Alberto Luis Zuppi (2001) afirma que, somente por meio do entendimento de
que, na atualidade, a soberania flexibilizou-se de modo a, inclusive, transferir alguns
de seus feitios à esfera do comum, é possível justificar a atuação dos órgãos jurisdi-
cionais internacionais.
A este propósito o autor em apreço aponta que:
[...] si la soberanía es concebida como absoluta y monolítica, será inadmisible
conceder cualquier tipo de ingerencia a un poder foráneo que pueda resque-
brajarla. Si en cambio, se comprueba que la soberanía a lo largo de la última
mitad del siglo se fue erosionando a favor de una globalización del poder,
y si se acepta que algunos aspectos antes reservados exclusivamente al so-
berano han pasado al dominio común, universal, entonces la competencia](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-88-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 67 a 92
Paola Bianchi Wojciechowski 87
universal invocada por una jurisdicción foránea se explicará con nitidez en un
mundo profundamente entrelazado como es el actual. (ZUPPI, 2001, p. 02)1
De acordo com o pensamento defendido por Habermas (2002, p. 205), a fragili-
dade ou o “ponto vulnerável” do sistema normativo internacional de defesa dos Di-
reitos Humanos reside, precisamente, na ausência de um poder executivo que con-
fira eficácia a estes direitos ainda que a contragosto dos Estados nacionais, ou seja,
por meio de intervenções no poder soberano, caso se faça imprescindível. Sendo
assim, na medida em que os Direitos Humanos devem, nestas situações, sobrepor-se
aos governos dos Estados, faz-se indispensável a revisão da proibição de interven-
ções albergadas pelo próprio direito internacional.
Vislumbra-se, portanto, que a relativização do conceito de soberania acaba por
legitimar a atuação dos organismos supranacionais de Direitos Humanos, os quais
podem e devem atuar além das fronteiras, de maneira a conferir eficácia universal às
políticas de Direitos Humanos, logicamente de maneira inclusiva e emancipatória,
conforme tratado em item precedente.
Vicente de Paulo Barreto (2010, p. 231), no mesmo sentido do tratado por Boa-
ventura de Sousa Santos (2003), sustenta a constituição de um direito cosmopolita
que se materialize por meio dos Direitos Humanos, formando-se, desta maneira, um
ordenamento jurídico supranacional.
Conforme entendimento defendido pelo autor, este fenômeno de constituição
de uma democracia cosmopolita, cujo centro jurídico é o sistema dos Direitos Huma-
nos, pode ser observado em “dois níveis político-institucionais”. No primeiro nível,
pela aquiescência aos Direitos Humanos até mesmo por Estados que não cumpram
os acordos assinados. No segundo nível, perante o aparelhamento da sociedade civil
em organismos não-estatais, os quais atuam eficazmente na proteção dos Direitos
Humanos, por meio da formulação de políticas públicas (BARRETO, 2010, p. 231).
Nesta conjuntura, o autor afirma que os Direitos Humanos podem ser conside-
rados um “regime jurídico supranacional” (BARRETO, 2010, p. 231).
1 [...] se a soberania é concebida como absoluta e monolítica, será inadmissível conceder qualquer
tipo de ingerência a um poder estrangeiro que possa destruí-la. Se, ao contrario, se comprova que a
soberania a partir da última metade do século foi se erodindo a favor de uma globalização do poder,
e se se aceita que alguns aspectos antes reservados exclusivamente o soberano têm passado ao
domínio comum, universal, então a competência universal invocada por uma jurisdição estrangeira
se explicará com nitidez no mundo entrelaçado como é o atual (ZUPPI, 2001, p. 02, tradução nossa).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-89-320.jpg)
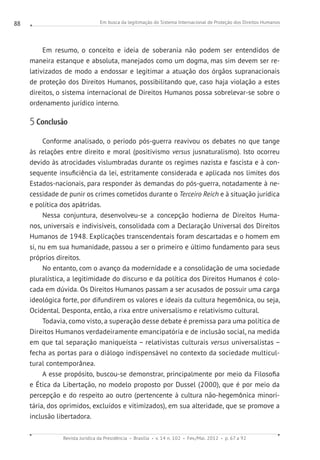
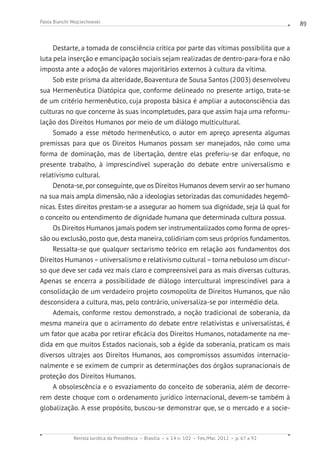

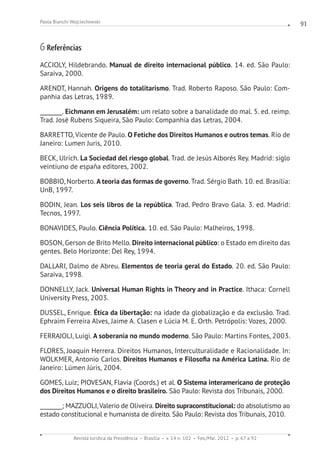




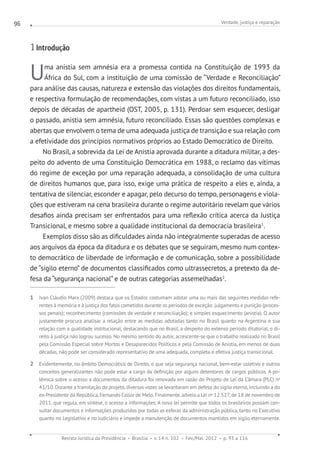
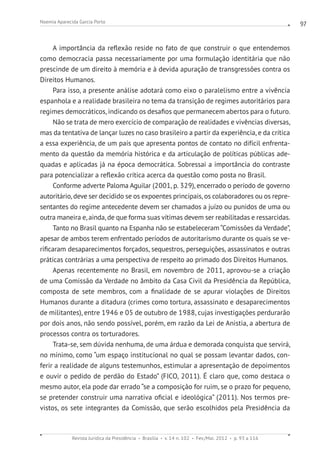
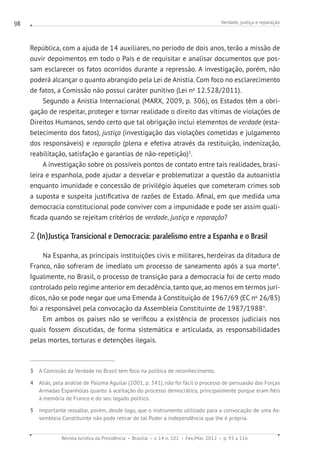
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 93 a 116
Noemia Aparecida Garcia Porto 99
No Brasil, apenas em 28 de agosto de 2001 foi criada uma Comissão de Anistia,
vinculada ao Ministério da Justiça. Além disso, a Lei no
9.140/95, como típico ato nor-
mativo de reparação, reconheceu como mortas pessoas desaparecidas em razão de
participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de
setembro de 1961 e 05 de outubro de 1988, e criou a Comissão Especial de Mortos e
Desaparecidos Políticos no âmbito da Secretaria Especial de Direitos Humanos6
.
A recente lei de 2011, que criou a Comissão da Verdade, bem como aquela que
prevê Acesso a Informações Públicas, facilitando a consulta a documentos públicos,
foi aprovada após sofrer resistência de setores da sociedade e de ex-governantes.
Evidentemente, a existência de previsão legislativa no Brasil não encerra a polêmica.
Será preciso conferir, na prática, os atos que em face de tais previsões legislativas
serão construídos.
Rafael Escudero Alday (2009, p. 34-35) faz notar na Espanha a ausência de um
programa de justiça de transição. Embora o autor descreva um modelo de impunida-
de, pela falta de observância dos critérios de verdade, justiça e reparação, é possível
estabelecer conexão com a realidade brasileira, na medida em que tais critérios
também não se fizeram presentes com o fim da ditadura militar que perdurou de
1964 até 1985 (entre o Golpe e as eleições de um civil para Presidente da Repú-
blica, ainda que de forma indireta). De fato, segundo Alday (2009, p. 34-35), faltou
investigação sobre os atos contrários à democracia anterior e violadores dos Direitos
Humanos durante a ditadura (verdade); não foram levados perante a justiça os res-
ponsáveis por esses atos contrários aos Direitos Humanos; também não houve uma
política de reparação às vítimas, além de se perceber um déficit significativo com
relação às reparações institucionais (como atos públicos e retirada de símbolos). As-
sim, a ausência de uma ação articulada e abrangente também se faz sentir no Brasil.
Pensando no realce à condição brasileira, interessante notar, nos termos pro-
postos por Anthony Pereira (2010, p. 184), que o golpe de 1966 na Argentina foi:
[...] estreitamente associado ao golpe brasileiro. Ambas as intervenções
foram descritas como ‘revoluções’ pelas forças armadas dos dois países. O
golpe brasileiro, reconhecido com rapidez pelos Estados Unidos, pode ter
dado aos oficiais argentinos o sinal de que uma nova intervenção militar
na política não teria custos demasiadamente altos.
6 Pela redação originária, a Lei de 1995 abrangia as atividades políticas até 15 de agosto de 1979,
data próxima à promulgação da lei de anistia. Todavia, lei posterior (10.536/2002) terminou por
reconhecer que os atos de violência permaneceram para além de tal período, chegando até o advento
da Constituição de 1988.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-101-320.jpg)
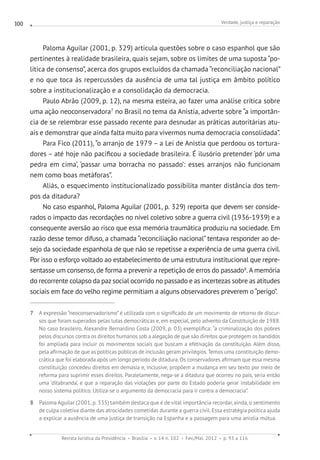
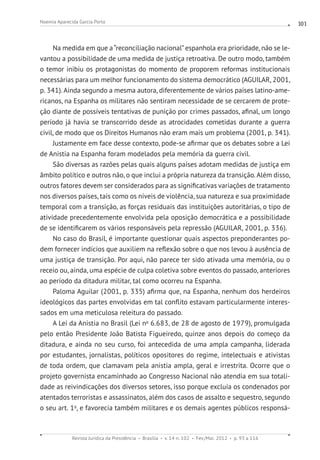

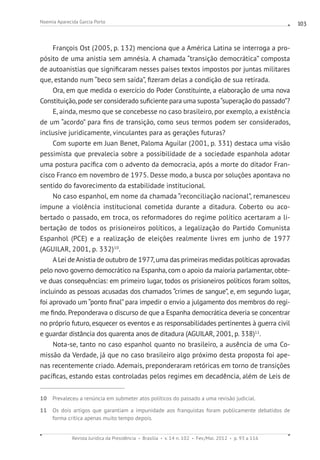
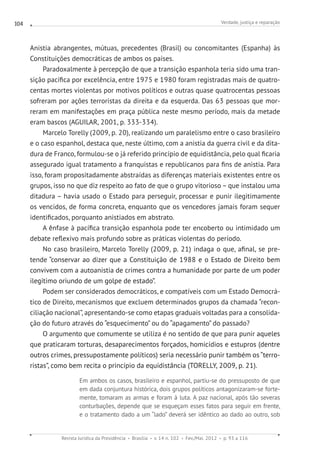


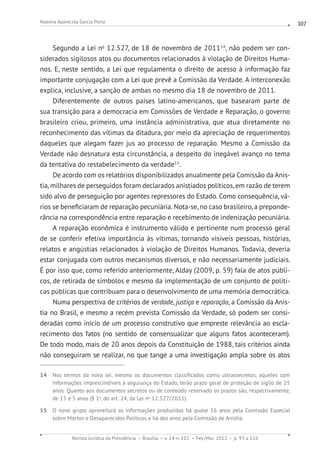
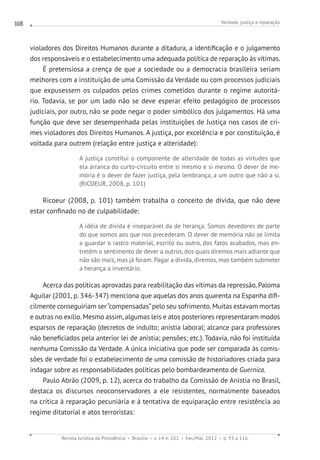
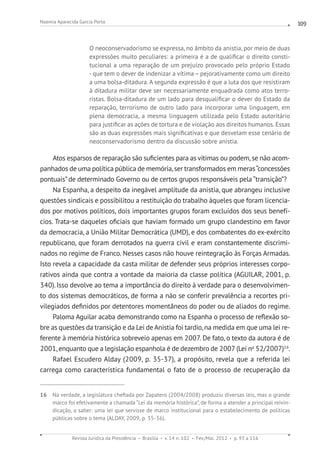
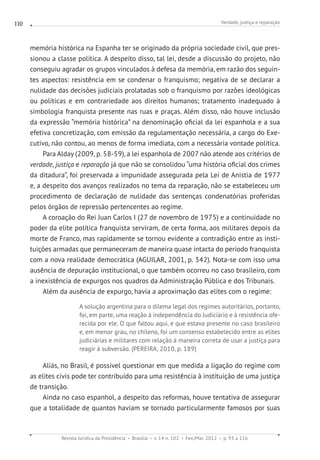
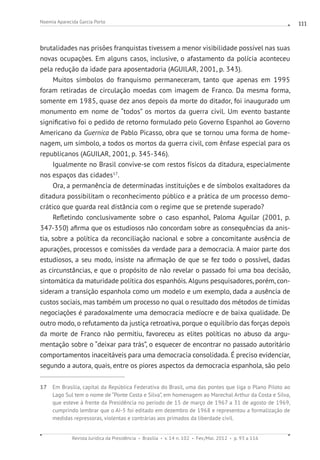
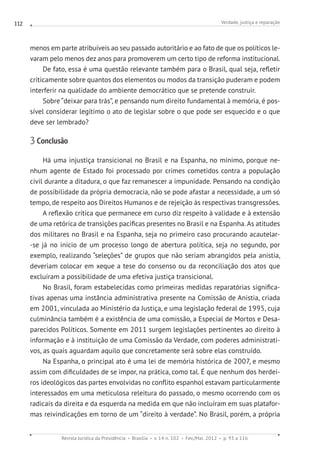
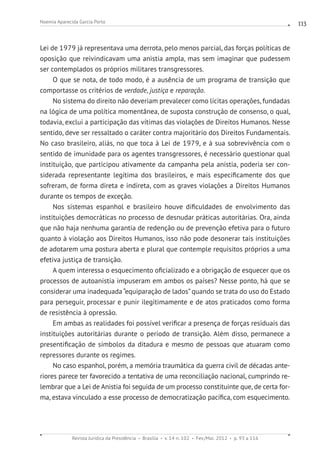
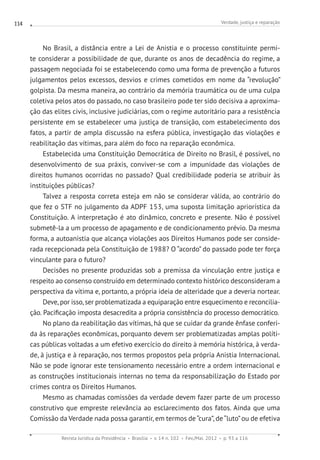
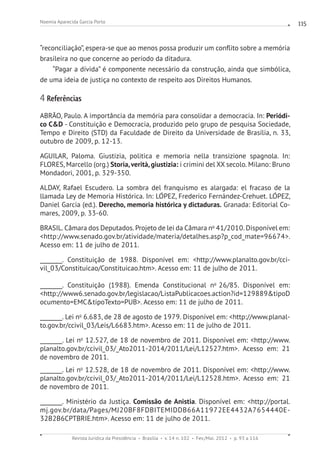
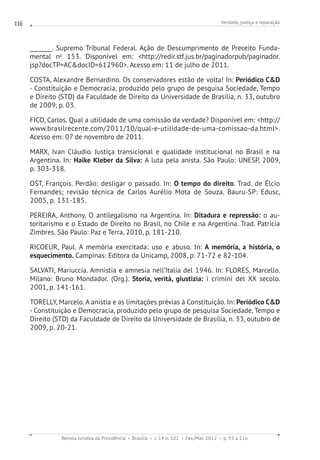


![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 117 a 137
Ana Liési Thurler 119
1 Introdução: para além de essencialismos e seus riscos
Em sua autobiografia, Sartre faz grave concessão ao essencialismo, apresen-
tando o pai como necessariamente opressor.Desesperançado,ele declara:
Não há bom pai, essa é a regra. Fazer crianças, nada melhor. Tê-las, que
iniquidade! Tivesse vivido, meu pai teria se deitado sobre mim com
todo seu comprimento e me teria esmagado. Por sorte morreu cedo.
(apud SCHNEIDER, 2002, p.15)
O pai surge, histórico e cristalizado, como dominador e subjugador por essência,
em contradição com o que constitui o coração do existencialismo: a precedência da
existência sobre a essência.
Que significa aqui o dizer-se que a existência precede a essência? Significa
que o homem1
primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que
só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, se não
é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma
coisa e tal como a si mesmo se fizer. [...] O homem não é mais que o que
ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. (SARTRE, 1973, p.12)
Certamente, a conhecida premissa existencialista de Simone de Beauvoir (1980,
p.9) “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, não se aplica estritamente às mulhe-
res. Vale também para os homens, para a maternidade e para a própria paternidade.
Pesquisas que venho desenvolvendo têm confirmado o caráter social, histórico, cul-
tural e político da paternidade (THURLER, 2006; 2009). São reais as possibilidades
do exercício da paternidade-cidadã, com o pai se constituindo como promotor da
igualdade de direitos e de oportunidades na fratria.
Sartre, o pensador existencialista, na questão do pai, escorregou no essencia-
lismo. E não há essencialismo defensável. A passagem da velha paternidade, como
prática política patriarcal, para a paternidade como prática política cidadã, ainda
que permaneça como um desafio coletivo, é uma possibilidade real. Uma e outra
modalidade de vivência da paternidade se constituem, igualmente, em práticas polí-
ticas. O horizonte dessa passagem também compõe, na mundialização contemporâ-
nea, nossas utopias de uma sociedade de reconhecimentos recíprocos de todas/os —
no interior da sociedade e entre sociedades.
1 Nesse texto de 1946, a expressão “o homem” era compreendida como masculino universal, engloban-
te das mulheres. Proponho aqui interpretá-la referida aos humanos do sexo masculino.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-121-320.jpg)
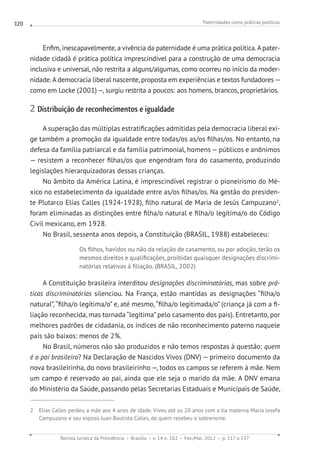
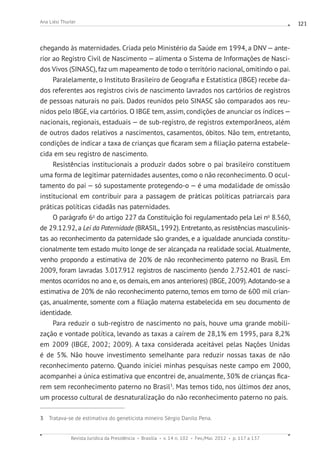
![Paternidades como práticas políticas
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 117 a 137
122
Em 18.10.2004, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 301, esta-
belecendo que a recusa do suposto pai em fazer exame em DNA presume a paterni-
dade (RABELO, 2005). As súmulas têm valor referencial quanto ao posicionamento
de uma de nossas Cortes Superiores de Justiça, entretanto, não têm poder vinculan-
te, isto é, não obrigam instâncias inferiores a assumirem decisões similares.
No Legislativo, o Deputado Alberto Fraga (PMDB-DF) apresentou em 2001
o PL 4.719, aprovado no Congresso Nacional em 29.07.2007, tornando-se a Lei
no
12.004 (BRASIL, 2007), um retrocesso à fase em que inexistia a possibilidade da
contribuição da ciência com o exame em DNA. Com a referida lei, a recusa do pai em
fazer exame em DNA presumiria a paternidade, mas, como outrora, continua recain-
do sobre a mãe o ônus da apresentação de outras provas. Ora, podemos estimar que
um em cada três nascimentos no Brasil ocorre a partir de relações eventuais, em que
nem o homem nem a mulher adotaram cuidados contraceptivos. Isto é, concepções
ocorridas em situações em que não há história convencional alguma a ser contada.
A Lei no
12.004 (BRASIL, 2007) levou a questão do reconhecimento da paterni-
dade a retornar ao período anterior à Constituição: à mãe cabe provar a paternidade,
e ao suposto pai é considerado legítimo não produzir provas. Há aí uma nostalgia
do Código napoleônico, inspirado na visão de Kant que, na questão da paternidade,
rompe com o universalismo iluminista, ao pontificar: “a criança nascida fora do casa-
mento nasceu fora da lei e não deve, por conseguinte, se beneficiar da tutela da lei”
(apud PERROT, 2007, p. 70-71).
Sobre a Lei no
12.004, Dias (2009, grifo nosso) avalia:
Não se consegue entender a que veio a nova lei [a autora se refere à Lei no
12.004]. Talvez tivesse a intenção de autorizar o registro da paternidade
no procedimento de averiguação oficiosa da paternidade, que se instaura
quando informa genitora, no ato do registro, quem é o genitor. A medida
seria extremamente salutar, a exemplo do que acontece em outros países.
Ante a negativa de quem foi indicado como genitor a submeter-se ao exame do
DNA, o juiz deveria determinar o registro. A eventual irresignação precisaria ser
buscada pelo genitor via ação negatória da paternidade. No entanto, desgra-
çadamente, não é o que permite a lei.
No Congresso Nacional, em 2007, a Deputada Federal Iara Bernardi (PT-SP),
apresentou projeto de lei retomando os termos da Súmula 301 do Superior Tribunal
de Justiça: a recusa do suposto pai em fazer exame em DNA, leva à presunção da
paternidade, sem qualquer outra exigência. Esse PL foi aprovado pelo Senado em](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-124-320.jpg)
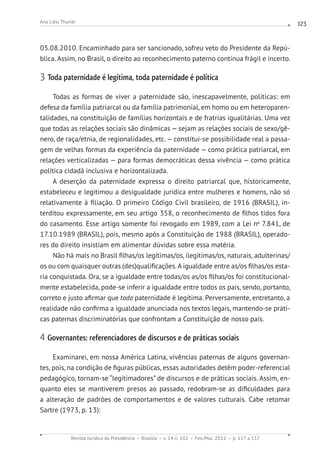
![Paternidades como práticas políticas
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 117 a 137
124
O primeiro esforço do existencialismo é o de por todo homem no domínio
do que ele é, e de lhe atribuir a total responsabilidade de sua existência. E,
quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos
dizer que o homem é responsável pela sua estrita individualidade, mas que
é responsável por todos os homens. [...] Quando dizemos que o homem se
escolhe a si [...], queremos também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele
escolhe todos os homens. [...] Escolher ser isto ou aquilo é afirmar ao mesmo
tempo o valor do que escolhemos. [...] O homem que se dá conta de que não
é apenas aquele que escolhe ser, mas de que é também um legislador pron-
to a escolher, ao mesmo tempo que a si próprio, a humanidade inteira, não
poderia escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade.
5 Os processos históricos são coletivos, as decisões são individuais
No Paraguai, diante de demandas por reconhecimento de paternidades que lhe
eram atribuídas, o Presidente Fernando Lugo explicou ser seu comportamento pa-
triarcal “fruto de processos históricos de seu país”, correspondendo ao perfil da cul-
tura em que esteve imerso ao longo de sua vida. Ele está corretíssimo. Entretanto, se
processos históricos — construindo culturas sexistas — são coletivos, são pessoais as
opções por comportamentos que fortaleçam e reafirmem essas culturas.
O Presidente Lugo tem o mérito de participação no processo de ruptura com 61
anos de hegemonia política conservadora que dominava a sociedade e o Estado pa-
raguaios. Entretanto, para as transformações sociais necessárias ao aprofundamento
de uma efetiva democracia inclusiva e participativa, isso ainda é insuficiente. O
Presidente — com alta escolaridade, capacidade crítica, discurso e posições políticas
avançadas — tem todas as possibilidades de colocar e manter na agenda social a
questão crucial da igualdade entre as/os filhas/os, entre mulheres e homens diante
da reprodução biológica e da reprodução social.
Demandado por reconhecimento de paternidades, ele tem também o mérito de
haver recusado explicações conspiratórias, não restringindo essas demandas a intri-
gas de seus opositores políticos. Tem, entretanto, perdido a oportunidade de avançar
ainda mais e contribuir para que a questão das parentalidades — masculina e femi-
nina em seu país e, por que não, em toda nossa América Latina — seja (re)situada
e definitivamente também relacionada à construção de uma democracia ampliada.
Comportamentos dos governantes são referenciais importantes para a sociedade.
Com suas práticas, o governante, diante de seu país, interroga velhos valores, rompe
ou reafirma antigos padrões de convivência, no caso, entre homens e mulheres.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-126-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 117 a 137
Ana Liési Thurler 125
Como analisam Knibiehler e Neyrand (2004, p. 17):
A democracia é uma pedagogia. Convida, sem cessar, a modificar as ins-
tituições para ajustá-las a novos modos de vida. Estimula a vocação
das/dos humanas/os a se responsabilizarem por seus destinos indivi-
duais e coletivos.
Enfim, a democracia é território privilegiado, propício ao debate e à refle-
xão coletiva.
Calderón (2009) registra que, na sociedade paraguaia, uma cultura fortemente
sexista se expressa em uma realidade em que 80% das mulheres teriam sido vítimas
de abuso sexual e 70% das crianças teriam somente a filiação materna estabelecida
em seus registros civis de nascimento, conforme a Comissão de Direitos Humanos
daquele país. E prossegue relatando que o Paraguai teve 45 presidentes: entre eles,
oito filhos de mães solteiras e ao menos 17 teriam tido filhas/os “ilegítimas/os”.
E que dizem as mulheres paraguaias envolvidas? As mulheres não são somente
pacientes, vítimas nos processos sociais. São agentes na realidade em que vivem,
artífices dela. Calderón (2009) lembra que a guerra da Tríplice Aliança, em 1865,
opôs dramaticamente Brasil, Argentina e Uruguai, de um lado, e Paraguai de outro,
dizimando sua população masculina. O pesquisador Mario Luiz de Souza da Silva, ci-
tado por ela, declarou: “Uma sociedade de mulheres consolidou a cultura machista”.
Viviana Carilllo, 26 anos, a primeira demandante de reconhecimento da pater-
nidade para Guillermo Armindo (nome dado em homenagem ao avô paterno), com
dois anos de idade, disse ter iniciado o relacionamento com o pai do menino há mais
de dez anos, quando se preparava para a confirmação, na diocese de San Pedro. O
pequeno Guillermo, em 13.04.2009, foi reconhecido pelo pai que, em mensagem
lida pelo Palácio de López, declarou: “É correto que houve um relacionamento com
Viviana Carrillo. Diante disso, assumo todas as responsabilidades que possam de-
rivar daí, reconhecendo a paternidade do menino” (ARCHIVO DIGITAL ABC, 2009).
Benigna Leguizamón, 27 anos, moradora da Ciudad del Este, a 330 km de As-
sunção, afirmou ter se relacionado com Fernando Lugo, quando ele era bispo de
San Pedro, a região mais pobre do país. Lucas Fernando, concebido nesse relacio-
namento, teria nascido em 09.09.2002. Revelando consciência de direitos declarou:
“Tenho origem humilde e não tenho vergonha disso. Trabalho vendendo detergente
para alimentar meus filhos [...]. Não é justo que um filho do atual presidente viva com
tantas necessidades” (AGÊNCIA EFE, 2009).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-127-320.jpg)
![Paternidades como práticas políticas
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 117 a 137
126
Setores da imprensa, minimizando a importância do não reconhecimento pa-
terno do menino Lucas e da própria maternidade de Benigna, publicaram que ela
“já era mãe solteira e não tinha assistência do pai de seu primeiro filho” (O ESTADO
DE SÃO PAULO, 2009, grifo nosso). A imprensa sugeriria que, por isso, seria defensá-
vel o pai do segundo filho também omitir assistência à criança?
Damiana Morán Amarilla, 39 anos, militante de esquerda, proprietária de uma
creche, divorciada, com dois filhos do primeiro casamento, disse nada pedir para Juan
Pablo, 16 meses, assim batizado em homenagem ao Papa. Declarou: “Lugo prometeu
ser bom pai. Isso me emocionou bastante [...] não estou pedindo um sobrenome,
nem recursos” (MORAES, 2009). Não fica claro o que ele entenderia por “ser bom pai”,
nem se ela estabelece equivalência entre demandar reconhecimento de paternidade
do menino Juan Pablo e “pedir um sobrenome”, ou seja, reafirmar a patrilinearidade.
Resta saber como interpretaram essas ocorrências e que ações esses aconteci-
mentos suscitaram de mulheres bem situadas nos espaços de poder. A Ministra da
Infância e da Adolescência, Liz Torres, considerou o reconhecimento do menino Guil-
lermo “um ato de valentia” do Presidente, que teria demonstrado ser “um estadista
sério”. Ela e as Ministras da Mulher, Gloria Rubin, e da Saúde, Esperanza Martínez,
conforme um grande número de jornais — o jornal paraguaio La Nación; os argen-
tinos Clarín e Página 12; os brasileiros O Globo e Folha de São Paulo; o italiano La
Republica; o espanhol El País, entre outros — se reuniram com o Presidente e lhe te-
riam pedido uma“posição clara”(IHU.UNISINOS, 2009). No mês seguinte, entretanto,
essas autoridades e o tema desapareceram da imprensa.
Mas o governante paraguaio, frequentando os meios de comunicação com deman-
das de reconhecimentos de paternidade, especialmente no ano de 2009, não constitui
caso isolado em nossa América Latina e Caribe, onde essa questão tem sido recorrente.
O não reconhecimento paterno é desafio presente em toda a região. No Haiti, 85% das
crianças não teriam filiação paterna estabelecida, assegurou Danièle Magloire, coorde-
nadora da organização Droits et Démocratie, em 05.07.2011, diante de participantes de
92 países, em plenária geral, no âmbito do Congresso Mundo de Mulheres4
,com 30 anos
de trajetória — tendo ocorrido pela primeira vez em 1981, em Haïfa, Israel.
O Brasil, em 120 anos de República, teve mais de 40 presidentes e a atual Pre-
sidenta Dilma Roussef. Entre eles, casos de filhas/os de mães solteiras e de gover-
nantes com filhas/os “ilegítimas/os”.
4 Realizado entre 03 e 07.07.2011, em Ottawa, Canadá. Disponível em: http://www.mondesdesfem-
mes.ca/evenement/sessions-pl%C3%A9ni%C3%A8re. Acesso em: 12 de julho de 2011.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-128-320.jpg)

![Paternidades como práticas políticas
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 117 a 137
128
por órgãos da imprensa de que Tomás não seria filho do ex-Presidente. Eis um trecho
desse artigo:
A história de um filho fora do casamento era uma sombra que caminhava
desligada do corpo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sob cui-
dadosa proteção da imprensa. O assunto só vinha a público, eventualmen-
te, em comentários veiculados pela internet, em tom de fofoca alimentada
por seus desafetos.
Publicada inicialmente na coluna “Radar”, da revista Veja, a história de um
exame de paternidade providenciado pelos três filhos de Fernando Henrique
com a falecida socióloga Ruth Cardoso traz a público um aspecto da vida do
ex-presidente que a imprensa sempre fez questão de manter na privacidade.
A estranheza não está no fato de a imprensa preservar a intimidade da
família, mas na diferença com que são tratadas as figuras públicas. Outros
episódios envolvendo relações extraconjugais, com ou sem filhos, nunca
mereceram dos jornalistas tamanho cuidado. (COSTA, 2011)
6 Resistências, reconfigurações patriarcais, solidariedades masculinistas
Em 2010, o Vice-Presidente da República teve sua trajetória de vida publicada.
A leitura de sua biografia nos mostra não ser o pai figura menor, nem para a biógrafa
— que dedica o trabalho a seu pai —, nem para o biografado. A autora conta que a
paternidade comove José Alencar. Uma das situações em que esse “homem emotivo
[é] capaz de chorar [é] quando fala do pai” (CANTANHÊDE, 2010, p. 34). Ele teve, no
casamento, duas filhas e um filho a quem, ao comemorar 50 anos de vida empresa-
rial em dezembro de 2000, passou o comando de seu império — o grupo Coteminas,
que se estende por Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.
Em 2010, também veio a público a demanda por reconhecimento paterno, que
lhe vem sendo feita há mais de dez anos, por uma educadora mineira. Ele resistiu
tanto ao reconhecimento da filha que teria tido fora do casamento, quanto a se sub-
meter a exame em DNA.
Em 20 de julho, Caratinga, Minas Gerais, surge como epicentro geográfico de ocor-
rências que nos revelaram um Brasil ainda preso a suas raízes romanas, canônicas e
ibéricas (THURLER, 2009). E José Alencar tem duplamente raízes ibéricas. Pelo lado
materno, o avô, Romão Serrano Peres, era um espanhol da Galícia. Pelo lado paterno,
seu avô Innocêncio Gomes da Silva teve cinco filhos, entre os quais seu pai, Antonio
Gomes da Silva, é o caçula. Descendente de portugueses, ele casou com Dolores Peres
—depois, Gomes da Silva—, de ascendência espanhola (CANTANHÊDE, 2010, p. 23-26).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-130-320.jpg)
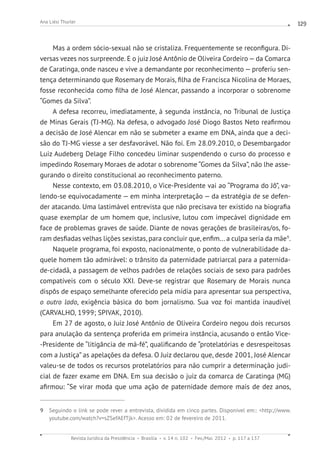
![Paternidades como práticas políticas
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 117 a 137
130
é bem possível que a paternidade seja questão a ser excluída do Poder Judiciário”
(JUSBRASIL, 2010).
É oportuno lembrar: são incontáveis, os casos de mães brasileiras que, humi-
lhantemente, buscam durante dez, quinze anos o reconhecimento da paternidade de
suas crianças10
, quadro que se constitui em uma forma a mais de violência contra
as mulheres, recaindo especialmente sobre mulheres não brancas. Em abril deste
ano, chegou ao STF recurso sobre pedido de teste para reconhecimento da paterni-
dade (RE 363.889) de processo que se iniciou em 1989, quando o demandante foi
representado pela mãe, pois estava com sete anos. Na oportunidade, o processo foi
extinto, em face de a mãe não ter recursos para arcar com o pagamento do exame
em DNA. O Ministro Dias Toffoli votou favoravelmente à reabertura do processo, e o
Ministro Luiz Fux pediu vista do caso em que o reconhecimento paterno é buscado
há mais de vinte anos (CONJUR, 2011).
7 Ronaldo, Neymar, Pelé: diferentes gerações, diferentes escolhas
Considerando figuras públicas, registro ainda casos de ícones no esporte brasi-
leiro. Ronaldo Luís Nazário de Lima — Ronaldo, o Fenômeno —, em 08.12.2010, reco-
nheceu a paternidade do menino Alexander, 5 anos. Então, postou no Twitter: “Alex é
meu filho, irmão de mais três crianças lindas como ele. E me terá sempre como pai
para todos os prazeres e deveres.”Segundo matéria de O Sul,“quando encontrou pela
primeira vez a criança e viu a semelhança física com Ronald, seu primogênito de 10
anos, se pronunciou antes mesmo da divulgação do teste de DNA” (SOBINO, 2010).
“Através desta nota venho confirmar a informação de que me tornarei pai, ain-
da este ano. [...] Concluo pedindo a Deus que abençoe a vida da nossa criança!!
Ela será muito bem vinda e já tem todo o nosso carinho e amor”.Assim Neymar
da Silva Santos Júnior — Neymar, atual estrela do Santos —, em 12.05.2011,
anunciava em seu site oficial, que seria pai. (PORTAL UOL, 2011)
O acolhimento de Ronaldo e de Neymar a suas crianças se opõe à postura de
outra figura emblemática no futebol brasileiro: Edson Arantes do Nascimento — o
Pelé — que resistiu ao reconhecimento da filha Sandra Regina Machado, fazendo-o
somente por determinação judicial em maio de 1996. Nos dez anos que ela ainda
teve de vida, aguardou sempre alguma iniciativa afetiva que nunca veio. Mas seu
10 Marli Márcia da Silva, Presidenta da Associação Pernambucana de Mães Solteiras (APEMAS), em
entrevistas, relatou-me que, em seus vinte anos de experiência, muitíssimos casos de busca por
reconhecimento paterno se arrastam, sem êxito, durante longos anos.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-132-320.jpg)

![Paternidades como práticas políticas
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 117 a 137
132
Vice-Presidente do Congresso da República. O pesquisador peruano Rospigliosi
(2006, p.649) assim avalia:
Esse novo estatuto de filiação, em matéria de paternidade extra-matrimo-
nial se sustenta no direito à identidade e no interesse da criança. [...] A falta
de reconhecimento, a negação do legítimo direito da criança a ter um pai,
é uma forma de violência familiar.
Em meio a debates e disputas jurídicas amplas, envolvendo reconhecimento de
paternidades fora do casamento, o sucessor de Alejandro Toledo na presidência do
Peru, Alan García Pérez, pressionado, reconheceu, em outubro de 2006, seu sexto fi-
lho, Federico García Cheesman, nascido em fevereiro de 2005, de um relacionamen-
to com a economista Elizabeth Roxanne Cheesman Rajkovic. Em coletiva à imprensa
na televisão, acompanhado pela esposa Pilar Nores, em 23.10.2006, declarou: “Fe-
derico García Cheesman tem meu sobrenome [...] e tem abertas as portas do lar que
eu tenha, aqui ou fora do Palácio do Governo” (TV PERU; PERU.COM, 2006).
A Corte Suprema de Justiça peruana — demandada, em 18.05.2007, pelo Primer
Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, Lima Norte — confirmou, em
27.08.2007, a constitucionalidade da Lei da inversão do ônus da prova da paternidade.
Ao aprovar essa lei e confirmar sua constitucionalidade, o Estado e a sociedade pe-
ruanas adotam marcos jurídicos e políticos inovadores na América Latina, assumindo
a paternidade como questão política, questão de cidadania, situando-a no âmbito da
construção de uma democracia de gênero inclusiva. O Peru torna-se país referência em
avanços na promoção e na proteção dos Direitos Humanos das mulheres e das crianças,
para a construção de uma sociedade mais igualitária (THURLER, 2007; 2008).
9 Conclusão: Feminismos – Demandas por aperfeiçoamento da democracia
O patriarcado — um sistema de estratificação sexual, constituindo um sistema
de privilégios — conduz a vivências sexistas e discriminatórias na sexualidade. Se
expressa, também aqui, uma das tantas formas de conflito de interesses, de anta-
gonismo entre as duas categorias de sexo. Em uma sociedade não igualitária, em
que os direitos reprodutivos não estão universalizados e garantidos, a vivência da
sexualidade, para as mulheres, é acompanhada pela exposição a riscos, medo, pos-
sibilidade de maternidade compulsória e solitária. Para os homens, essa vivência
corresponde à afirmação da virilidade, prazer, falta de compromisso tanto com a
contracepção, quanto na ocorrência de concepção (THURLER, 2009).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-134-320.jpg)
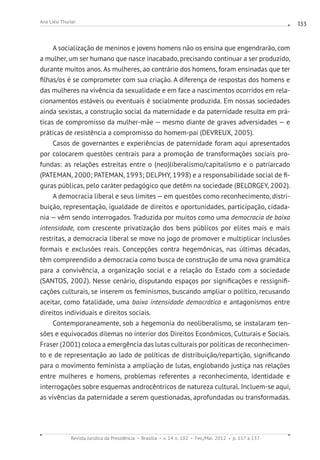
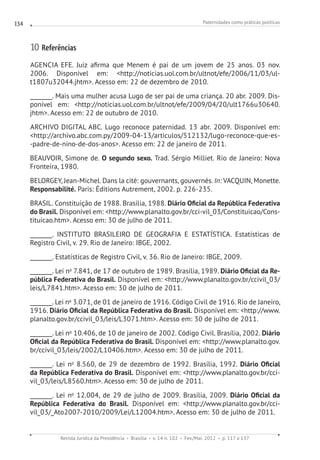
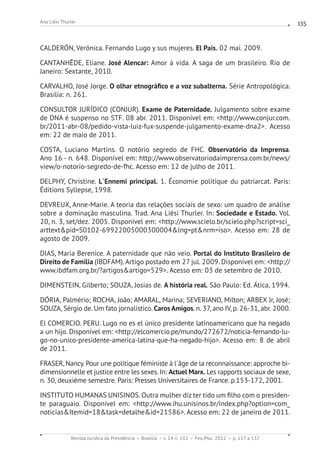
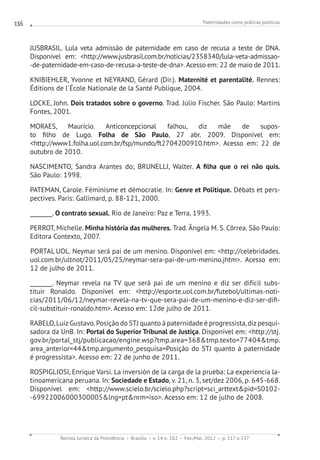
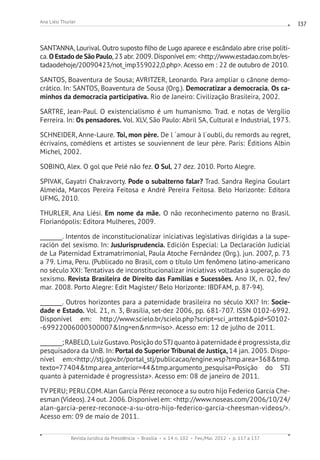



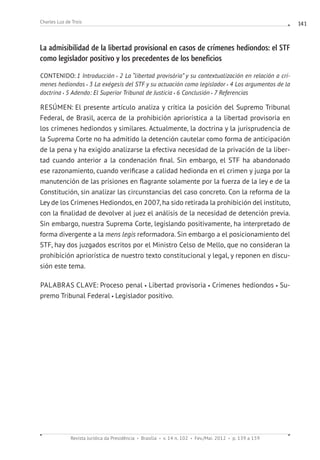
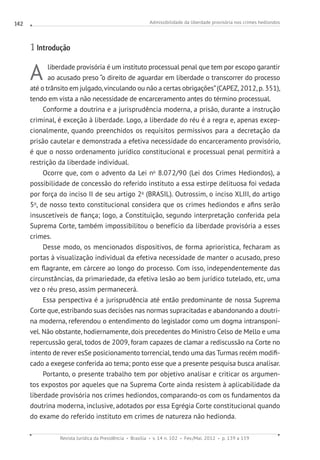

![Admissibilidade da liberdade provisória nos crimes hediondos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 139 a 159
144
com fiança, mas não a liberdade provisória vinculada a medidas cautelares diversas,
mais gravosas que o mero pagamento de fiança” (LOPES JUNIOR, 2012, p. 902).
Com o advento da Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990, denominada lei dos cri-
mes hediondos, o legislador formulou, no inciso II, do artigo 2o3
, uma vedação legal
ao instituto em estudo, de forma abstrata, aos acusados de ilícitos dessa natureza.
Contudo, após quase duas décadas de insurgência doutrinária e jurisprudencial no
tocante a essa vedação in abstrato, o legislativo, por intermédio da Lei no
11.464, de
28 de março de 2007, alterou o referido inciso suprimindo a expressão “liberdade
provisória” do texto legal, permanecendo a vedação apenas à fiança.
Não obstante a mens legis tenha sido modificada, o Supremo Tribunal Federal
(STF), com lastro no inciso XLIII, do artigo 5o
, de nosso texto constitucional, perma-
neceu vedando, in abstrato, a liberdade provisória aos réus presos em flagrante por
crimes hediondos ou equiparados, independentemente de qualquer fundamentação
acerca da necessidade do encarceramento antecipado4
. Contudo, como já referido,
parte de nossa Corte Máxima (Segunda Turma) recentemente se curvou aos ensina-
mentos exarados nos precedentes do Ministro Celso de Mello.
Realizada uma breve contextualização do instituto liberdade provisória, con-
cernente aos crimes hediondos, passamos à análise do posicionamento de nossa
Suprema Corte.
3 A exegese do Supremo e sua atuação legisladora positiva
No presente ponto, a abordagem se ocupará em demonstrar que a orientação
de parte de nossa Corte Suprema (Primeira Turma) permanece em dissonância com
a intenção do legislador ordinário quando editou a Lei no
11.464/2007 (BRASIL), a
qual reformulou a lei dos crimes hediondos.
Como já referido, o STF concretizou, já há muito, posicionamento pelo qual
aquele que foi preso em flagrante delito cometendo crime hediondo ou equiparado
permanecerá encarcerado independentemente de fundamentação quanto à neces-
sidade da prisão, por força do texto constitucional.
Para tanto, a referida Corte sustenta que a proibição da liberdade provisória, nos
casos de crimes hediondos e equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta
3 “Art. 2o
Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o
terrorismo são insuscetíveis de: [...] II - fiança e liberdade provisória” (BRASIL, 1941).
4 “[...] 4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por
crimes hediondos ou equiparados: Precedentes. [...]” (BRASIL, 2012b).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-146-320.jpg)
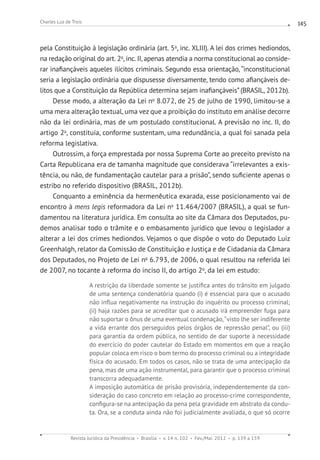
![Admissibilidade da liberdade provisória nos crimes hediondos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 139 a 159
146
após o trânsito em julgado de sentença condenatória, a prisão do acusado
– sem que se configure necessidade prática da medida para a instrução
processual – é arbitrária e, portanto, incompatível com um Estado Demo-
crático de Direito. (BRASIL, 2006a, p. 11)
Igual entendimento doutrinário permaneceu nas razões da versão final do cita-
do projeto de lei, o qual foi encaminhado ao Poder Executivo nos seguintes termos:
3. A proposta de alteração do inciso II do artigo 2o
busca estender o direito
à liberdade provisória aos condenados por esses delitos, em consonância
com o entendimento que já vem se tornando corrente nas instâncias supe-
riores do Poder Judiciário. [...]
4. Dessa forma, preserva-se o poder geral de cautela do juiz, que decidirá
se os acusados dos crimes previstos na Lei no
8.072, de 1990, poderão ou
não responder ao processo em liberdade. Pretende-se, com isso, evitar os
efeitos negativos da privação de liberdade quando, diante do exame das
circunstâncias do caso concreto, a medida se mostrar eventualmente desneces-
sária. [...] (BRASIL, 2006b, p. 02, grifos nossos)
Destarte, a outra conclusão não chegamos senão a de que nossa Suprema Corte
atuou como legislador positivo, postura que, nas palavras do constitucionalista Pe-
dro Lenza (2008, p. 75), se consolida “quando, pelo processo de hermenêutica, se obti-
ver uma regra nova e distinta daquela objetivada pelo legislador e com ela contraditória,
seja em seu sentido literal ou objetivo”, devendo ser afastadas as interpretações em
contradição ao desígnio legislativo. Logo, a exegese dos ministros que ainda man-
têm essa posição revela-se inconstitucional por afrontar a separação dos poderes,
uma vez que, mesmo após a reforma do texto legal – que tinha por intenção extirpar
a vedação in abstrato da liberdade provisória, devolvendo o poder ao magistrado
de analisar, pontualmente, a necessidade da manutenção da prisão –, nosso Tribu-
nal Constitucional manteve seu entendimento. Para tanto, aduziu que a alteração
apenas teve por escopo retirar a redundância da norma legislativa, o que, como
demonstrado, não existia.
4 Argumentos doutrinários
No presente ponto serão analisados alguns argumentos trazidos pela literatura
jurídica moderna quando sustentam a excepcionalidade da prisão no direito penal
antes da sentença condenatória transitada em julgado, fundamentos que estão em
harmonia com a jurisprudência de nossa Suprema Corte na análise dos crimes não
hediondos. No entanto, quando em apreço crimes hediondos, a postura até então](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-148-320.jpg)
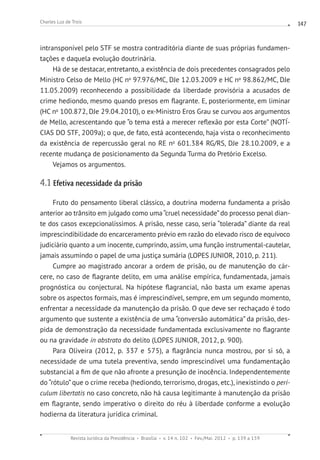
![Admissibilidade da liberdade provisória nos crimes hediondos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 139 a 159
148
Não cabe à lei, nem ao poder constituinte, “afirmar necessidades prévias em
matéria de prevenção contra determinados riscos, quando estes, fundamentos da-
quelas, somente podem ser constatados in loco, em cada caso concreto” (OLIVEIRA,
2012, p. 595). Incoerente e inconstitucional, sustenta Nucci (2012, p. 640), é vedar
a liberdade de alguém que aguarda o deslinde do seu processo criminal, sem qual-
quer fundamento plausível, fático ou técnico, e sem o preenchimento de requisitos
a serem analisados na situação concreta.
Nos crimes hediondos ocorre algo ainda mais inaceitável, as chamadas “deci-
sões formulárias”, sem qualquer fundamentação. Em um sistema jurídico evoluído
como o nosso, haver uma presunção absoluta de necessidade em relação a tipos pe-
nais abstratos representa um retrocesso em nossa ciência jurídica criminal (LOPES
JUNIOR, 2012, p. 899 e 901)5
.
Nessa perspectiva está o entendimento pacífico do STF. No entanto, até 2009,
todos os ministros inferiam que, quando envolvido crimes hediondos ou equipara-
dos, havia um obstáculo constitucional intransponível no inciso XLIII do artigo 5o
.
Não obstante essa postura, desde 2009, Celso de Mello vem aplicando os en-
sinamentos da doutrina para rechaçar o referido óbice legal à liberdade provisória,
em caráter apriorístico, mesmo aos presos em flagrante delito hediondo. O ministro
aduz que, independentemente da gravidade objetiva do delito, um obstáculo in abs-
trato lesa frontalmente a presunção de inocência e a garantia do due process of law
quando não evidenciada a necessidade da medida (BRASIL, 2009a).
Nessa perspectiva, e se curvando aos argumentos do referido ministro, está o
novo posicionamento da Segunda Turma do Pretório Excelso, que, com o aresto a
seguir transcrito, podemos perceber o amadurecimento do tema na Corte:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO EM FLAGRAN-
TE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. FUN-
DAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. [...] a vedação legal à concessão da liberdade provisória, mesmo em
caso de crimes hediondos (ou equiparados), opera uma patente inversão
da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-
-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória.
2. A mera alusão à gravidade do delito ou a expressões de simples apelo
retórico não valida a ordem de prisão cautelar; sendo certo que a proibição
5 Aury Lopes Junior (2012, p. 899 e 901) exemplifica essas decisões formulárias como: “Homologo o
flagrante, eis que formalmente perfeito. Decreto a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(ou conveniência da instrução criminal)”.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-150-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 139 a 159
Charles Luz de Trois 149
abstrata de liberdade provisória também se mostra incompatível com tal
presunção constitucional de não-culpabilidade.
3. Não se pode perder de vista o caráter individual dos direitos subjetivo-
-constitucionais em matéria penal. E como o indivíduo é sempre uma reali-
dade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo
ou de um universo à parte, todo instituto de direito penal que se lhe aplique
[...] há de exibir o timbre da personalização. Tudo tem que ser personaliza-
do na concreta aplicação do direito constitucional-penal, porque a própria
Constituição é que se deseja assim orteguianamente aplicada (na linha do
“Eu sou eu e minhas circunstâncias”, como sentenciou Ortega Y Gasset). [...]
5. O fato em si da inafiançabilidade dos crimes hediondos e dos que lhe
sejam equiparados parece não ter a antecipada força de impedir a conces-
são judicial da liberdade provisória, conforme abstratamente estabelecido
no art. 44 da Lei 11.343/2006, jungido que está o juiz à imprescindibilidade
do princípio tácito ou implícito da individualização da prisão (não somente
da pena). Pelo que a inafiançabilidade da prisão, mesmo em flagrante (inciso
XLIII do art. 5o
da CF), quer apenas significar que a lei infraconstitucional não
pode prever como condição suficiente para a concessão da liberdade provi-
sória o mero pagamento de uma fiança. A prisão em flagrante não pré-exclui
o benefício da liberdade provisória, mas, tão-só, a fiança como ferramenta da
sua obtenção (dela, liberdade provisória). Se é vedado levar à prisão ou nela
manter alguém legalmente beneficiado com a cláusula da afiançabilidade, a
recíproca não é verdadeira: a inafiançabilidade de um crime não implica, ne-
cessariamente, vedação do benefício à liberdade provisória, mas apenas sua
obtenção pelo simples dispêndio de recursos financeiros ou bens materiais.
Tudo vai depender da concreta aferição judicial da periculosidade do agente,
atento o juiz aos vetores do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. Nem a inafiançabilidade exclui a liberdade provisória nem o flagrante
pré-exclui a necessidade de fundamentação judicial para a continuidade da
prisão. Pelo que, nada obstante a maior severidade da Constituição para com
os delitos em causa, tal resposta normativa de maior rigor penal não tem a
força de minimizar e muito menos excluir a participação verdadeiramente
central do Poder Judiciário em tema de privação da liberdade corporal do
indivíduo. [...] (BRASIL, 2012a)
Ademais, ao se tratar aquela suposta proibição como um dogma intransponível,
estar-se-á antecipando a sanção penal. Ponto que passamos a expor.
4.2 Antecipação da pena
A literatura jurídica há muito enfatiza a diferença entre uma prisão cautelar
(instrumental) e definitiva (punitiva), havendo funções certas e determinadas para
ambos os institutos, as quais não se confundem. Uma prisão em flagrante jamais](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-151-320.jpg)
![Admissibilidade da liberdade provisória nos crimes hediondos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 139 a 159
150
pode ser utilizada como uma antecipação de culpabilidade pelo simples fato da
flagrância (OLIVEIRA, 2012, p. 527). Da mesma forma, observa Lopes Junior (2012,
p. 759) que as funções de prevenção geral e especial e retribuição só podem existir
em uma pena criminal definitiva, pois são exclusivas desta.
A prisão flagrancial é uma medida precária, a qual “não está dirigida a garantir o
resultado final do processo”, como o instituto da antecipação de tutela na seara civil.
Citando Banacloche Palao, Lopes Junior (2010, p. 228) sustenta ser essa espécie de
prisão medida pré-cautelar, haja vista ter por escopo “colocar o detido à disposição
do juiz para que adote ou não uma verdadeira medida cautelar”. Logo, é indepen-
dente e pré-cautelar.
Portanto, a manutenção de restrição à liberdade do indivíduo deve ser de ab-
soluta necessidade e não se caracteriza como uma antecipação dos efeitos de uma
eventual condenação, sob pena de infringir diversos postulados constitucionais.
Nessa perspectiva, também em 2009, o Plenário de nossa Corte Constitucional fir-
mou entendimento paradigmático no sentido de apenas se admitir a prisão quando
presentes os requisitos do instrumento cautelar, impossibilitando, com isso, a exe-
cução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
mesmo diante de recurso sem efeito suspensivo (BRASIL, 2009a).
Logo, mais um motivo para ser inadmissível uma postura intransigente do Su-
premo no tocante aos crimes hediondos pelo simples fato da gravidade in abstrato
do crime e pela prisão em flagrante. Entretanto, o Ministro Celso de Mello deixou
claro em seus precedentes “não se revela[r] possível presumir a culpabilidade do
réu, qualquer que seja a natureza da infração penal que lhe tenha sido imputada”
(BRASIL, 2009b), e arrematou consignando que:
A prisão preventiva não pode–e não deve –ser utilizada, pelo Poder Públi-
co, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou
a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases
democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com puni-
ções sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A
prisão preventiva - que não deve ser confundida com a prisão penal - não
objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se,
considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da
atividade estatal desenvolvida no processo penal. (BRASIL, 2009b)
Destarte, conclui-se que não se pode conceber, em nosso Estado Democrático
de Direito, violações ao estado de inocência e ao devido processo legal com tama-](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-152-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 139 a 159
Charles Luz de Trois 151
nha clareza, em detrimento de valores fundamentais. Além dessas ofensas, pode-se
sustentar outra de cunho constitucional: a separação dos poderes.
4.3 Violação à independência dos poderes
De início, é mister frisar nosso entendimento quanto à existência de dois mo-
mentos de violação à separação dos poderes: (i) pelo Poder Legislativo, quando da
redação original da lei dos crimes hediondo, o qual ultrapassou sua esfera e ingres-
sou no âmbito judiciário; e (ii) pela Suprema Corte, quando legislou positivamente
após a reforma da citada lei.
Como princípio fundamental de nossa República Federativa, o texto constitucio-
nal estabeleceu a independência harmônica dos Poderes estatais. É com essa pers-
pectiva que se conclui pela impossibilidade de o Poder Judiciário, por intermédio da
hermenêutica, legislar positivamente, “criando” regras opostas ao texto normativo
ou ao desígnio legislativo. De igual modo, nossos parlamentares estão impedidos de
dar origem a normas abstratas que impeçam a análise contextual pelo magistrado,
impedindo-o de conceder o Direito ao caso concreto (MARTINS, 2009).
Por esse fundamento constitucional não se pode mais aceitar prisões ex lege ou
normas que neguem a possibilidade de verificação pelo magistrado, pontualmente,
do direito à liberdade provisória (NUCCI, 2012, p. 640). Citando Silva Francos, Tovil
(2009, p. 145-146) afirma que conquanto existam crimes de maior impacto social,
“isso não autoriza o legislador a considerar abstratamente inadmissível a liberdade
provisória e dispensar a verificação que o juiz deve realizar, caso a caso, para efeito
de aferir a justificação ou não da privação de liberdade”, sob pena de violação da
separação dos poderes.
No sentido desse entendimento perfilhado são as razões de nosso Ministro Cel-
so de Mello, ao discorrer que determinada lei:
[...] estabeleceu, “a priori”, em caráter abstrato, a impedir [...] que o magistra-
do atue, com autonomia, no exame da pretensão de deferimento da liberda-
de provisória. [...] Vê-se, portanto, que o Poder Público, especialmente em
sede processual penal, não pode agir imoderadamente, pois a atividade es-
tatal, ainda mais em tema de liberdade individual, acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade. Como se sabe, a exigência de
razoabilidade traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo.
O exame da adequação de determinado ato estatal ao princípio da propor-
cionalidade, exatamente por viabilizar o controle de sua razoabilidade, com
fundamento no art. 5o
, LV, da Carta Política, inclui-se, por isso mesmo, no](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-153-320.jpg)
![Admissibilidade da liberdade provisória nos crimes hediondos
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 139 a 159
152
âmbito da própria fiscalização de constitucionalidade das prescrições nor-
mativas emanadas do Poder Público. Esse entendimento é prestigiado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já
advertiu que o Legislativo não pode atuar de maneira imoderada, nem formu-
lar regras legais cujo conteúdo revele deliberação absolutamente divorciada dos
padrões de razoabilidade. [...] o princípio da proporcionalidade visa a inibir e
a neutralizar o abuso do Poder Público no exercício das funções que lhe são
inerentes, notadamente no desempenho da atividade de caráter legislativo.
[...] Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio de
poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que este não dispõe de
competência para legislar ilimitadamente, de forma imoderada e irrespon-
sável, gerando, com o seu comportamento institucional, situações normati-
vas de absoluta distorção e, até mesmo, de subversão dos fins que regem o
desempenho da função estatal. [...] o legislador não pode substituir-se ao juiz
na aferição da existência, ou não, de situação configuradora da necessidade de
utilização, em cada situação concreta, do instrumento de tutela cautelar penal.
[...] destituído de base empírica, presunção arbitrária que não pode legitimar a
privação cautelar da liberdade individual. (BRASIL, 2009b, grifo nosso)
Desse modo, conclui-se que o texto normativo originário da lei dos crimes he-
diondos, quando vedava, de modo abstrato, a possibilidade de o magistrado pon-
derar acerca da liberdade provisória ao preso em flagrante, era manifestamente in-
constitucional por ultrapassar a esfera legislativa, agredindo a seara judiciária. E, na
mesma senda, revela-se inconstitucional a exegese conferida pelo STF concernente
à nova redação do inc. II, do art. 2o
, da lei dos crimes hediondos por legislar positi-
vamente, conforme já explicado no presente trabalho.
5 Adendo: Superior Tribunal de Justiça
Em que pese não ser objeto deste estudo a análise do posicionamento do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), recaindo apenas sobre a hermenêutica de nossa Corte
máxima, em razão da divergência atual das duas Turmas daquela instituição, acha-
mos prudente apenas mencioná-lo, porquanto recrudesce a relevância e o embate
científico do tema em apreço.
A Sexta Turma do STJ se posiciona consoante a crítica que expusemos, estando
de acordo com a moderna doutrina jurídica. Vejamos uma decisão que define o po-
sicionamento:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] LIBERDADE PROVISÓRIA. AU-
SÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. [...]](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-154-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 139 a 159
Charles Luz de Trois 153
4. Consoante entendimento da Sexta Turma deste Sodalício, a vedação ge-
nérica à concessão de liberdade provisória contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006 não impede, por si só, o deferimento do almejado benefício,
caso ausentes quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 312
do Código de Processo Penal.
5. Esta colenda Turma tem se posicionado no sentido de que, ainda que se
trate de delito de tráfico, a Lei no
11.464/2007, ao suprimir do art. 2o
, II, da
Lei no
8.072/1990 a vedação à liberdade provisória nos crimes hediondos
e equiparados, adequou a lei infraconstitucional ao texto da Carta Política
de 1988, que prevê apenas a inafiançabilidade de tais infrações, sendo
inadmissível a manutenção do acusado no cárcere quando não demonstra-
dos os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva.
6. Verificado que foi negada a liberdade provisória ao paciente apenas com
fundamento na vedação genérica do art. 44 da Lei de Drogas, na gravidade
abstrata do delito, nas suas conseqüências sociais e em alusões genéricas
acerca da imprescindibilidade de mantença de custódia cautelar, de rigor a
concessão do almejado benefício. [...] (BRASIL, 2011b)
Por sua vez, a Quinta Turma está pacificada no até então firme posicionamento
do Supremo, entendendo pela impossibilidade de concessão do benefício proces-
sual por uma análise objetiva do fato delituoso sem a realização de um exame no
tocante à necessidade do caso concreto. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA
VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI No
11.343/06. HABEAS CORPUS
DENEGADO. [...]
2. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a vedação expressa da liberdade provisória nos crimes
de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impe-
dir a concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime hediondo
ou equiparado, nos termos do disposto no art. 5o
, inciso XLIII, da Consti-
tuição da República, que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações
penais. Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal Federal.
3. Habeas corpus denegado. (BRASIL, 2012c)
Como visto, a celeuma está presente também nessa Corte Superior.
6 Conclusão
Entendemos que o posicionamento da Primeira Turma do STF, ao continuar ve-
dando, de forma apriorística, a liberdade provisória aos acusados de crimes hedion-
dos e afins, pelo simples fato da flagrância, está divorciado dos ensinamentos da](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-155-320.jpg)
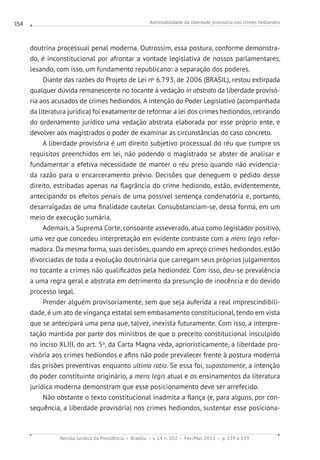
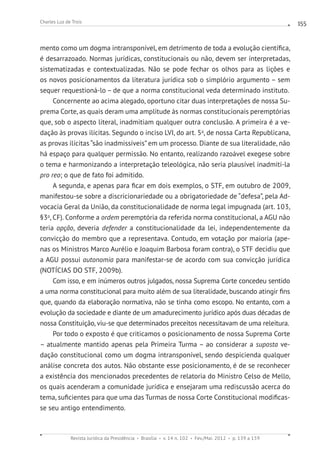
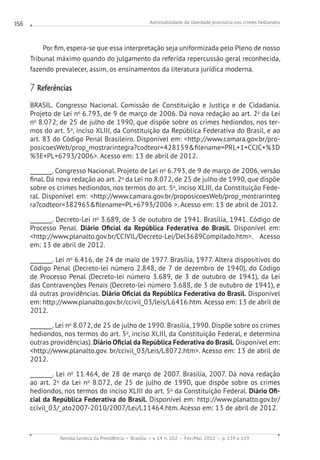
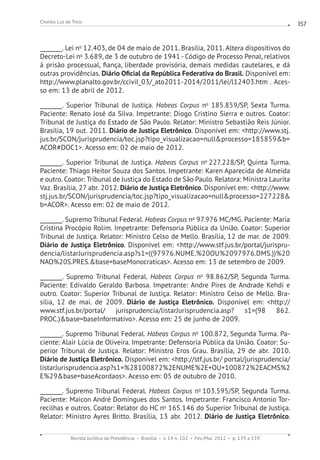
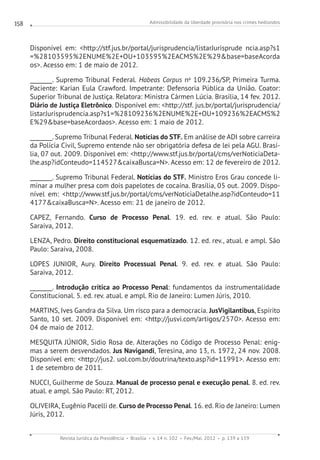



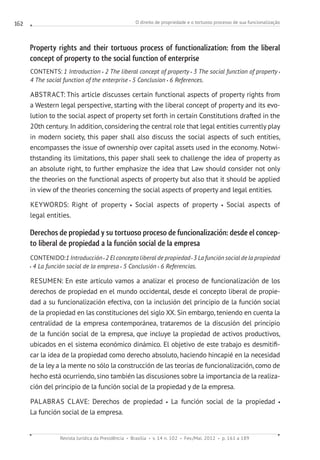
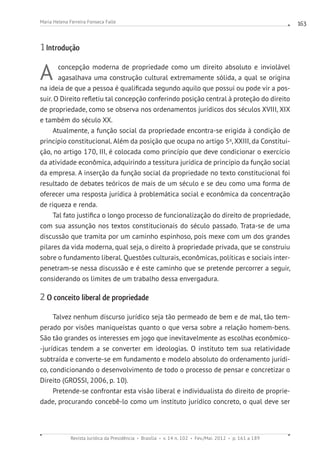
![O direito de propriedade e o tortuoso processo de sua funcionalização
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
164
compreendido a partir da realidade social em que se encontra inserido, com suas
necessidades e problemáticas1
.
No presente caso, a partir da realidade social e jurídica do Estado Brasileiro, no
qual se fazem presentes desigualdades sociais gritantes e no qual se faz urgente a
criação de alternativas e projetos econômicos e políticos visando à ruptura desse
processo de reprodução da pobreza, indo além de políticas assistencialistas.
O conceito romano de propriedade recepcionado e reelaborado desde a Idade
Média, até se manifestar plenamente nas Revoluções Liberais do século XVIII, exer-
ceu uma profunda influência sobre o conceito liberal de propriedade (BERCOVICI,
2005, p. 117).
Para Grossi (2006, p. 11), internamente ao universo do pertencimento tomou
forma no curso da Idade Moderna - cristalizando-se nas reflexões e práxis do século
XIX - um singular arquétipo jurídico, por ele qualificado de napoleônico-pandectís-
tico, isto é, uma noção de propriedade resolvida não somente na apropriação indivi-
dual, mas em uma apropriação de conteúdos particularmente potestativos.
A noção de propriedade liberal, formulada na Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão de 1789, no Código de Napoleão e na Escola Pandectística, é
baseada justamente na apropriação individual. Bercovici (2005, p. 139) extrai da
leitura de Grossi que a Pandectística Alemã foi a escola que melhor construiu o
conceito liberal de propriedade, a qual passou a ser o modelo referencial do capi-
talismo. A liberdade e a igualdade formais foram os instrumentos utilizados para
garantir a desigualdade material.
A concepção individualista da propriedade, presente nos séculos XVIII e XIX,
segundo Grossi (2006, p. 12), vive no social, mas afunda no ético, flutua no jurídico,
mas pesca no subjetivo graças à operação lúcida da consciência burguesa que, de
Locke em diante, fundou todo o dominum rerum sobre o dominum sui e viu a pro-
priedade das coisas como manifestação externa daquela propriedade do indivíduo.
Consigna Grossi (2006, p. 12, grifo do autor):
[...] Em outras palavras, um meu que torna-se inseparável do mim e que
inevitavelmente se absolutiza. [...] Destes alicerces nasce aquela visão in-
dividualista e potestativa da propriedade que comumente chamamos a
‘propriedade moderna’, um produto histórico que, por ter se tornado ban-
deira e conquista de uma classe inteligentíssima, foi inteligentemente ca-
muflado como uma verdade redescoberta e que quando os juristas, tardia-
mente, com as análises revolucionárias e pós-revolucionárias na França,
1 Tal opção se faz seguindo o pensamento de Bercovici (2005, p. 117).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-166-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
Maria Helena Ferreira Fonseca Falle 165
com as pandectísticas na Alemanha, traduzem com o auxílio do instrumen-
tal técnico romano as instituições filosófico-políticas em regras de direito
e organizam-nas, de respeitável consolidação histórica se deformou em
conceito e valor: não o produto de uma realidade mutável tal como foi se
cristalizando, mas o cânone com o qual medir a mutabilidade da realidade.
Em outras palavras, a grande revolução do conceito de propriedade sedimen-
tado no Liberalismo, para Grossi (2006, p.12), consiste na interiorização do domi-
nium, a descoberta do indivíduo de que ele é proprietário. O domínio não necessita
mais de condicionamento externo, mas está dentro do indivíduo, é a ele imanente,
tornando-se indiscutível e absoluto (BERCOVICI, 2005, p. 139).
A propriedade moderna2
torna-se a projeção da sombra soberana do sujeito
sobre a coisa. É tão internalizada ao ponto de ter se transformado em uma segunda
natureza dos indivíduos (GROSSI, 2006, p. 13).
Bercovici (2005, p. 140) elucida que a Pandectística teve seus conceitos fun-
damentais baseados na autonomia do dever e da liberdade, captando, do ponto de
vista jurídico, as transformações trazidas pela Revolução Industrial. Deixou, poste-
riormente, de estar à altura da evolução subsequente da economia e da sociedade:
[...] passou a ser considerada como um instrumento de manutenção de
injustiças sociais. A autonomia privada acabou por privilegiar os detentores
do poder econômico em detrimento da maioria de assalariados, repetindo
o equívoco do século XIX de identificar a sociedade burguesa com a socie-
dade em geral.
Com a Pandectística Alemã, segundo Grossi (2006, p. 83), criou-se um mode-
lo técnico ideológico com a sociedade capitalista evoluída. A propriedade se torna
a criatura jurídica congenial ao homos economicus: um instrumento frágil, conciso,
funcionalíssimo, caracterizado por simplicidade e abstração.
Grossi (2006, p. 83, grifo do autor) reforça esse sentido absoluto e individual
atribuído à concepção de propriedade moderna, a qual se tornou a pedra angular da
construção da sociedade econômica industrial:
Como a afirmação de uma liberdade e de uma igualdade formais tinham
sido os instrumentos mais idôneos para garantir ao homo economicus a
desigualdade de fato das fortunas, assim essa propriedade ‘espiritualizada’
2 Grossi (2006, p. 55) recorda que se deve cuidar para não reservar o termo “propriedade” unicamente
a assim chamada propriedade moderna, negando, por exemplo, as várias formas medievais de domi-
nium. Contudo, neste artigo, não se explorará as outras formas de domínio anteriores a construção
moderna da propriedade.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-167-320.jpg)
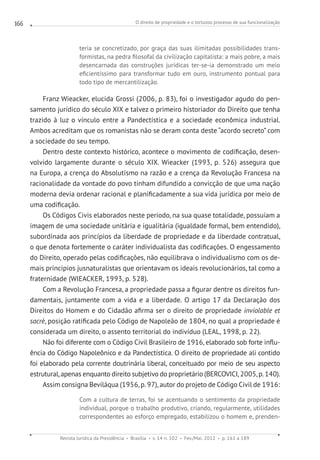
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
Maria Helena Ferreira Fonseca Falle 167
do-o mais fortemente ao solo dadivoso, deu-lhe personalidade diferencia-
da. E, com o estabelecimento do Estado, os direitos individuais adquiriram
mais nitidez e segurança. [...] Gera-se, nessa quadra, uma relação jurídica
para um sujeito individual de direito, e o Estado protege essa relação da
pessoa para a coisa, mediante a coação jurídica.
Nesse sentido, o Estado existe apenas para preservar os direitos individuais por
meio de seu poder coativo. A eliminação do caráter individual e absoluto do direito
de propriedade, para Beviláqua (1956, p. 112), se daria pelas limitações à proprie-
dade. A conjugação entre a força individual e o bem estar comum ocorreria por meio
de fixação de limites ao exercício da propriedade. A função social não era por ele
considerada em momento algum.
Tal posicionamento foi emanado no início do século XX e demonstra o caráter
eminentemente absoluto atribuído ao direito de propriedade ainda nesta fase, não obs-
tante as discussões que se faziam presentes acerca da funcionalização da propriedade.
Grossi (2006, p. 25) acerta o ponto nodal desta questão ao asseverar que a
propriedade é, sobretudo, mentalidade3
. A noção jurídica de propriedade para ele é
a imagem da sociedade, não considerada indistinta e globalmente, mas em muitos
de seus valores historicamente consolidados e interpretados à luz de uma gramática
que constitui uma verdadeira representação técnica.
Por isso, afirma-se que o Direito transparece os valores mais enraizados na so-
ciedade em que está inserido. Se o direito de propriedade representava no século
XIX um direito absoluto e incondicionado, como de fato muitas vezes ocorre em
pleno século XXI, apesar de toda a evolução no enfrentamento da função social da
propriedade, é porque se faz presente ainda nesta sociedade uma forte concepção
individualista, a qual sustenta um comportamento social consistente no ato de se
atribuir valor ao homem segundo aquilo que possui, segundo sua capacidade de ser
proprietário. O Direito reflete muito da cultura da sociedade em que está imerso.
É no terreno das mentalidades que o jurídico tem suas raízes. O Direito e seus
institutos jurídicos são expressão de uma mentalidade. No universo jurídico as for-
mas são frequentemente apenas as pontas emergentes de um gigantesco edifício
construído sobre valores e que a esses valores pede, antes de mais nada, o seu ser
3 Grossi (2006, p. 30) define mentalidade como aquele complexo de valores circulantes em uma área
espacial e temporal capaz, pela sua vitalidade, de superar a diáspora de fatos e episódios espalhados
e constituir o tecido conectivo escondido e constante daquela área, que deve ser compreendida como
realidade unitiva.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-169-320.jpg)
![O direito de propriedade e o tortuoso processo de sua funcionalização
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
168
Direito, regra observada e respeitada porque aderente às fontes mais vivas de um
costume, de crenças religiosas, de certezas sociais (GROSSI, 2006, p. 33-38).
Para Grossi (2006, p. 31), a propriedade, mais do que qualquer outro instituto do
Direito, representa tal assertiva:
[...] porque ela, rompendo a trama superficial das formas, liga-se neces-
sariamente, por um lado, a uma antropologia, a uma visão do homem no
mundo, por outro, em graça de seu vínculo estreitíssimo com interesses
vitais de indivíduos e de classes, a uma ideologia. A propriedade é, por es-
sas insuprimíveis raízes, mais do que qualquer outro instituto, mentalidade,
aliás, mentalidade profunda. [...] Mudam as paisagens agrárias, passam as
ordens sociais mais a mesma mentalidade às vezes persiste; às vezes, fre-
qüentemente, há uma sua permanência até além daqueles que podiam pa-
recer a um olho não penetrante, os termos naturais do seu campo de ação.
A propriedade liberal para os juristas é, sobretudo, poder sobre a coisa e não se
reduz nunca a uma pura forma e a um puro conceito, mas é sempre uma ordem subs-
tancial, um nó de convicções, sentimentos, certezas especulativas, interesses rudes.
Não é prudente seguir nesse terreno uma história de termos e palavras (GROSSI,
2006, p. 25-38).
Em parte, o caráter absoluto da propriedade tinha a finalidade de superar os
resquícios feudais anteriores, a fim de resguardar o direito do titular e afastar qual-
quer cogitação de duplo domínio do Estado. Porém, diante do formalismo que ca-
racterizava o direito, a expressão de la manière plus absolue, prevista pelo Código
Napolêonico em relação à propriedade, tornou-se sinônimo de ausência de limites
ao exercício do direito (LOPES, 2006, p. 58).
A compreensão do Direito que se consolidou no paradigma do Estado Libe-
ral era primordialmente positivista e formalista. O Direito foi se afastando de sua
fundamentação moral jusnaturalista, até ser compreendido exclusivamente a par-
tir da lei ou da vontade do legislador. A noção jusnaturalista de direito subjetivo
conectava-se necessariamente à perspectiva de emancipação do indivíduo4
(LOPES,
2006, p. 54).
A equidade e a justiça, que até então eram categorias fundamentais para o Di-
reito, perderam a importância com a solidificação do positivismo e do formalismo.
A partir da Pandectística e da teoria de Windscheid, o direito subjetivo sofreu uma
4 Para Kant (apud LOPES, 2006, p. 55), a propriedade era uma condição necessária para o aperfeiço-
amento da natureza do indivíduo ou para sua liberdade moral, o igual direito à liberdade estava
relacionado ao igual direito à propriedade.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-170-320.jpg)
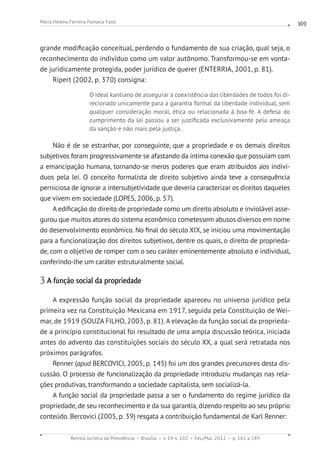
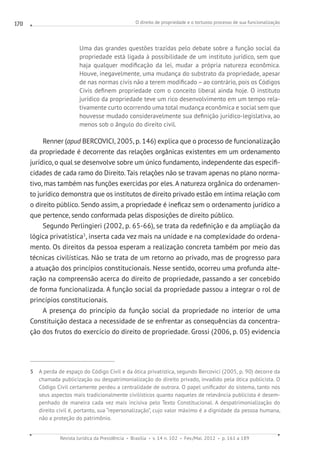
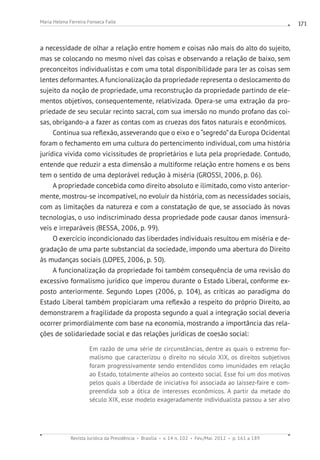
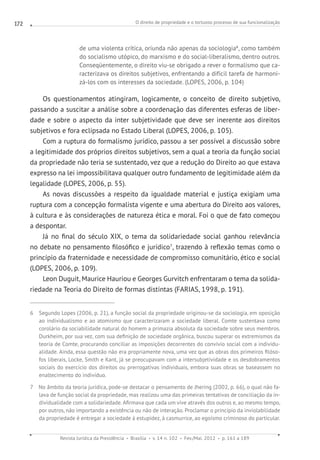
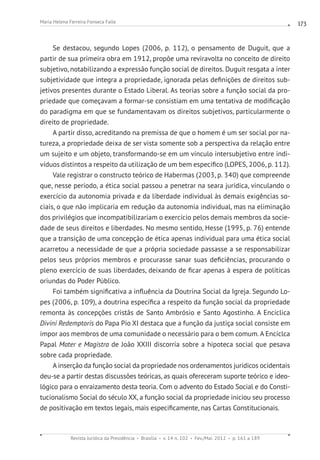
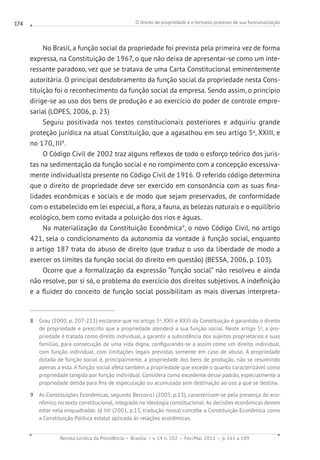
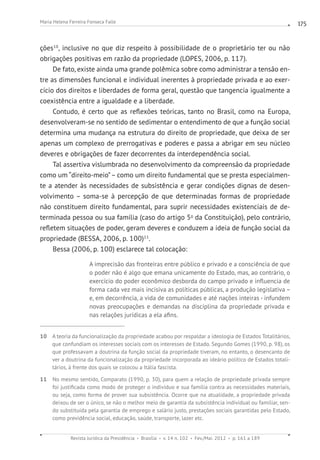
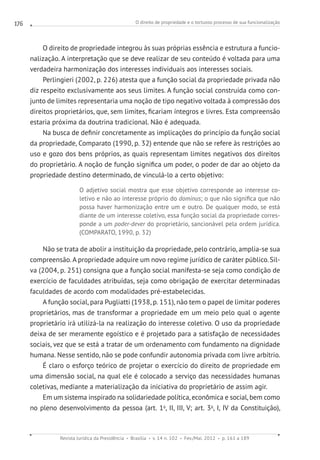
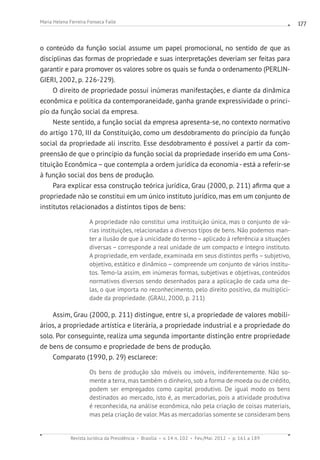
![O direito de propriedade e o tortuoso processo de sua funcionalização
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
178
de produção enquanto englobadas na universalidade do fundo de comér-
cio; uma vez destacadas dele, ao final do ciclo distributivo, ou elas se in-
corporam a uma atividade industrial, tornando-se insumos de produção, ou
passam à categoria de bens de consumo. [...] Como se percebe, a classifica-
ção dos bens em produtivos ou de consumo não se funda em sua natureza
ou consistência, mas na destinação que se lhes dê. A função que as coisas
exercem na vida social é independente da estrutura interna.
Sendo assim, a legislação econômica moderna considera a disciplina da pro-
priedade como elemento que se insere no processo produtivo, ao qual converge um
feixe de outros interesses que concorrem com aqueles do proprietário e, de modo
diverso, o condicionam e são por ele condicionados (GRAU, 2000, p. 212).
Este tratamento normativo respeita unicamente aos bens de produção, dado
que o ciclo da propriedade dos bens de consumo se esgota na sua própria fruição.
Essa nova legislação implica na definição de uma nova fase, de um novo aspecto
do direito de propriedade: a fase dinâmica, a propriedade dos bens de produção. Os
bens de produção são postos em dinamismo, no capitalismo, em regime de empresa,
como função social da empresa.
É deste aspecto importantíssimo contemporaneamente que será tratado a seguir.A
empresa constitui-se na atualidade como um forte centro de poder, no qual se desenro-
la a maior parte do tempo de vida das pessoas. Daí a necessidade de discutir-se sobre
a função social da empresa, como uma das expressões da função social da propriedade.
4 A função social da empresa
Decorrência necessária do reconhecimento da função social da propriedade foi
a posterior discussão sobre a função social da empresa, como instituição cuja im-
portância só aumentara no século XIX, não só no âmbito econômico, mas também
no político e no social (LOPES, 2006, p. 114).
Embora seja uma construção jurídica de apenas 200 anos, para Bessa (2006,
p. 95), a empresa corporifica e retroalimenta alguns dos pilares da ética contempo-
rânea, construindo, no desenvolver de sua atividade empreendedora, os contornos
econômicos, políticos e jurídicos predominantes no mundo ocidental.
Pretendendo indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo
e poder de transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da civilização
contemporânea, a escolha é indubitável: essa instituição é a empresa (COMPARATO,
1990, p. 03).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-180-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
Maria Helena Ferreira Fonseca Falle 179
A empresa é um núcleo de múltiplas manifestações do direito de propriedade:
produz bens, gera riqueza, estabelece – por meio dos negócios jurídicos – relações
de aquisição e alienação de propriedade, tecendo um intrincado conjunto de obri-
gações jurídicas e interagindo com o meio político, consumidores, trabalhadores,
comunidade, meio ambiente, etc (BESSA, 2006, p. 101).
Veja-se que a partir disso, deve-se compreender a empresa não como uma insti-
tuição que se move automaticamente e mecanicamente em busca de objetivos pre-
viamente estabelecidos. Trata-se de uma comunidade de pessoas, um emaranhando
de relações sociais, que se sustenta em outros tipos de bens que não os materiais,
produzidos perante a convivência, perante vínculos de confiança que se estabele-
cem. São bens imateriais que possuem o poder de mantê-la viva no mercado, tanto
quanto a produção de lucro.
Reforçando tal assertiva, Mendonça (1930, p. 17-21) entende que o estabeleci-
mento comercial, a atividade econômica e empresarial, comporta bens intangíveis e
imateriais. Ele denomina esses bens de aviamento. Veja-se:
Do aviamento. Sob esse qualificativo queremos designar a aptidão ou dis-
posição do estabelecimento commercial ao fim que se destina. O aviamen-
to, que se forma com o tempo, com a obra diligente do commerciante, com
a bondade dos productos, com a honestidade, é o índice da prosperidade e
da potencia do estabelecimento commercial ao qual se acha visceralmen-
te unido. [...] O estabelecimento commercial, na acepção aqui empregada
(tem outros significados), designa o complexo de meios idôneos, materiaes
e immateriaes, pelos quaes o commerciante explora determinada espécie
de commercio.
Mesmo entendimento é extraído da Lei das Sociedades Anônimas (Lei no
6.404,
de 15 de dezembro de 1976) que faz referência expressa ao princípio da função so-
cial da empresa, com o objetivo de alargar a compreensão de empresa apenas vista
como um empreendimento econômico, voltado para o mercado, com objetivo de
lucro, para uma associação entre capital e trabalho para a busca de fins e atividades
que dizem respeito igualmente à sociedade, vez que geram diversas externalidades
(LOPES, 2006, p. 123).
Lopes (2006, p. 123) afirma que toda a construção tecida acerca da função
social da propriedade se aplica integralmente à função social da empresa, que se
constitui em um aspecto dinâmico do direito de propriedade (propriedade de bens
de produção). A função social da empresa diz respeito às obrigações para com os
empregados, consumidores e a comunidade.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-181-320.jpg)
![O direito de propriedade e o tortuoso processo de sua funcionalização
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
180
Vaz (1993a, p. 151) acena alguns aspectos que se constituiriam em concretiza-
ção da função social de uma empresa:
Retirar o capital, os bens de produção do estado de ócio (aspecto estático),
consiste, pois, em utilizá-los em qualquer empresa proveitosa a si mesma
e à comunidade. É dinamizá-los para produzirem novas riquezas, geran-
do empregos e sustento aos cooperadores da empresa e à comunidade. É
substituir o dever individual, religioso, de dar esmola pelo dever jurídico
inspirado no compromisso para com a comunidade, de proporcionar-lhe
trabalho útil e adequadamente remunerado.
A função social da empresa, ressalta Comparato (1976, p. 301), não significa que
doravante toda companhia se transforme em órgão público e que tenha por objetivo
patrimonial, senão único, o vasto interesse público, mas deve ser visto no sentido de
que a liberdade individual de iniciativa empresarial não torna absoluto o direito ao
lucro, colocando-o acima do cumprimento dos grandes deveres da ordem econômi-
ca e social, expressos na Constituição.
O grande poder que é concentrado em empresas na sociedade atual deve pos-
suir uma contrapartida social. Lamy Filho (1992, p. 58) reforça tal assertiva:
As referências acima bastam para evidenciar que a empresa, pela sua
importância econômica (unidade de produção da economia moderna) e
significado humano (quadro de homens para a ação em comum que lhes
assegura a sua existência) ascendeu a um significado político e social,
transformando-se no pólo de discussão e debates de sociólogos, dos eco-
nomistas, dos politicólogos, dos juristas, que sobre ela se debruçam em
busca da inteligência e da solução dos problemas contemporâneos. Essa
importância econômica e social haveria de projetar-se em termos de poder.
Com efeito, cada empresa representa um universo, integrado pelos recur-
sos financeiros de que dispõe e pelo número de pessoas que mobiliza a seu
serviço direto [...]. Ora, decisões tão abrangentes (na pequena, média ou
grande empresa, nesta especialmente) e de que depende a vida, e a reali-
zação de tantas pessoas, e o desenvolvimento econômico em geral, são to-
madas pelos administradores da empresa – que exercem, assim, um poder
da mais relevante expressão, não só econômica como política e social, e o
das mais fundas conseqüências na vida moderna. A existência desse poder
empresarial, de tão extraordinário relevo na sociedade moderna, importa –
tem que importar – necessariamente em responsabilidade social. Este é o
preço – dizia Ferdinand Stone – que a empresa moderna terá que pagar em
contrapartida ao poder que detém.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-182-320.jpg)
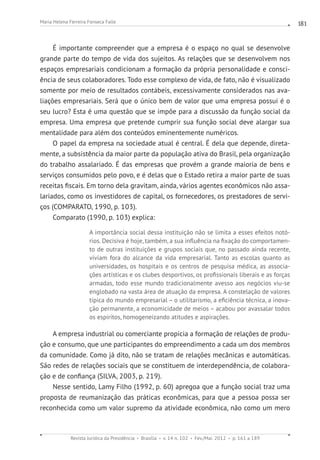
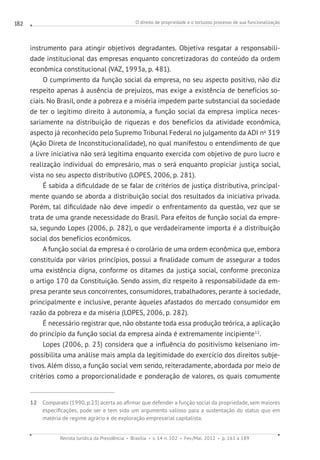
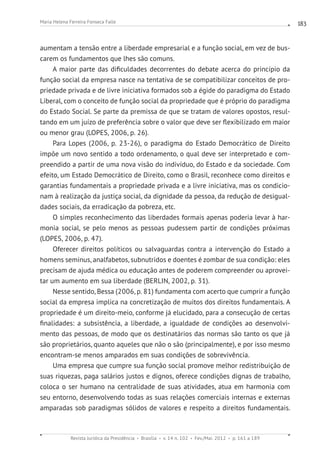
![O direito de propriedade e o tortuoso processo de sua funcionalização
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
184
Certamente, esta empresa produzirá lucro. Se assim não o fosse, a realidade não se
colocaria como é. Porque se pode afirmar isso?
De fato, a prática da maior parte das empresas é contrária a algumas destas
premissas. Pode-se atribuir a isso parte das consequências que abatem o mercado
atualmente. O grande processo de desequilíbrio vivenciado nos dias de hoje sinaliza
que a forma como a atividade empresarial tem se desenvolvido não é a mais acerta-
da e não traz os resultados tão almejados. O atual estado de coisas demonstra que
colocar a busca desenfreada por resultados como prioridade absoluta promove a
degradação de relações, da vida em todas as suas expressões, inclusive, não produz
tantos lucros, como querem fazer crer os defensores do utilitarismo econômico. E
quando produz, ele permanece concentrado nas mãos de poucos, reforçando o cír-
culo vicioso da reprodução de situações de pobreza.
Comparato (1990, p. 26, grifo do autor) reforça tal assertiva:
Já vislumbro a reação escarninha dos sumos sacerdotes do realismo econô-
mico. Eles irão repetindo à porfia que o ‘capital tem suas exigências lógicas
impostergáveis’; que ‘os princípios científicos da economia não se com-
padecem com os bons sentimentos ou as tiradas demagógicas’; e outros
estribilhos da mesma profundidade. Os frutos dessa alta sabedoria esta-
deiam-se a nu, neste preciso momento, para ilustração geral: é a bancar-
rota política, econômica e social do país. Oxalá essa falência generalizada,
de origem sobretudo moral, nos permita entender a verdade simples que
a democracia integral não é um luxo de países opulentos ou o precipitado
natural do Produto Nacional Bruto (PNB) em ritmo de crescimento acele-
rado. Não é um resultado, mas um princípio, no duplo sentido de começo
e regra superior.
É uma problemática que se impõe, e o direito não pode se esquivar de sua dis-
cussão, escondendo-se em seus castelos de construções dogmáticas idealistas per-
feitas. O cumprimento da função social da empresa é uma questão de necessidade
da sociedade brasileira. Cabe aos juristas aprofundarem esta discussão, bem como
cabe à sociedade brasileira aplicar tal norma constitucional. Esperar apenas e tão
somente pela ação do Estado não se apresenta como a melhor alternativa. Compa-
rato (1999, p. 383-384, grifo do autor) assevera:
[...] Essas normas constitucionais não podem ser interpretadas como sim-
ples diretrizes para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limi-
tes da propriedade [...] Elas dirigem-se, na verdade, diretamente aos par-
ticulares, impondo-lhes o dever fundamental de uso dos bens próprios, de
acordo com a sua destinação natural e as necessidades sociais. Ora, a todo](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-186-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 161 a 189
Maria Helena Ferreira Fonseca Falle 185
o direito fundamental correspondem um ou mais deveres fundamentais,
como pólos da mesma relação jurídica. O fato de se falar tradicionalmente
apenas em direitos humanos e não em deveres não nos deve fazer esque-
cer que uns são o exato correspectivo dos outros: ius et obligatio correlata
sunt. Portanto, ao dispor a Constituição brasileira que “as normas definido-
ras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, ela está
ipso ratio determinando que também os deveres fundamentais, correlatos
dos direitos, independem de uma declaração legislativa para serem tidos
como eficazes. Mas quem pode impor o respeito ao dever fundamental de
dar à propriedade privada uma função social? A meu ver, não apenas os
Poderes Públicos, mas também os sujeitos particulares [...]. Seria indescul-
pável anacronismo, se a doutrina e a jurisprudência hodiernas não levas-
sem em consideração essa transformação histórica, para adaptar o velho
instituto às suas novas finalidades.
Diante desse fato capital da história contemporânea – o papel central ocupado
pela empresa – o labor intelectual do jurista não pode continuar a se limitar à tradi-
cional discussão de conceitos, visando encaixar o fenômeno da empresa no mundo
fechado de suas categorias. O sábio Montaigne, em Ensaios, livro III, capítulo XIII,
que concebera de seus estudos secundários grande horror pela pedanteria livresca,
já observava que, “despendemos mais esforços interpretando as interpretações do que
interpretando a realidade, e escrevemos mais livros sobre livros do que sobre qualquer
assunto”, e arrematava cético: “O que fazemos é, tão só, nos entreglosar” (apud COMPA-
RATO, 1990, p. 04, grifos nossos).
Se a verdadeira Constituição não se limita a organizar as funções do Estado,
mas regula também o exercício de poderes no âmbito da sociedade civil; se a vida
política não se dissocia da atividade econômica – aquela pertinente à esfera estatal
e esta reservada à vida privada – como assoalhava a ideologia liberal, é indubitável
que o processo de reconstitucionalização do Brasil passa por uma reorganização da
sociedade civil, e nesta, por uma nova disciplina da empresa, sua instituição chave
(COMPARATO, 1990, p. 04).
Ademais, a aplicação constitucional do princípio da função social da empresa
é hoje auxiliada pela farta gama de cláusulas gerais introduzidas pelo Código Civil
vigente (Lei no
10.406/2002), as quais se constituem em mecanismos que estabelecem
a ponte entre a tutela constitucional e infraconstitucional de direitos fundamentais.
Essas disposições do Código Civil reconhecem explicitamente o caráter público de mui-
tas das relações entre particulares, associando, também a estas, valores definidos pelo
direito e conferindo um substrato ético ao agir dos particulares (BESSA, 2006, p. 83).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-187-320.jpg)
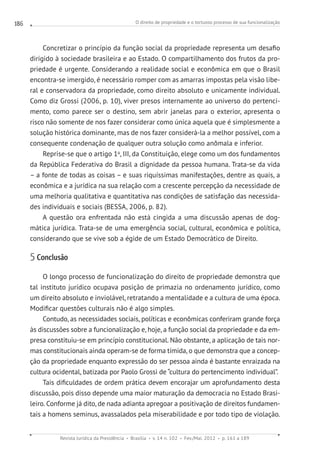
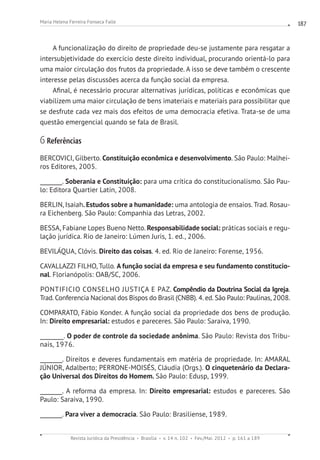





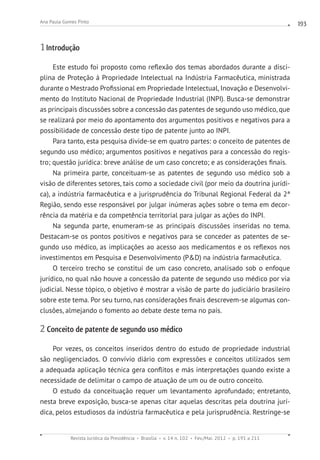


![Patentes de segundo uso médico
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 191 a 211
196
PRAZO
Não haveria extensão, o prazo seria
decorrente de novo produto coloca-
do no mercado.
Geraria a prorrogação da patente,
com a possibilidade de extensão da
proteção por até 40 anos (20 anos
da primeira concessão + 20 anos da
segunda). Evergreening.
LEGISLAÇÃO
As restrições impostas pela ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária) às bulas impedem a conces-
são deste novo registro, em razão da
descrição necessária para o primeiro
pedido de patente.
TRIPS e a legislação brasileira não
tratam da concessão de patente de
segundo uso.
MEDICAMENTOS
GENÉRICOS
Grandes laboratórios produzem
seusprópriosmedicamentosemfor-
ma de genéricos e assim diminuem
a importação.
A possibilidade de concessão de pa-
tente de segundo uso impediria a
produção e a liberação de medica-
mentos como genéricos no mercado.
ACESSO AOS
MEDICAMENTOS
Novas tecnologias não significam
ampliação do acesso aos medica-
mentos, nem à justiça social.
O segundo uso não impede o acesso
aos novos medicamentos originados
deste tipo de patente.
O segundo uso geraria aumento nos
gastos do governo para aquisição
de medicamentos, em decorrência
da proteção patentária.
O segundo uso impediria a liberação
para a produção de genéricos a pre-
ço mais acessível.
Fonte: Elaboração nossa.
Para melhor esclarecimento dos argumentos relacionados no supracitado qua-
dro, analisa-se a seguir cada um dos tópicos desta discussão.
3.1 Países
Nesse item, demonstram-se quais os principais países a concederem, ou não, as
patentes de segundo uso. Observa-se que países como os Estados Unidos da América
(EUA), o Japão (KUNISAWA, 2008), China, Alemanha, Chile, Coréia, Nova Zelândia e a
União Européia, conforme citados por Wolff e Antunes (2005), concedem essa espécie
de patente.Dentre esses,merecem comentários apartados os EUA,aAlemanha e o Chile.
Os EUA concedem tais registros fundamentando-se no seguinte:
[...] o Código de patentes vigente, “United States Code Title 35 – Patent”,
admite o patenteamento de novos usos de produtos já conhecidos em
qualquer área do conhecimento. A Seção 101 deste Código estabelece um](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-198-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 191 a 211
Ana Paula Gomes Pinto 197
amplo escopo de matéria patenteável, incluindo qualquer processo, máqui-
na, manufatura e composição, contanto que seja novo, útil e atenda às de-
mais condições e requisitos estabelecidos no Código. Em relação ao termo
“processo”, a Seção 100 (b) do Código determina que este significa qualquer
processo, arte, ou método, e inclui também um novo uso de um processo,
máquina, manufatura, composição ou matéria. Assim, as invenções de novo
uso médico são plenamente aceitas pelo Escritório de Marcas e Patentes
dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office (USPTO)).
(SILVA; BRITO; ANTUNES, 2010, p. 1824)
Na Alemanha “a legislação permite também o patenteamento de uma reivindi-
cação de uso para uma segunda ou posteriores indicações médicas, ou seja, o uso
de um medicamento conhecido para o tratamento de outras doenças” (WOLFF; AN-
TUNES, 2005, p. 54). Contudo, existe uma curiosidade entre os países com política
favorável à concessão quando se trata do Chile (WOLFF; ANTUNES, 2005, p. 55),
onde existe um projeto de lei que pretende suspender a concessão desta espécie de
patente (WOLFF; ANTUNES, 2005, p.55); até o momento não se tem notícias acerca
da tramitação do referido projeto.
Em relação aos países que não concedem, enumeram-se aqueles que fazem
parte do Pacto Andino (Peru, Equador, Colômbia, Venezuela), além da Argentina, com
a ressalva já realizada em relação ao Chile, que deixou o pacto em 1976, sobre o
qual Rocha (2007) destaca:
Comunidade andina: Decisão 486: Produtos e processos já patenteados e
incluídos no estado da técnica não podem ser matéria de novas patentes
apenas por ter sido revelado um uso diferente do originalmente contem-
plado na patente inicial (artigo 21). O escritório argentino não permite a
proteção de patentes de segundo uso.
Wolff e Antunes (2005, p. 55) ressaltam que o escritório de patentes argentino
não permite a concessão de patentes de segundo uso: essa determinação não está
expressa em lei, mas sim em circular do órgão responsável (Circular n. 008/02 de
12/09/2002 do Departamento de Patentes).
O Brasil tem este tema como polêmico, permitindo a concessão em alguns
casos sob a denominação de “fórmula suíça”, na qual segundo Correa (2007, p. 219):
[...] uma patente sobre a segunda indicação farmacêutica pode ser formu-
lada como uma reivindicação de uso ou método de uso ou de processo.
Neste último caso, consiste no uso de uma substância para fabricar um
medicamento aplicável para certo fim terapêutico.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-199-320.jpg)
![Patentes de segundo uso médico
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 191 a 211
198
Desde 2007, o INPI organiza discussões técnicas para debater o tema, buscando
o parecer de especialistas no assunto sobre a possibilidade de se conceder patentes
de segundo uso médico.
3.2 Inovação
Esse tópico é o que mais exibe discussões em relação aos aspectos positivos
e negativos envolvidos no tema proposto. A comparação essencial se dividiu em
três subtópicos, dentre os mais citados pelos autores estudados (JANUZZI; SOU-
ZA; VASCONCELLOS, 2008; KUNISAWA, 2008; SILVA; BRITTO; ANTUNES, 2010;
WOLFF; ANTUNES, 2005), a saber: o custo de investimento; trivialidade; e os
tipos de inovação.
A primeira discussão está relacionada ao custo dos investimentos. A corrente
que argumenta pela concessão informa que o custo para se colocar uma nova mo-
lécula no mercado é muito alto. No decurso das pesquisas das primeiras moléculas
outras são descobertas e, da mesma forma, novas aplicações são constatadas. Isso
permitirá que surjam outros produtos passíveis de proteção e inserção no mercado
caso venham a cumprir os três requisitos de patenteabilidade descritos no art. 8o
, da
Lei no
9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 1996). Por outro lado, os estudiosos
que defendem a não concessão alegam que a aplicação de recursos financeiros em
novos tratamentos de moléculas já existentes diminuiria os investimentos nas pes-
quisas de novos produtos ou processos.
O segundo debate em relação à inovação está na trivialidade. Aqueles que pug-
nam pela não concessão afirmam que o segundo uso se trata de uma descoberta
trivial, onde qualquer técnico no assunto seria capaz de reproduzir o “novo” produto
encontrado. Já aqueles que argumentam pela concessão informam que não se trata
de uma descoberta trivial (SILVA; BRITTO; ANTUNES, 2010, p. 1821) uma vez que
estes novos produtos ou usos devem ser submetidos a testes clínicos e, algumas
vezes, até a testes pré-clínicos para garantir que haja segurança nesta nova aplica-
ção. Essa necessidade de novos testes corroboraria com o cumprimento do requisito
novidade (WOLFF; ANTUNES, 2005), descrito no referido art. 8o
.
O terceiro ponto discute o tipo de inovação em que as empresas investiriam.
A doutrina que estuda o Sistema Nacional de Inovação aponta a existência de dois
tipos de inovações: as radicais e as incrementais. Tigre (2006, p. 74) as define: a
radical é aquela que “rompe as trajetórias existentes, inaugurando uma nova rota
tecnológica [...] é fruto de atividades de PD”. Já as inovações incrementais:](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-200-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 191 a 211
Ana Paula Gomes Pinto 199
[...] abrangem melhorias feitas no design, ou na qualidade dos produtos,
aperfeiçoamentos e novas práticas comerciais [...] não derivam [...] de ati-
vidade de PD, sendo mais comumente resultantes do processo de apren-
dizado interno e da capacitação acumulada.
Diante disso, nota-se que os estudiosos que pugnam pelos argumentos favo-
ráveis à concessão acreditam que o investimento na indústria incremental poderia
ampliar o número de empresas brasileiras no mercado, tradicionalmente composto
por indústrias de natureza incremental. Já para os defensores dos argumentos ne-
gativos, a concessão de patentes de segundo uso impediria a entrada de novas em-
presas no mercado, exatamente pelo fato de estas não terem acesso às informações
necessárias ao desenvolvimento do produto, por conta da proteção patentária – o
que atingiria a indústria de medicamentos genéricos, cujos produtos são decorren-
tes de patentes que já caíram em domínio público.
Contudo, a ressalva que se deve fazer nessa terceira observação vincula-se ao
fato de que empresas tradicionalmente radicais adquirem ao longo do tempo aque-
las indústrias com natureza incremental. Isso permite que as primeiras, que produ-
zem medicamentos de referência, produzam por meio das segundas seus próprios
medicamentos sob a forma de genéricos.
3.3 Prazo
A discussão relacionada ao prazo de proteção das patentes de segundo uso mé-
dico prorrogaria a proteção por até quarenta anos. Esse lapso temporal originar-se-ia
com o somatório do período de vinte anos – art. 40 da Lei no
9.279/96 (BRASIL,
1996) –, concedido à primeira patente, com a repetição desse mesmo prazo, que
beneficiaria a patente de segundo uso.
Os defensores da não concessão alertam para esse somatório, diante da pos-
sibilidade de permitir um benefício que alcançaria uma proteção por até quarenta
anos. Esse mecanismo conhecido como evergreening –“uma tentativa de prolongar o
monopólio da patente original relacionada ao composto químico propriamente dito”
(SILVA; BRITTO; ANTUNES, 2010, p. 1821) – é a preocupação dos estudiosos quanto
à concessão desse benefício. Já os estudiosos da corrente positiva afirmam que não
se trata de prorrogação, mas sim de um novo prazo para outro produto, diverso do
primeiro, contando-se então vinte anos do depósito deste segundo pedido, uma vez
que os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial) estariam preenchidos.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-201-320.jpg)
![Patentes de segundo uso médico
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 191 a 211
200
Segundo Silva, Britto e Antunes (2010, p. 1822) a indústria farmacêutica alega que:
[...] o prazo efetivo de exploração da patente é inferior ao seu prazo de
validade legal, em virtude de haver um longo período de tempo entre o
patenteamento do produto e o seu lançamento no mercado, em função dos
prazos dos testes exigidos pela regulação. O prazo de efetivo benefício da
patente seria, assim, de apenas 6,5 anos.
3.4 Legislação
Quando o tema a ser estudado em propriedade industrial envolve patente, deve-
-se atentar às determinações mínimas do Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – ADPIC ou do Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS (BARBOSA, 2005), à legislação federal
(BRASIL, 1996) e às determinações expressas pela ANVISA e pelo INPI (AGU, 2011).
Assim, quando o conflito entre os argumentos positivos e negativos abrangem
o campo legal, discute-se a falta de normatização federal sobre o tema. Por isso,
aqueles que pugnam pela concessão afirmam que a controvérsia reside nas determi-
nações da ANVISA, as quais impõem ao detentor da patente que todas as aplicações
possíveis para aquele novo produto sejam descritas tanto na bula quanto no pedido
originário da patente, a fim de que recebam anuência para ingressar no mercado.
Existe sobre a questão da anuência prévia um conflito positivo de atribuições entre
o INPI e a ANVISA, que será explicitado no item 3.6 dessa pesquisa.
Os defensores dos argumentos negativos afirmam que a legislação nacional,
representada pela Lei no
9.279/96, e o acordo TRIPS não permitem a concessão
porque não delimitam em seu texto esta modalidade de patente. Assim, como define
o professor argentino Carlos M. Correa (2007, p. 221):
O acordo TRIPS deixou aos Membros da OMC a liberdade para decidir com
relação ao patenteamento ou não do novo uso farmacêutico de um produto
divulgado. Ele não contém disposição substantiva alguma a esse respeito,
o que não pode ser criada por via interpretativa.
Do mesmo modo, como ocorre com a discussão sobre os países, o INPI, nos
três encontros já realizados para discutir a concessão de patentes de segundo uso,
empreende o debate entre os estudiosos acerca da legalidade e da forma mais ade-
quada de se realizar o registro dessa concessão no Brasil.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-202-320.jpg)
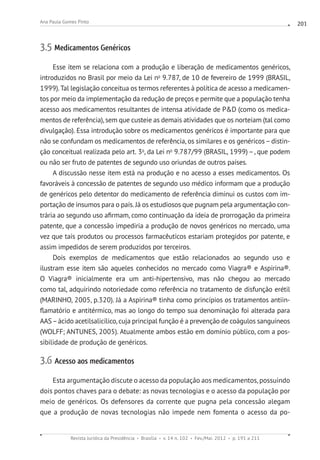
![Patentes de segundo uso médico
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 191 a 211
202
pulação aos medicamentos (como exemplo, a Índia que produz e exporta insumos,
mas cuja população não tem acesso aos medicamentos). Os contrários à concessão
afirmam que o segundo uso médico ampliaria os custos para aquisição de medica-
mentos pelo governo (JANNUZZI; VASCONCELLOS; SOUZA, 2008, p. 1206), vez que
ainda estariam sob a proteção das patentes, determinando assim o pagamento de
royalties aos seus proprietários.
A segunda argumentação remete ao debate sobre a produção de genéricos. Os
favoráveis à concessão afirmam que o segundo uso não impediria a difusão dos
genéricos, por serem objetos distintos de requisição. Já os contrários afirmam que a
concessão de patentes de segundo uso impedirá o acesso da população aos medi-
camentos com um custo mais baixo, uma vez que a patente que já estaria expirada
seria novamente protegida.
3.7 Conclusão parcial
Diante desses argumentos positivos e negativos, nota-se que em ambos os la-
dos existe razão para a concessão e para a não-concessão dessa modalidade de
patentes. Essa discussão se origina no início do pedido da primeira patente, uma vez
que o inventor quando almeja o pedido de depósito de um produto ou processo far-
macêutico precisa se resguardar para que as possíveis aplicações daquela molécula
sejam protegidas. Contudo, a ampliação do escopo de pedidos de uma patente, ao
mesmo tempo em que o protege, depõe contra o próprio inventor: quanto maior o
pedido, maior o tempo para análise e liberação do medicamento para ingressar no
mercado. Da mesma forma, necessitará, em respeito às determinações da ANVISA e
do INPI, descrever as possíveis aplicações daquele medicamento a fim de que a AN-
VISA autorize sua liberação para o mercado e o INPI conceda a patente. Entretanto,
há entre ambos um conflito positivo de atribuições, que começou a ser dirimido em
2011, quando o Advogado Geral da União:
aprovou parecer que preserva a competência da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e do Instituto de Nacional de Propriedade Indus-
trial (Inpi) para concessão de patentes de um medicamento. [...] cabe ao
Inpi analisar o cumprimento dos requisitos para a concessão de uma paten-
te previstos na legislação que trata do assunto. Já a Anvisa é responsável
por avaliar a segurança e eficácia do medicamento. (AGU, 2011)
Assim, a conclusão que se extrai dos argumentos expostos nos itens descritos é
que a concessão de patentes de segundo uso no Brasil ainda precisa ser estruturada](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-204-320.jpg)

![Patentes de segundo uso médico
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 191 a 211
204
passo inventivo (de acordo com o TRIPs) ou atividade inventiva (de acordo com
a lei brasileira). No máximo estaremos diante de uma simples descoberta de
um novo uso terapêutico, que não é considerado invenção nos termos do
art. 10o
da lei no
9.279/96. III -Ademais, a concessão de um novo monopólio
- para um segundo uso de substâncias já conhecidas - prolongaria indefinida-
mente os direitos privados do titular da patente sobre uma matéria que não
apresenta os requisitos, internacionalmente aceitos, de patenteabilidade e, em
contrapartida, reduziria o direito público de acesso aos novos conhecimentos
pela sociedade brasileira, e impediria que pesquisadores nacionais desenvol-
vessem novas formulações e novos medicamentos. IV- Por fim, se dúvida hou-
vesse de que a patente em questão possui os requisitos do art. 8o
, resta-
riam dirimidas com a simples leitura das respostas dos quesitos dos réus,
especialmente, 13. 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
V – Apelação e Remessa Necessária providas.
Da simples leitura dessa ementa observam-se quase todos os argumentos da
corrente que pugna pela não concessão das patentes de segundo uso. Entretanto,
urge analisar a tramitação processual como um todo, para se entender por que pre-
valeceu esse entendimento.
As questões debatidas nesse processo judicial são decorrentes da decisão de
indeferimento de pedido de concessão de uma patente, proferida pelo INPI, funda-
mentada nos arts. 8o
, 10, inciso VIII, e 229-A, da Lei no
9.279/96 (BRASIL, 1996).
Ante a complexidade do tema, o laboratório detentor do objeto recorreu ao judi-
ciário por meio de uma ação de declaração de nulidade de ato administrativo com
pedido de antecipação de tutela, com a intenção de dar continuidade à análise de
seu procedimento, negada pela instância recursal administrativa.
O referido processo judicial buscava analisar a Patente PI 9606903-1, deposi-
tada “em 04/01/1996, através do PCT (PCT/US 96/00091), tendo dado entrada na
fase nacional em 09/07/1997, com reivindicação de prioridade do pedido norte-
-americano US 371341, de 11/01/1995” (BRASIL, 2009). Em primeira instância,
quando da prolação da sentença, deferiu-se a antecipação de tutela e julgou-se a
ação procedente para “[...] declarar nulo o ato administrativo que indeferiu o pedido
da PI 9606903-1, com o conseqüente prosseguimento do exame de mérito do seu
objeto, para posterior concessão da patente [...]” (BRASIL, 2009).
Dessa decisão houve Remessa Necessária ao Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, bem como a interposição de apelação pelo INPI. O resultado do julgamento
desse recurso é a discussão desse tópico, que apresenta os pontos negativos e po-
sitivos para a concessão de patentes de segundo uso médico, sob a visão da Justiça
Federal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-206-320.jpg)
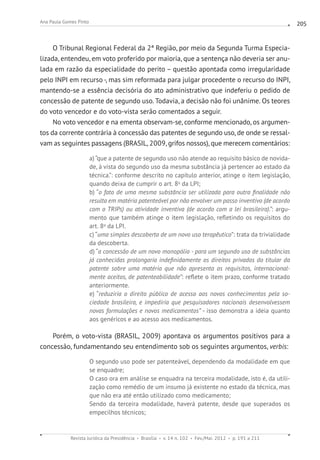
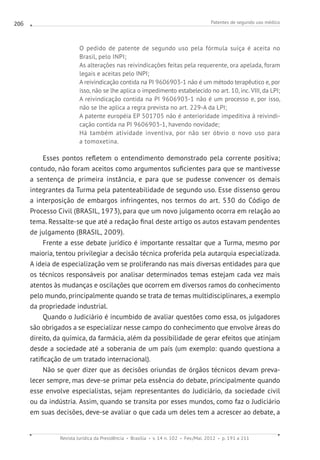

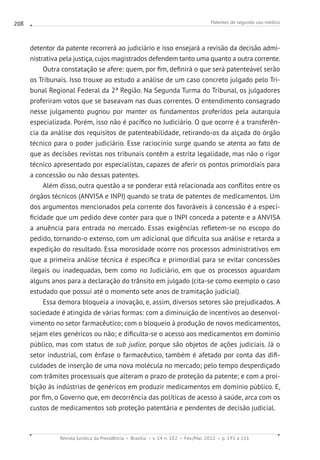

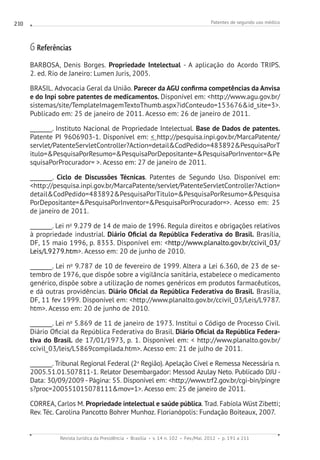
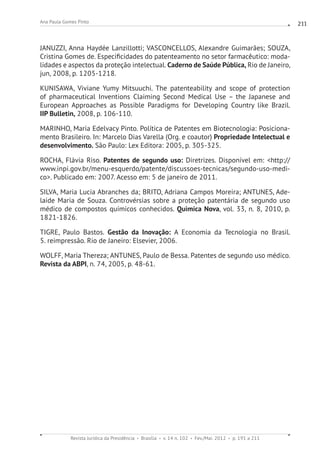


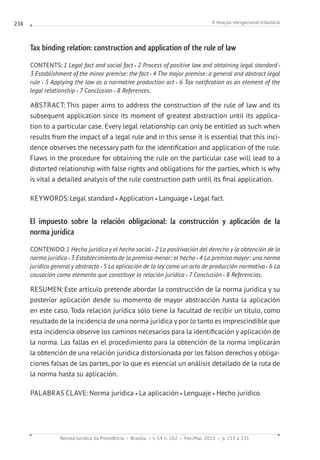
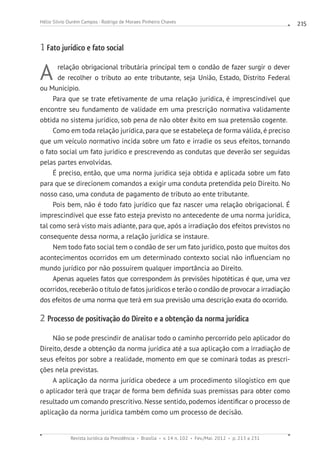
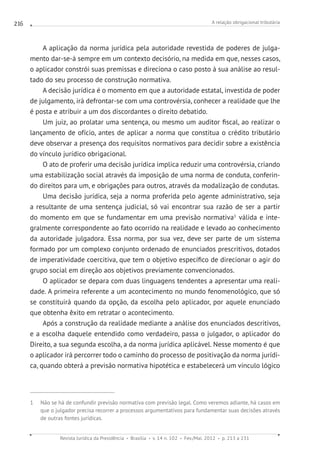
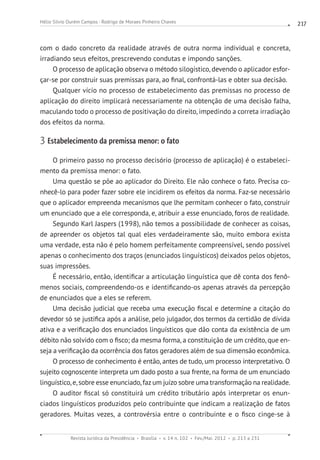
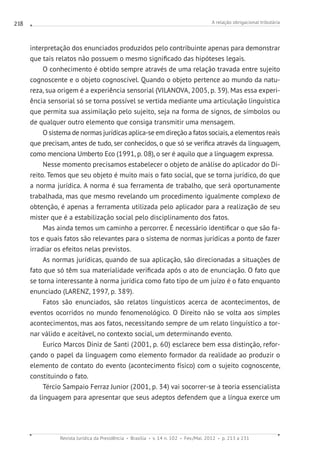
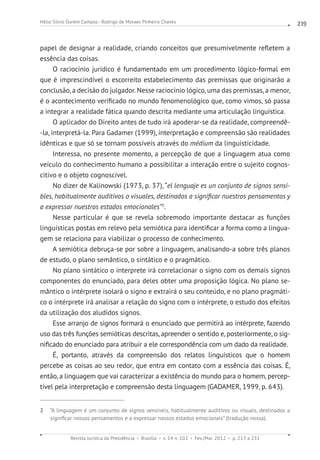
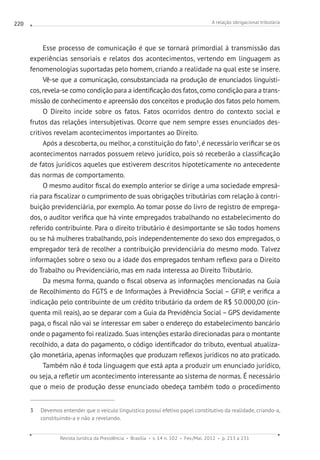
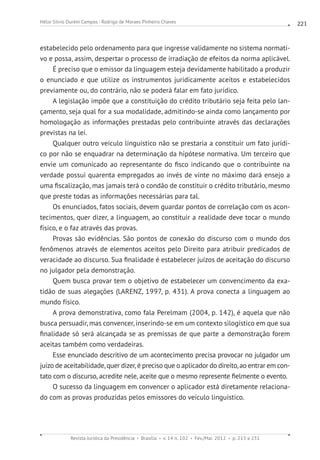
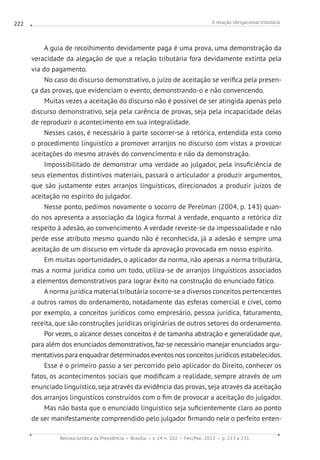
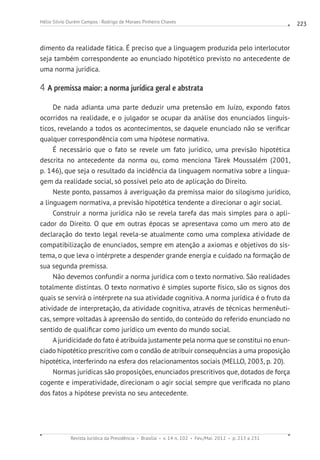
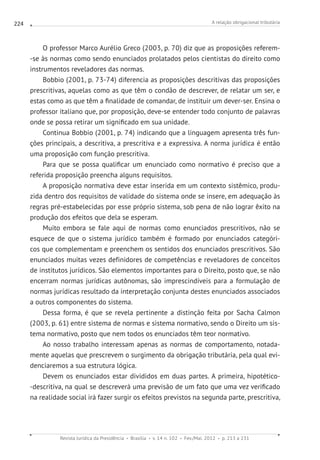
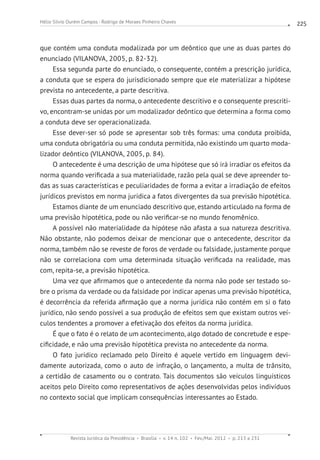
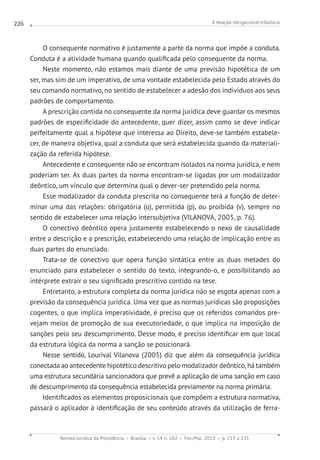
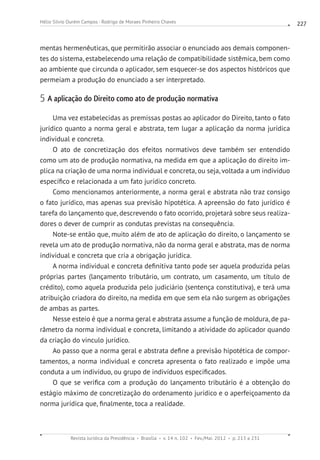
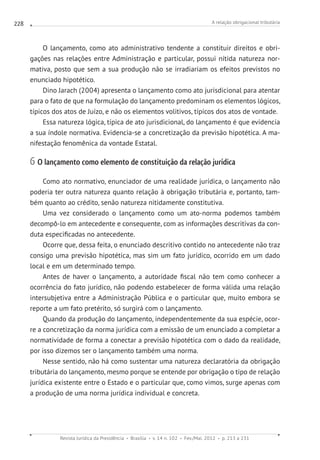
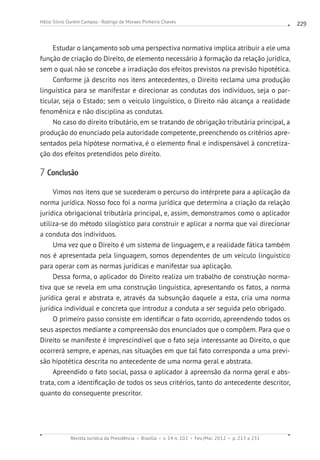

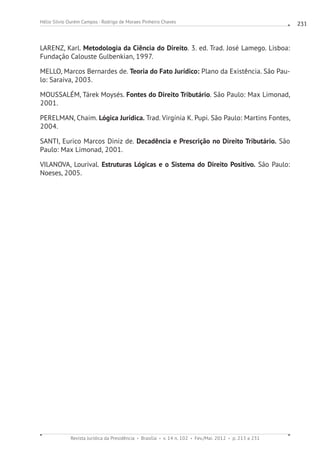


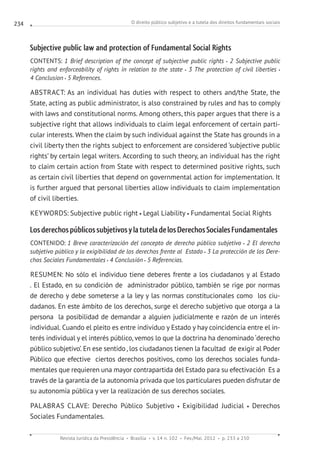
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
Dhenize Maria Franco Dias 235
1 Breve caracterização do conceito de direito público subjetivo
O Direito, como ciência normativa, estabelece uma série de poderes e deveres
entre os sujeitos. Dessa relação de poderes e deveres nasce a “relação jurí-
dica”, da qual participam dois sujeitos, dois polos: “sujeito ativo, pessoa de quem
emana a exigência, o poder de exigir, e o sujeito passivo, pessoa sobre quem recai
a exigência, o dever de cumprir a obrigação jurídica, resultante de regra de direito”
(CRETELLA JÚNIOR, 1998, p. 427). Nesse sentido:
Partindo desses pressupostos, toda relação jurídica se apresenta como re-
lação estabelecida entre várias pessoas e determinada por uma regra de
direito; determinação esta, que consiste em se atribuir à vontade individual
um campo dentro de cujos limites ela possa atuar independentemente de
qualquer vontade alheia.A essência da relação jurídica se define, pois, como
sendo uma esfera independente de domínio da vontade. (RÁO, 1978, p. 23)
Em matéria de Direito, teorias surgiram no âmbito privado que projetam refe-
ridos poderes e deveres como geradores de uma relação jurídica entre o Estado e
o indivíduo, e que conferem ao particular uma situação jurídica peculiar que lhe
dá o “poder de vontade (willensmacht) conferido pela ordem jurídica”, como explica
Windsdcheid (CRETELLA JÚNIOR, 1998, p. 427).
Tal teoria é conhecida como Teoria da vontade, difundida por Windscheid:
[...] por assentar o conceito do direito subjetivo na vontade das pessoas
consideradas, não em abstrato, mas através de uma relação sujeita à dis-
ciplina imposta pela norma jurídica, inicialmente costumeira e, mais tarde,
legislativa. (RÁO, 1978, p. 24)
Ou, ainda, um “interesse juridicamente protegido”, como ensina Ihering. Vicente
Ráo (1978, p. 30) ensina a distinção entre os entendimentos de Savigny e Ihering
no tocante ao elemento “vontade” para a formação do direito subjetivo:
Opondo-se à teoria da vontade de Savigny, Ihering não nega à vontade o
caráter de elemento do direito, na verdade, o reconhece. E difunde a deno-
minada Teoria do interesse. Para Ihering os direitos subjetivos são interesses
juridicamente protegidos.
Dois elementos, diz ele, formam este conceito: um, substancial, que con-
sagra o fim prático do direito e é a utilidade, vantagem ou proveito, que o
direito assegura; outro, formal, que com o primeiro se relaciona como meio
e consiste na ação, ou proteção jurisdicional do direito.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-237-320.jpg)
![O direito público subjetivo e a tutela dos direitos fundamentais sociais
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
236
Combinando ambos os elementos – vontade e interesse –, surge a teoria ec-
lética, que considera o direito subjetivo como o “poder de vontade humana que,
protegido e reconhecido pela ordem jurídica, tem por objeto um bem ou interesse”1
.
Vicente Ráo (1952, p. 205-206) ensina a distinção entre direito objetivo e direito
subjetivo, ao afirmar que:
[...] a norma considerada em si e a faculdade que ela confere às pesso-
as, singulares ou coletivas, de procederem segundo o seu preceito, isto
é, entre a norma que disciplina a ação (norma agendi) e a faculdade de
agir de conformidade com o que ela dispõe (facultas agendi). Aquela, como
mandamento, ou diretriz que é, vive fora da pessoa do titular da faculdade
conferida e constitui o direito objetivo; esta, que na pessoa do titular se
realiza, forma o direito subjetivo.
Luís Roberto Barroso (2009, p. 221) explica que por direito subjetivo “entende-
-se o poder de ação, assente no direito objetivo, e destinado à satisfação de um
interesse”. Já para Vicente Ráo (1952, p. 223-224), são quatro os elementos consti-
tutivos do direito subjetivo:
[...] o sujeito, ou titular da faculdade ou direito; o objetivo sobre o qual a
faculdade recai ou se exerce; a relação, ou ação do titular sobre o objeto; o
poder de invocar a proteção-coerção, que o direito assegura.
Sujeito ou titular do direito é a pessoa, física ou jurídica, a quem o direi-
to pertence e que diretamente ou indiretamente o exerce e dele dispõe;
objeto do direito é a pessoa, ou coisa material, ou imaterial, suscetível de
proporcionar ao titular a utilidade material ou a situação moral que o di-
reito visa; relação entre sujeito e objeto do direito é o fato, ou ato jurídico,
em virtude do qual, aquele realiza sobre este a sua faculdade, o seu poder
de ação; o poder de invocar a proteção-sanção consiste na possibilidade de
usar os meios e remédios legais destinados à proteção ou restauração do
direito ou à reparação das consequências de seu desrespeito, invocando-se
e usando os meios coercitivos que autorizados forem.
Por sua vez, Robert Alexy (2008, p. 185-186) apresenta um modelo de direitos
subjetivos em três níveis:
Se os direitos subjetivos são compreendidos como posições e relações ju-
rídicas [...], então, é possível distinguir entre (a) razões para direitos sub-
jetivos, (b) direitos subjetivos como posições e relações jurídicas e (c) a
exigibilidade jurídica dos direitos subjetivos. A insuficiente distinção entre
1 De acordo com a definição de George Jellinek que examinando as posições de Windsdcheid e Ihering
elaborou a teoria eclética, que une as definições desses dois autores.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-238-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
Dhenize Maria Franco Dias 237
essas três questões é uma das principais causas da interminável polêmica
acerca do conceito de direito subjetivo, sobretudo aquela travada entre as
diferentes variantes das teorias do interesse e da vontade.
Para Richard P. Pae Kim (2010): “Não há que se olvidar que o direito subjetivo é
uma situação jurídica subjetiva pela qual o ordenamento tutela um interesse indivi-
dual mediante o reconhecimento ao titular de um poder da vontade respeitante às
relações em prevalência do Direito Público.”
Quando esse poder de exigir é do particular em face da Administração Pública, ou
seja, quando é derivado de uma relação jurídica administrativa, estaremos diante do
que a doutrina denomina de direito público subjetivo (CRETELLAJÚNIOR, 1998, p. 428).
De acordo com Bobbio (2004), o direito público subjetivo surge como produto
do Estado de Direito ou Estado Constitucional após a passagem do Estado Absolu-
to ou Princeps legibus solutus, como explana o professor português Jorge Miranda
(1997, p. 83-84):
As correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do ilumi-
nismo – de que são expoentes doutrinais LOCKE (Segundo Tratado sobre
o Governo), MONTESQUIEU (Espírito das Leis), ROUSSEAU (Contrato Social),
KANT (além de obras filosóficas fundamentais, Paz Perpétua) – e impor-
tantíssimos movimentos econômicos, sociais e políticos que conduzem ao
Estado constitucional, representativo ou de Direito.
Ponto culminante de viragem é a Revolução Francesa (1789-1799) [...]
Nem por isso, menos nítida é a divergência no plano das ideias e das regras
jurídicas positivas. Em vez da tradição, o contrato social; em vez da sobera-
nia do príncipe, a soberania nacional e a lei como expressão da vontade ge-
ral; em vez do exercício do poder por um só ou seus delegados, o exercício
por muitos, eleitos pela colectividade; em vez da razão do Estado, o Estado
como executor de normas jurídicas; em vez de súbditos, os cidadãos [...]
É durante a transição do Estado Absoluto para o Estado de Direito em que ocor-
re a passagem final do ponto de vista do príncipe (ex parte principis) para o ponto
de vista do cidadão (ex parte populi). Celso Lafer (2001) explica a distinção entre a
perspectiva ex parte populi e a perspectiva ex parte principis. Para o autor (LAFER,
2001), a primeira corresponde a dos que estão submetidos ao poder, enquanto a se-
gunda corresponde a dos que detêm o poder e buscam conservá-lo. O autor explica
as duas perspectivas sob a ótica do tema dos direitos humanos: “A preeminência da
perspectiva ex parte populi tem sua origem na lógica da modernidade, que afirmou
a existência dos direitos naturais, que pertencem ao indivíduo e que precedem a
formação de qualquer sociedade política” (LAFER, 2001, p. 125).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-239-320.jpg)
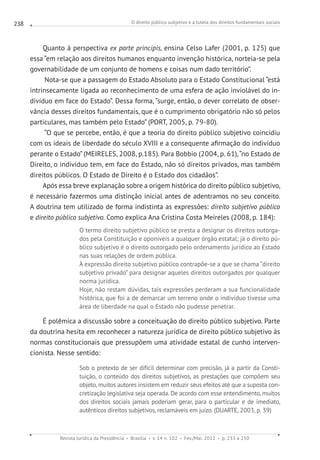
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
Dhenize Maria Franco Dias 239
Santi Romano, em seu trabalho “La Teoria Dei Diritti Publici Subbiettivi”, inserido
no livro intitulado Trattato Orlando, preferiu adotar a definição de Jellinek, que, para
aquele, é uma feliz combinação das teorias de Ihering e de Windscheid, nos ensinando
uma definição sobre direito público subjetivo: “Deixando por ora de pôr em evidência a
característica de público, direito público subjetivo é um interesse protegido mediante
o reconhecimento da vontade individual” (SANTI ROMANO, 2003, p. 16, nota 123).
De acordo com Miguel Seabra Fagundes (1967, p. 171), “os direitos que o ad-
ministrado tem diante do Estado, a exigir prestações positivas ou negativas, consti-
tuem, no seu conjunto, os chamados direitos públicos subjetivos”.
Clarice Seixas Duarte (2004) também delineia o conceito de direito público
subjetivo:
O interessante é notar que o direito público subjetivo configura-se como um
instrumento jurídico de controle da atuação do poder estatal, pois permite
ao seu titular constranger judicialmente o Estado a executar o que deve [...]
Como pressuposto para a aceitação deste poder conferido ao indivíduo, está
a ideia de que entre o Estado e seus membros existe uma relação jurídica
e, consequentemente, os conflitos dela resultantes podem ser resolvidos
judicialmente (Estrada, 1997), ao contrário, por exemplo, do que ocorria no
Estado Absolutista, em que os súditos eram vistos apenas como sujeitos de
deveres e obrigações. Ocorre que a jurisdicização das relações instauradas
com o Estado implica, necessariamente, a limitação de seu poder [...]
O direito público subjetivo confere ao particular, titular de um determinado
direito, o poder de coagir judicialmente o Estado-Administração Pública a satisfazer
um determinado interesse individual quando este coincidir com um determinado
interesse público.
O poder de exigir inerente ao direito público subjetivo é reconhecido pelo pró-
prio Estado e em face deste, além de pressupor a pré-existência de uma relação ju-
rídica entre o Estado e o particular, agora visto como sujeito de direito, o que resulta
numa limitação do poder estatal. Para nós, o direito público subjetivo configura-se
como o ponto de intersecção jurídico entre a autonomia privada e a autonomia
pública. É justamente no direito público subjetivo que há o enlace entre o interesse
público e o interesse privado.
O direito público subjetivo define-se como um mecanismo de defesa contra
abusos do poder estatal na esfera individual e constitui um meio de proteção da
liberdade individual, o que consiste numa característica marcante do liberalismo,
como veremos a seguir.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-241-320.jpg)
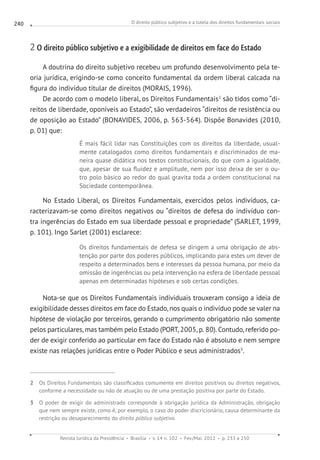
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
Dhenize Maria Franco Dias 241
Cretella Júnior (1998, p. 432-433) explica:
[...] quando o administrado tem o direito de exigir do Estado o cumprimen-
to de obrigações ativas ou passivas, dizemos que está de posse e no uso de
seus direitos públicos subjetivos “erga statum”, figurando, pois como sujeito
ativo de tais direitos e a Administração como sujeito passivo, ao passo que
quando o Estado, no uso de seu “ius imperi” ou potestade, como, por exem-
plo, na realização efetiva dos créditos resultantes da imposição tributária,
exige do particular a cobrança, está, por sua vez, na acionabilidade de seus
direitos públicos subjetivos, passando agora a figura como sujeito ativo da
relação de administração.
Assim, o direito público subjetivo produz efeitos quando o direito de ação é
exercido pelo particular, como explica José Reinaldo de Lima Lopes (2006):
O direito subjetivo é feito valer através do direito de ação, pelo qual aquele
que tem interesse (substancial) provoca o órgão jurisdicional do Estado
(Poder Judiciário) para obter uma sentença e se necessário sua execução
forçada, contra a outra parte que lhe deve (uma prestação, uma ação ou
omissão).
É facultado ao particular exigir da Administração, através de meios judiciais
(ações judiciais), a efetivação dos Direitos Fundamentais, em especial, de um direito
reconhecido como direito público subjetivo, quando se sinta prejudicado na fruição
desse direito.
Em outras palavras, o Judiciário pode determinar a entrega das prestações
positivas, eis que tais direitos fundamentais não se encontram sob a dis-
cricionariedade da Administração ou do Legislativo, mas se compreendem
nas garantias institucionais da liberdade, na estrutura dos serviços públicos
essenciais e na organização de estabelecimentos públicos (hospitais, clíni-
cas, escolas primárias etc). (TORRES, 2010, p. 74)
Compete ao Poder Judiciário a tarefa de oferecer proteção jurídica aos Direitos
Fundamentais Sociais, “integrando-se ao catálogo dos direitos fundamentais e do
mínimo existencial” (TORRES, 2001, p. 289).
O mínimo existencial4
consiste em um conjunto de bens e utilidades bási-
cas necessárias para a subsistência física e indispensável ao desfrute dos direitos
em geral. O mínimo existencial está inserido no cerne do Princípio da Dignidade
4
O mínimo existencial não tem dicção constitucional própria. Deve-se procurá-lo na ideia de liberdade,
nos princípios constitucionais da igualdade, do devido processo legal, da livre iniciativa, da dignidade
do homem e na Declaração dos Direitos Humanos.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-243-320.jpg)
![O direito público subjetivo e a tutela dos direitos fundamentais sociais
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
242
Humana e pertence à esfera jurídica individual, sendo inerente a toda pessoa hu-
mana. Nesse sentido, Otávio Henrique Martins Port (2005, p. 107) afirma que o
mínimo existencial “nada mais é do que o núcleo mínimo e essencial dos direitos
fundamentais – o princípio da dignidade da pessoa humana”.
O que autoriza, constatada uma lesão a um Direito Fundamental Social, a exi-
gência contra o Poder Público de imediato e individualmente (DUARTE, 2004). Nes-
se sentido, ensina Clarice Seixas Duarte (2004, grifo nosso):
No Brasil, especialmente a partir da Constituição Federal de 1988, com a
adoção dos princípios do Estado Social e Democrático de Direito, houve
uma transformação profunda no cenário jurídico. A previsão de veiculação
de conflitos de interesses meta-individuais por meio de ações judiciais–de
que são exemplo a ação civil pública, o mandado de injunção, o manda-
do de segurança coletivo e a ação popular – fez com que essa categoria
assumisse novas dimensões. De fato, quando se trata de interesses coleti-
vos ou difusos, é possível afirmar que a ação transformou-se em um canal de
participação social na gestão da coisa pública, ou seja, em um instrumento de
participação política5
[...]
Clarice Seixas Duarte (2004) ainda explica que a ação judicial é apenas um
canal de exigibilidade do direito subjetivo e não o seu fundamento, já que é na lei
e nas políticas públicas definidas na Carta Magna de 1988 que se formam as bases
para a ação da Administração-Estado.
Qualquer desrespeito aos parâmetros definidos na Constituição de 1988 auto-
riza o cidadão-administrado a agir em interesse próprio, mas com finalidade pública
(constitucional), no intuito de retificar a situação pública irregular ou coagir o Poder
Público a concretizar políticas públicas que visem ao bem-estar social.
Portanto, é através do direito de ação que o particular pode exigir uma deter-
minada contraprestação por parte do Poder Público para que efetive um interesse
individual que coincida com o interesse público, como por exemplo, a construção de
uma escola ou de um hospital público. Há o interesse individual do particular em
receber assistência médica ou educacional, referido interesse individual converge
com o interesse público que tem por escopo beneficiar o maior número de pessoas
possível através de uma determinada ação pública.
5 O sistema político gerado pela Constituição de 1988 é um sistema híbrido que incorporou na sua
organização amplas formas de participação popular no plano do processo decisório federal, assim
como, no plano local.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-244-320.jpg)
![Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
Dhenize Maria Franco Dias 243
Nota-se que é o direito público subjetivo que oferece a faculdade ao particular
de exigir determinada contraprestação pública através de um instrumento constitu-
cional: a ação judicial.
3 A tutela dos Direitos Fundamentais Sociais em face do Estado
Otávio Henrique Martins Port afirma que o particular tem o interesse em ver
tutelados e concretizados os Direitos Fundamentais de natureza social (como a saú-
de e a educação) que demandam uma maior contraprestação do Estado pela ordem
jurídica (logicamente por meio do direito de ação) tanto em benefício individual
como em benefício coletivo:
Com efeito, não há como se negar a possibilidade da existência do deside-
rato (vontade) do indivíduo de ver concretizado o pleno exercício de seus
direitos sociais, de cunho material ou imaterial, devidamente tutelados
pela ordem jurídica, como o direito à educação ou à saúde, em benefício
próprio ou de outrem, ou de toda a comunidade, manifestado na relação ju-
rídica firmada entre ele, indivíduo (ente dotado de personalidade jurídica),
de um lado, e de outro lado, outro indivíduo ou o Estado (ente dotado de
personalidade jurídica de direito público). (PORT, 2005, p. 82)
Luís Roberto Barroso (2009, p. 222) explica que as normas constitucionais de-
finidoras de direitos subjetivos conferem aos “seus beneficiários situações jurídicas
imediatamente desfrutáveis, a serem efetivadas por prestações positivas ou negati-
vas, exigíveis do Estado ou de outro eventual destinatário da norma”.
E continua o autor que, na hipótese de não cumprimento espontâneo de tal
dever jurídico, “o titular do direito lesado tem reconhecido constitucionalmente o
direito de exigir do Estado que intervenha para assegurar o cumprimento da norma,
com a entrega da prestação” (BARROSO, 2009, p. 222). É o direito de ação, previsto
no art. 5o
, inciso XXXV, da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988).
Ao administrado que se sinta lesado por tal inércia estatal é facultado o direito
público subjetivo de exigir do Estado o cumprimento de um determinado mandamus
constitucional, uma vez que a Administração Pública, assim como o particular, está
submetida aos ditames constitucionais e deve cumpri-los. Nesse sentido:
[...] pois que a Administração se submete ao princípio da legalidade, o ad-
ministrado tem o direito público subjetivo de exigir tal conformidade de
adequação do ato à lei, quando o pronunciamento o atinja individualmen-
te, prejudicando-o. (CRETELLA JÚNIOR, 1998, p. 433)](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-245-320.jpg)
![O direito público subjetivo e a tutela dos direitos fundamentais sociais
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
244
Mancuso nos oferece uma reposta quanto à questão do devedor, o sujeito pas-
sivo dos Direitos Sociais, que entende ser o Estado, e explica que a natureza dos
direitos subjetivos advém de sua incorporação ao patrimônio do sujeito. Referidos
direitos passam a ser objeto de uma proteção diferenciada pelo ordenamento jurídi-
co, proteção esta que leva à possibilidade de acionar a máquina estatal em benefício
próprio movido por um interesse público:
Os direitos subjetivos compreendem posições de vantagem, privilégios,
prerrogativas, que uma vez integradas ao patrimônio do sujeito, passam a
receber tutela especial do Estado (sobretudo através da ação judicial, de
atos de conservação e de formalização perante órgãos públicos etc.). [...]
Quando tais prerrogativas se estabelecem em forma de critérios formados
contra ou em face do Estado, tomam a designação de direitos públicos
subjetivos. (MANCUSO, 1991, p. 37)
Outra polêmica se dá quanto à extensão da qualidade de direitos públicos
subjetivos aos Direitos Sociais. Há autores que se posicionam como Ferreira Filho
(2008, p. 49-50), que afirma: “quanto à natureza, os direitos sociais são direitos sub-
jetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir – como é típico das liberdades
públicas de modo geral – mas sim poderes de exigir. São direitos ‘de crédito’”.
A dificuldade de atribuir o caráter de direitos subjetivos aos Direitos Sociais é
apontada por José Reinaldo de Lima Lopes (2006, grifo nosso):
Os novos direitos, que, aliás, nem são tão novos visto que já se incorpora-
ram em diversas constituições contemporâneas, inclusive brasileiras ante-
riores a 1988, têm característica especial. E esta consiste em que não são
fruíveis ou exequíveis individualmente. Isso não quer dizer que não possam,
em determinadas circunstâncias, ser exigidos judicialmente como se exi-
gem judicialmente os direitos subjetivos. Mas, de regra, dependem, para
sua eficácia, de atuação do Executivo e do Legislativo por terem o caráter
de generalidade e publicidade. Assim é o caso da educação pública, da
saúde pública [...] Ora, todos os direitos aí previstos têm uma característica
que durante muito tempo assombrou os que foram formados em nossa
dogmática herdeira do século XIX: não se trata de direitos individuais, não
gozam, aparentemente, da especificidade da proteção proposta no art. 75
do Código de Processo Civil [a todo direito corresponde uma ação que o
assegura]: qual a ação, quem é o seu titular, quem é o devedor obrigado?
Naturalmente, a dogmática do século XIX, que ainda prevalece entre nós,
teve grandes dificuldades para dar resposta a isso.
Assim, como também aponta Otávio Port (2005, p. 82):](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-246-320.jpg)
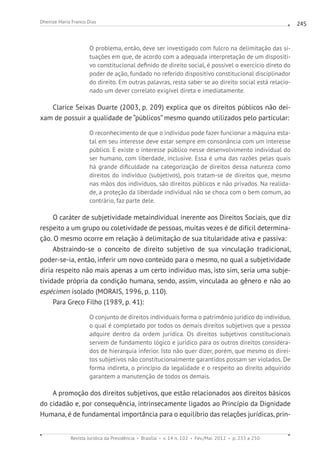
![O direito público subjetivo e a tutela dos direitos fundamentais sociais
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 14 n. 102 Fev./Mai. 2012 p. 233 a 250
246
cipalmente para a relação com o Estado, e assegura os princípios norteadores de um
estado democrático: separação de poderes, segurança jurídica e autonomia indivi-
dual. A fruição desses direitos nada mais é do que a garantia da autonomia privada
e o meio pelo qual os cidadãos podem exercer sua autonomia pública:
Promover direitos subjetivos significa per se prover a garantia da autono-
mia privada. Uma vez que sem direitos básicos que assegurem a autonomia
privada dos cidadãos não se haverá qualquer médium por meio do qual os
cidadãos possam usufruir de sua autonomia pública. (CHAI, 2004, p. 176)
Verifica-se uma relação bilateral existente entre a autonomia privada e a auto-
nomia pública que são a base para o exercício da cidadania e da dignidade humana,
princípios que asseguram a confiança e a estabilidade nas relações jurídicas entre
particulares e nas relações com o Estado.
E para que essas relações jurídicas e estatais sejam equilibradas, é necessário
assegurar uma distribuição igualitária de direitos subjetivos a todos. O que, para
Habermas (1997), constitui o papel do direito moderno:
A distribuição dos direitos subjetivos só pode ser igualitária se os cidadãos
– enquanto legisladores – estabelecem um consenso acerca dos aspec-
tos e critérios conforme os quais o igual vai receber um tratamento igual,
enquanto desigual um tratamento desigual. E, portanto, apenas pode ter
força legítima (legitimante) um procedimento democrático que promova
um entendimento racional sobre essa questão.
A doutrina tende a salientar apenas o dever objetivo da prestação de políticas
públicas pelos entes públicos e tenta minimizar seu conteúdo subjetivo. Contudo,
mesmo nessa hipótese, Canotilho (1999) assevera que ainda que não seja possível
a exigência judicial de um Direito Social como no modelo clássico de direito subje-
tivo, em se tratando de Direito Fundamental, os direitos à saúde e à educação, por
exemplo, não deixam de receber a qualidade de direitos subjetivos pelo fato de não
haver recursos materiais para sua concretização por parte do Estado.
Enquanto Otávio Henrique Martins Port (2005, p. 106) afirma que:
[...] os direitos sociais e econômicos podem gerar direitos subjetivos pú-
blicos positivos, plenamente exigíveis, não podendo as contingências or-
çamentárias destituir os direitos sociais de sua eficácia ou inviabilizar a
sua exigibilidade jurisdicional, caso assim se conclua em vista da feição
atribuída ao direito pela Constituição.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-248-320.jpg)
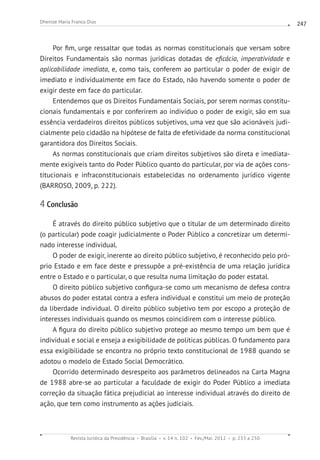
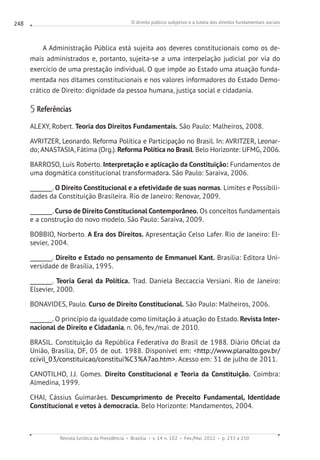
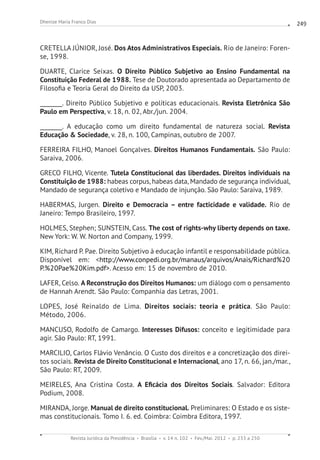

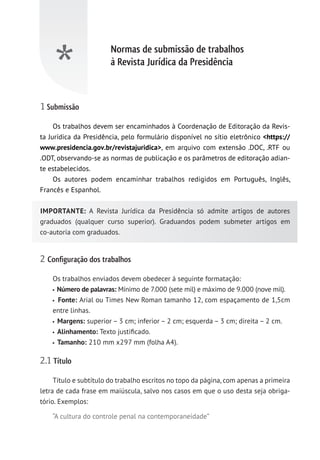
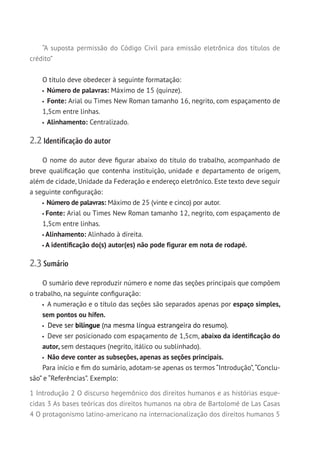
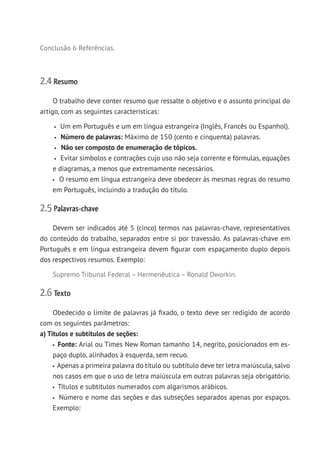
![2 A evolução da disciplina sobre os juros no Direito brasileiro
2.1 O Direito colonial e a vedação inicial à cobrança de juros
2.2 A liberalização da cobrança de juros e sua consagração
b) Texto:
Número de palavras: Mínimo de 7.000 (sete mil) e máximo de 9.000 (nove mil).
Fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho 12, sem negrito ou itálico, com
espaçamento duplo depois do título da seção ou da subseção e espaçamento
de 1,5cm entre linhas.
Alinhamento: Justificado.
Não deve conter recuo ou espaçamento entre os parágrafos.
c) Destaques: Destaques em trechos do texto devem ocorrer somente de acordo com
as seguintes especificações:
Expressões em língua estrangeira: Itálico (em trechos já em itálico, as expres-
sões estrangeiras não devem ser destacadas). Exemplo:
[...] Contudo, a Lei de Repressão à Usura, de 23 de julho de 1908, mais conhecida
por lá como Ley Azcárate, prevê a nulidade de contrato de mútuo que estipule juros
muito acima do normal e manifestamente desproporcional com as circunstâncias do
caso (ESPANHA, 1908).
Ênfase, realce de expressões: Itálico. Exemplo:
“A terceira parte introduz uma questão relativamente nova no debate jurídico brasi-
leiro: o modelo real das relações entre direito e política.”
Duplo realce de expressões: Não são permitidos realces, simples ou duplos,
de expressões.
d) Citações: Obedecem à Norma 10520 da ABNT.
Citações com até três linhas: Devem permanecer no corpo do texto, entre as-
pas, sem itálico. Exemplo:
O autor registra ainda que, segundo o artigo 138 do Código Comercial Alemão,
“não basta que os juros sejam excessivos, nem também a mera desproporção entre
prestação e contraprestação, pois é preciso que o contrato em seu todo [...] seja
atentatório aos bons costumes, ou seja, imoral” (WEDY, 2006, p. 12).](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-256-320.jpg)
![Citações com mais de três linhas: Devem compor bloco independente do pará-
grafo, sem espaço entre o texto antecedente e o texto subsequente, alinhadas a
4cm da margem esquerda, com fonte 11, sem aspas e sem itálico, com espaça-
mento entrelinhas simples. Exemplo:
De fato, na consulta organizada por Jacques Maritain a uma série de pensadores e
escritores de nações membros da UNESCO, que formaram a Comissão da UNESCO
para as Bases Filosóficas dos Direitos do Homem, em 1947, é possível observar que
Mahatma Gandhi destacou justamente a dimensão do dever para a preservação do
direito de todos:
Os direitos que se possa merecer e conservar procedem do dever bem cum-
prido. De tal modo que só somos credores do direito à vida quando cum-
primos o dever de cidadãos do mundo. Com essa declaração fundamental,
talvez seja fácil definir os deveres do homem e da mulher e relacionar
todos os direitos com algum dever correspondente que deve ser cumprido.
Todo outro direito só será uma usurpação pela qual não valerá a pena lutar.
(MARITAIN, 1976, p. 33)
Em segundo lugar, essa aceitação se deu porque tanto o esboço chileno [...].
Destaques nas citações: Os destaques nas citações devem ser reproduzidos de
forma idêntica à constante do original ou como inseridos pelo autor do artigo.
Destaques do original: Após a transcrição da citação, empregar a expressão“grifo(s)
no original”, entre parênteses, acompanhando a citação. Exemplo:
A escola ocupa o lugar central na educação, enclausurando a criança em
contato apenas com seus pares e longe do convívio adulto. “A família tor-
nou-se um espaço de afeição necessária entre os cônjuges e entre pais e
filhos” (ARIÈS, 1973, p. 8, grifos no original).
Destaque do copista: Após a transcrição da citação, empregar a expressão “grifei”
ou “grifos nossos” entre parênteses. Exemplo:
Em suma, o ambiente de trabalho constitui-se em esfera circundante do traba-
lho, espaço transformado pela ação antrópica. Por exemplo, uma lavoura, por mais
que seja realizada em permanente contato com a terra, caracteriza-se como um meio
ambiente do trabalho pela atuação humana. Em outras palavras, apesar de a natureza
emprestar as condições para que o trabalho seja realizado, a mão semeia, cuida da
planta e colhe os frutos da terra, implantando o elemento humano na área de pro-
dução. (ROCHA, 2002, p. 131, grifos nossos)](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-257-320.jpg)
![Sistema de chamada das citações: Utiliza-se o sistema autor-data, segundo o qual
se emprega o sobrenome do autor ou o nome da entidade, a data e a(s) página(s) da
publicação de onde se retirou o trecho transcrito. Vejam-se os exemplos:
Citação indireta com até três linhas sem o nome do autor expresso no texto:
A criança passa a ocupar as atenções da família, tornando-se dolorosa a sua per-
da e, em razão da necessidade de cuidar bem da prole, inviável a grande quantidade
de filhos (ARIÈS, 1973, p. 7-8).
Citação direta com mais de três linhas com o nome do autor expresso no texto:
É interessante registrar a manifestação de Calmon de Passos (1989, p. 112) a
propósito do tema:
Entendemos, entretanto, descaber o mandado de injunção quando o adim-
plemento, seja pelo particular, seja pelo Estado, envolve a organização pré-
via de determinados serviços ou a alocação específica de recursos, porque
nessas circunstâncias se faz inviável a tutela, inexistentes os recursos ou
o serviço, e construir-se o mandado de injunção como direito de impor
ao Estado a organização de serviços constitucionalmente reclamados teria
implicações de tal monta que, inclusive constitucionalmente, obstam, de
modo decisivo, a pertinência do mandamus na espécie. [...]
2.7 Referências:
Todos os documentos mencionados no texto devem constar nas referências, que
devem se posicionar com espaçamento simples depois do fim do texto. O destaque
no nome do documento ou do evento no qual o documento foi apresentado deve
ser feito em negrito. Ressalte-se que, no caso de publicações eletrônicas, devem
ser informados o local de disponibilidade do documento e a data do acesso a esse.
Vejam-se exemplos:
ABRÃO, Nelson. Direito bancário. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
ARGENTINA. Código Civil de La República Argentina. 1869. Disponível em: http://
www.infoleg.gov.ar. Acesso em: 4 de outubro de 2010.
CAMPILONGO, Celso Fernandes; ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da; MATTOS, Paulo
Todeschan (Coord.). Concorrência e Regulação no Sistema Financeiro. São Paulo: Max
Limonad, 2002.](https://image.slidesharecdn.com/rjp102-integral-190318133347/85/Revista-Juridica-102-integral-258-320.jpg)
