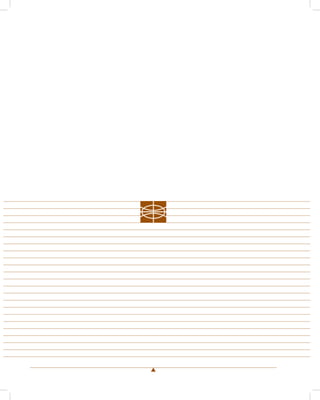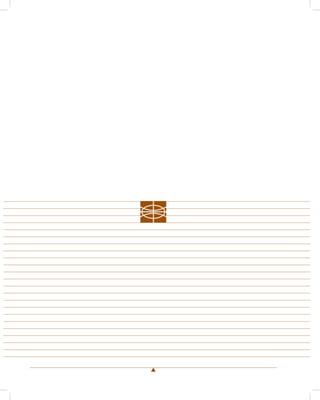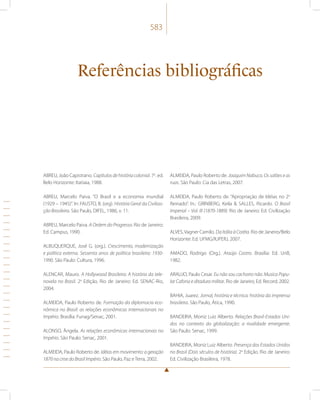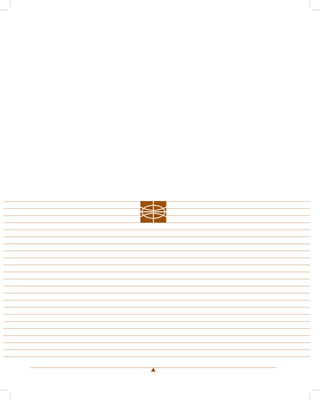O documento apresenta um manual sobre a história do Brasil destinado a candidatos do concurso de admissão à carreira diplomática. O manual contém nove capítulos abordando diferentes períodos históricos brasileiros, desde o período colonial até a Nova República, com o objetivo de facilitar a preparação dos candidatos para a prova de história do Brasil.


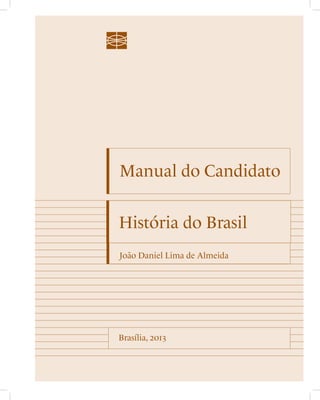


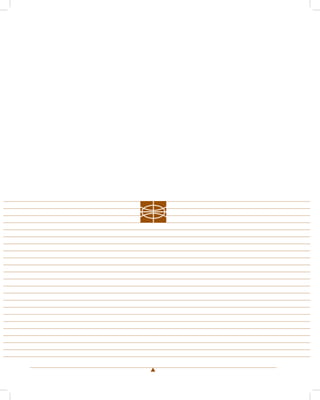


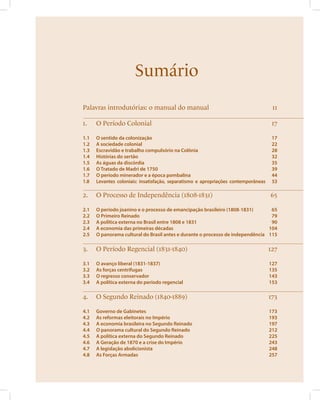

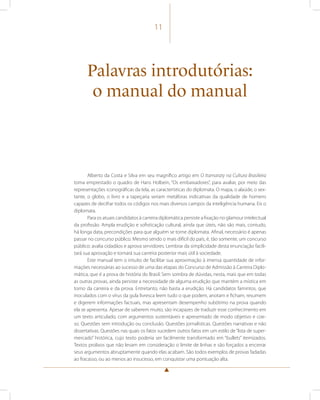




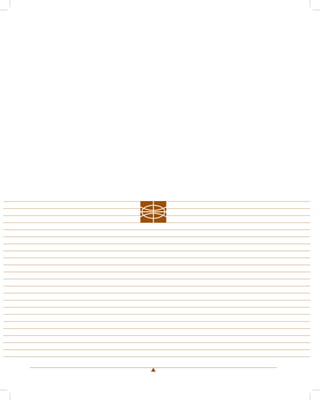















































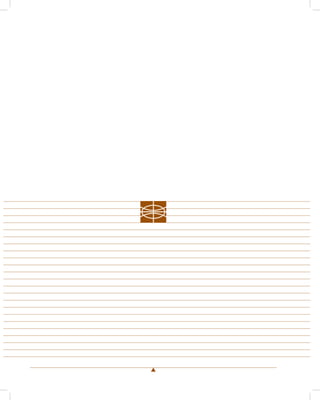
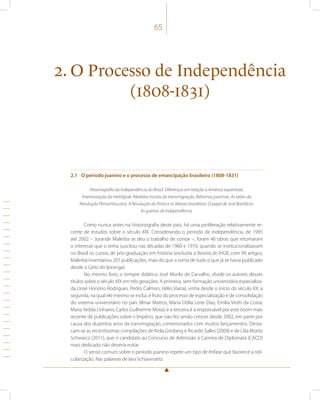















































































![145 O Período Regencial
(1831-1840)
do início dos anos regenciais. Não se quer negar, no entan-to,
a inescapável dinâmica processual da construção, bem
como a consolidação de um Estado, qualquer Estado, que
torna arbitrárias datações precisas. Reconhecemos como o
fez Carvalho ao afirmar que
o processo de enraizamento social da monarquia, de
legitimação da Coroa perante as forças dominantes do
país foi difícil e complexo. Embora se possa dizer que es-tava
definido em torno de 1850, ele permaneceu tenso
até o final do império (1996, pp. 229-30).
Seguramente uma das bases dessa escolha cronoló-gica
é o texto Ação, reação e transação, de Justiniano José
da Rocha, publicado como panfleto em 1855. Justiniano
era um jornalista, mais tarde político, com fortes vínculos
com o partido conservador99, instituição que nasceu justa-mente
do regresso. Como mito fundador do partido con-servador,
o regresso era, para Justiniano, também o mito
fundador do Estado nacional.
99 Pesquisas recentes comprovam que Justiniano recebia pagamentos de altas
figuras do partido conservador para publicar panfletos na imprensa da época
que fossem favoráveis ao governo, em uma relação algo promíscua entre
poder e imprensa que nunca se tornaria exceção no Brasil. Ver BARBOSA,
Silvana Mota. Panfletos vendidos como canela. In: CARVALHO, José Murilo
de. (org.). Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007.
Nesse panfleto, a luta pela construção do Estado
se desdobrou em três fases: a primeira, batizada de “ação”
(1822-36), caracterizou-se pela “[…] luta dos elementos
monárquico e democrático”, estendeu-se por todo o Pri-meiro
Reinado e foi sucedida do “[…] triunfo democrático
incontestado”, com a implementação das diversas refor-mas,
que se tornaram parte da agenda liberal após o sete
de abril de 1831. Triunfo para Justiniano é uma palavra ne-gativa
que remonta aos desfiles romanos dos generais que
mandavam erigir “arcos” especialmente para essas ocasiões
em que o povo de Roma humilhava, cuspia, atirava dejetos
nos prisioneiros bárbaros. Triunfo é mais que a vitória, é a
humilhação pós-vitória, é o exagero da democracia, desig-nação
dada aos adeptos do federalismo, que se contrapu-nha
aos elementos monárquicos, adeptos da centralização
do poder na Corte do Rio de Janeiro.
Na segunda fase, “reação” (1836-52), a pressão con-servadora
conseguiu, de modo dinâmico, reverter as
medidas liberais alcançadas na primeira parte do período
regencial, abrindo o caminho para o “domínio do princípio
monárquico”. Estariam aí lançadas as bases da centraliza-ção
política, marco apropriado pela historiografia posterior
a Justiniano para estabelecer, a partir de então, o início do
processo de construção do Estado nacional.
Em um esforço dialético, típico do argumento con-servador,
Justiniano argumentaria que a síntese entre as
duas fases antagônicas daria origem ao terceiro momento,](https://image.slidesharecdn.com/1048-manualdehistoriadobrasil-141006201303-conversion-gate02/85/manual-de-historia-do-brasil-145-320.jpg)


























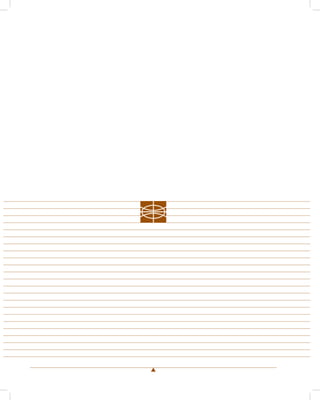





























![História do Brasil 202
brasileira do século XIX. Dos quase 2.500 produtos atingi-dos
pela lei, apenas 2.146 estavam submetidos à nova taxa
média de 30%. Outros 173 produtos tinham taxações que
variavam entre 2% e 60%. Vista como uma afronta à Ingla-terra
pela recusa na renovação dos privilégios, a Lei Alves
Branco não diferia das alíquotas da Bélgica e da Holanda
(30% e 35%) e era bem inferior às do Zollverein, da Itália,
da França e dos Estados Unidos (aonde chegava a 50%) na
época.
É inegável o caráter industrialista da lei de 1844, e o
próprio Alves Branco o reconhece em discurso no Parla-mento
reproduzido no Relatório de 1845:
Sim, Senhores, com huma Tarifa meramente fiscal, e
que não podíamos fazer variar em consequência de
Tratados, fomos forçados a tirar de empréstimos nestes
últimos trinta e quatro annos enormes quantias. Com
huma Tarifa meramente fiscal, e que nada protegia,
mallograrão-se no paiz muitas tentativas de manufactu-ras
[...] (Relatório do Ministério da Fazenda, 1845, p. 37).
Se, de um lado, isentava de tarifas gêneros de con-sumo
alimentar – vinhos, farinhas, peixe –, de outro, desa-gravava
ainda mais máquinas a vapor (que já eram isentas
e agora não pagavam nem taxa de expediente) e insumos
industriais – folha de flandres, cobre, ferro. Quotas de 40%
a 60% ficavam reservadas aos vidros e chás produzidos no
Brasil ou a itens como o canhamaço, que podiam ser fa-cilmente
substituídos. No entanto, o que Cervo e Bueno
chamam de “espírito de 1844” teria sido desmobilizado
por seu próprio sucesso. O sucesso da cafeicultura e suas
rendas seguras teriam acomodado a elite nacional, que
não buscou alternativas de superação e desenvolvimento.
Contribuiu para tanto o que esse autor caracteriza como
uma política tarifária errática128, na qual se sucediam leis li-berais
– que ele considera predominantes – a leis protecio-nistas,
impedindo a previsibilidade e a organização eficaz
do processo econômico nacional. Esse é também o enten-dimento
de João Antônio de Paula. Protecionismo, livre-
-cambismo, de novo protecionismo logo sucedido por mais
livre-cambismo, que se alternaram, sempre aumentando as
tarifas de acordo com a necessidade de arrecadação.
André Villela discorda da avaliação e propõe uma
metodologia diversa. Analisa a média tarifária ponderada
pelo peso/impacto do produto taxado e, após passar em
revista uma por uma, considera que, no geral, as tarifas
tiveram caráter protecionista. Reconhece que, depois de
mais de uma década de vigência da Lei Alves Branco, a in-fluência
de Ângelo Muniz da Silva Ferraz129 nas tarifas que
128 No total, foram dez as alterações tarifárias no Império: Tarifa Alves Branco
(1844); Tarifa Wanderley (1857); Tarifa Sousa Franco (1857-58); Tarifa Silva
Ferraz (1860); Tarifa Itaboraí (1869); Tarifa Rio Branco (1874); Tarifa Ouro Preto
(1879); Tarifa Saraiva (1881); Tarifa Belisário (1887); e Tarifa João Alfredo (1889).
Na República, o encilhamento (1890) faz nova revisão tarifária. O nome é
sempre o do ministro da Fazenda no momento da publicação do decreto.
129 Presidente de uma comissão para esse fim que elaborou as mudanças
efetivadas por João Maurício Wanderley (1857), Bernardo Sousa Franco](https://image.slidesharecdn.com/1048-manualdehistoriadobrasil-141006201303-conversion-gate02/85/manual-de-historia-do-brasil-202-320.jpg)





































































![História do Brasil 272
imenso apoio popular194, perdeu-se no atoleiro das revoltas
ao norte (Canudos) e ao sul do país (Federalista), que con-fiscaram
a legitimidade do projeto positivista assinalando a
evidente falta de ordem no progresso inicial da República.
A questão do papel político reservado às forças ar-madas
na república estaria indissociavelmente vinculada à
necessidade de modernização e aparelhamento das tro-pas,
sempre retomada no contexto de rebeliões populares
(Contestado, por exemplo). Esse assunto retornaria com
frequência nas décadas seguintes, transformando o exér-cito
em “poder desestabilizador” do regime oligárquico.
Rebeliões populares e militares voltariam a se confundir na
Revolta da Vacina em (1904), e o jacobinismo ressurgido
domesticado na “Política das Salvações” do governo Her-mes
da Fonseca (1910-14), e, de novo no tenentismo dos
anos de 1920, mas com muito menor apoio popular e qua-se
nenhum apoio na alta cúpula do exército. À medida que
se profissionalizava, a corporação militar se afastava das
massas, e passava a reivindicar uma revolução que seria
feita em nome do povo mas não com ele.
194 Muitos outros fracassaram no posto de herói da república. Benjamin
Constant, Deodoro, Patrocínio nenhum emplacou. A morte prematura de
Floriano fez com que a república tivesse que encontrar um herói asséptico,
histórico, recriado: Tiradentes. Ensina José Murilo de Carvalho em A formação
das Almas a figura de Tiradentes imortalizado por Pedro Américo com o rosto
de Cristo, esquartejado e martirizado, se tornaria o símbolo heroico de uma
república com dificuldades de angariar apoio popular, sobretudo entre os
antigos escravos, simpáticos e saudosos do imperador e da princesa.
Já os civis conseguiram mal ou bem se articular no
congresso nacional com o PRF, e, também no Executivo
quando da sucessão de Prudente de Moraes. O capital
político de Prudente havia aumentado após o atentado
fracassado e a decretação de estado de sítio e repressão
feroz aos jacobinos permitiu-lhe certo grau de estabiliza-ção.
Em 15 de novembro de 1898, com o fim do mandato
de Prudente de Moraes, e, após nove anos de turbulências,
começava a ter fim a “década do caos”.
A normalização definitiva da vida política republica-na
seria afinal conquistada pelo segundo presidente civil,
Manoel Ferraz de Campos Sales (1898-1902), antigo minis-tro
da justiça do governo provisório, e então governador
de São Paulo. A colorida citação de Costa Porto, empresta-da
de Maria Efigênia Lage de Resende, caracteriza assim o
projeto do político de Campinas:
O paulista tem um plano: sanear as finanças, saneá-las
drasticamente e, como prevê dificuldades, quer come-çar
pela normalização da vida política a fim de encon-trar
apoio e ficar livre para agir. Sua posição é precária:
não tem o Exército para prestigiá-lo, não tem as “bri-gadas”
[Força Pública Estadual], não tem nem mesmo
o calor do civilismo e da pacificação de Prudente, não
pode nomear e demitir presidentes, nem afastar gover-nadores,
e precisa do Congresso, a fim de não passar por
sobressaltos e crises, em que se viram envolvidos os pre-sidentes
que o antecederam. Faltando-lhe, e que tanto
ajudara os predecessores, qualquer mística – a ilegalida-de,
o florianismo jacobinista, o espírito de pacificação –,
forçoso lhe era recorrer a outras forças, etc. (Costa Porto,](https://image.slidesharecdn.com/1048-manualdehistoriadobrasil-141006201303-conversion-gate02/85/manual-de-historia-do-brasil-272-320.jpg)