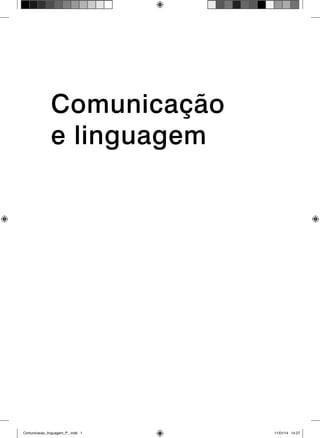
978 85-87686-44-2-comunicacao e-linguagem
- 1. Comunicação e linguagem Comunicacao_linguagem_P_.indd 1 11/01/14 14:27
- 3. Comunicação e linguagem Celso Leopoldo Pagnan Comunicacao_linguagem_P_.indd 3 11/01/14 14:27
- 4. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Pagnan, Celso Leopoldo P139c Comunicação e linguagem/Celso Leopoldo Pagnan — Londrina: UNOPAR, 2014. 176 p. ISBN 978-85-87686-44-2 1. Linguagem. 2. Comunicação. I Título. CDD-401.4 © 2014 by Unopar Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito, da Unopar. Diretor editorial e de conteúdo: Roger Trimer Gerente de produção editorial: Kelly Tavares Supervisora de produção editorial: Silvana Afonso Coordenador de produção editorial: Sérgio Nascimento Editor: Casa de Ideias Editor assistente: Marcos Guimarães Revisão: Carla Camargo Capa: Solange Rennó Diagramação: Casa de Ideias Comunicacao_linguagem_P_.indd 4 11/01/14 14:27
- 5. Unidade 1 — Língua e linguagem...................................1 Seção 1 Conceitos iniciais...................................................................4 Seção 2 Variação e preconceito linguístico.......................................12 Seção 3 Acordo ortográfico..............................................................21 3.1 Acentuação.........................................................................................22 3.2 Acento diferencial...............................................................................22 3.3 Trema.................................................................................................23 3.4 Hífen..................................................................................................23 Seção 4 Linguagem e história............................................................26 Unidade 2 — Comunicação e linguagem......................33 Seção 1 Definição de comunicação..................................................35 Seção 2 Comunicação eficiente........................................................45 Seção 3 Comunicação e assertividade..............................................52 Seção 4 Mass media..........................................................................55 Unidade 3 — Discurso e linguagem..............................63 Seção 1 O que é discurso..................................................................64 Seção 2 A construção discursiva na história.....................................70 Unidade 4 — Texto e textualidade................................79 Seção 1 Texto: aspectos gerais..........................................................81 Seção 2 Texto e pragmática..............................................................90 Seção 3 Tipologia textual..................................................................96 Sumário Comunicacao_linguagem_P_.indd 5 11/01/14 14:27
- 6. vi c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m 3.1 Texto descritivo...................................................................................96 3.2 Texto narrativo..................................................................................101 3.3 Dissertação.......................................................................................114 Seção 4 Resenha e paráfrase...........................................................121 4.1 Paráfrase...........................................................................................121 4.2 Resenha............................................................................................122 Unidade 5 — Ideologia e discurso..............................129 Seção 1 Definições de ideologia.....................................................130 Seção 2 Ideologia e história............................................................147 Referências.................................................................157 Sugestões de leitura....................................................161 Comunicacao_linguagem_P_.indd 6 11/01/14 14:27
- 7. Carta ao aluno O crescimento e a convergência do potencial das tecnologias da informa‑ ção e da comunicação fazem com que a educação a distância, sem dúvida, contribua para a expansão do ensino superior no Brasil, além de favorecer a transformação dos métodos tradicionais de ensino em uma inovadora proposta pedagógica. Foram exatamente essas características que possibilitaram à Unopar ser o que é hoje: uma referência nacional em ensino superior. Além de oferecer cursos nas áreas de humanas, exatas e da saúde em três campi localizados no Paraná, é uma das maiores universidades de educação a distância do país, com mais de 450 polos e um sistema de ensino diferenciado que en‑ globa aulas ao vivo via satélite, Internet, ambiente Web e, agora, livros‑texto como este. Elaborados com base na ideia de que os alunos precisam de instrumen‑ tos didáticos que os apoiem — embora a educação a distância tenha entre seus pilares o autodesenvolvimento —, os livros‑texto da Unopar têm como objetivo permitir que os estudantes ampliem seu conhecimento teórico, ao mesmo tempo em que aprendem a partir de suas experiências, desenvolvendo a capacidade de analisar o mundo a seu redor. Para tanto, além de possuírem um alto grau de dialogicidade — caracteri‑ zado por um texto claro e apoiado por elementos como “Saiba mais”, “Links” e “Para saber mais” —, esses livros contam com a seção “Aprofundando o conhecimento”, que proporciona acesso a materiais de jornais e revistas, artigos e textos de outros autores. E, como não deve haver limites para o aprendizado, os alunos que quise‑ rem ampliar seus estudos poderão encontrar na íntegra, na Biblioteca Digital, acessando a BibliotecaVirtual Universitária disponibilizada pela instituição, a grande maioria dos livros indicada na seção “Aprofundando o conhecimento”. Comunicacao_linguagem_P_.indd 7 11/01/14 14:27
- 8. viii c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m Essa biblioteca, que funciona 24 horas por dia durante os sete dias da se‑ mana, conta com mais de 2.500 títulos em português, das mais diversas áreas do conhecimento, e pode ser acessada de qualquer computador conectado à Internet. Somados à experiência dos professores e coordenadores pedagógicos da Unopar, esses recursos são uma parte do esforço da instituição para realmente fazer diferença na vida e na carreira de seus estudantes e também — por que não? — para contribuir com o futuro de nosso país. Bom estudo! Pró‑reitoria Comunicacao_linguagem_P_.indd 8 11/01/14 14:27
- 9. A disciplina de Comunicação e Linguagem tem como objetivo dar uma visão a você, estudante de História, sobre um conteúdo não diretamente ligado aos estudos históricos em si, mas que acaba se revelando de grande importância. Isto porque primeiro tudo é linguagem (verbal ou não verbal) e, nesse sentido, tudo pode ser convertido em comunicação, em meio de interação entre determinados interlocutores. Somente por isso, a disciplina se justifica, não apenas no curso de História, como, em rigor, em qualquer curso. Mas não queremos tratar de maneira específica e única da língua portuguesa, da gramática tradicional. Ainda que duas seções sejam dedica‑ das à reflexão em torno da gramática, o foco deste livro não é esse. O que pretendo aqui é levá-lo a uma reflexão sobre o fenômeno da linguagem como meio de percepção, apreensão e revelação daquilo que imaginamos ser a realidade. Para tanto, devemos tratar de conceitos mais propícios a isso que apenas ficarmos no estudo gramatical. Estudaremos aqui conceitos como a formação discursiva, a ideologia, a relação entre linguagem e história e outros conceitos essenciais. O que espero é que você tenha em mente o seguinte aspecto: A história tem como foco a construção ou a reconstrução do passado longínquo ou imediato. Para tanto, um historiador lança mão de diversos recursos, entre os quais a leitura de textos, os documentos, a análise de materiais diversos etc., para depois juntar os diversos pontos e construir uma visão ou versão possível, verossímil de determinado momento da história humana. Em outros termos, o historiador procurará traçar um perfil da realidade, de um dado momento da realidade. E como fará isso? Essencialmente pela linguagem. Todos os acontecimentos só podem ser recuperados e retransmitidos, por assim dizer, pela linguagem, que passa a ser mediadora entre o dado real e a percepção desse dado. Consegue perceber o alcance? Caso ainda não, Apresentação Comunicacao_linguagem_P_.indd 9 11/01/14 14:27
- 10. x c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m vamos discutir bastante todos esses aspectos ao longo deste livro, que está dividido em cinco unidades. Na Unidade 1, intitulada Língua e linguagem, vamos tratar de quatro tópicos principais. Primeiro os conceitos de língua, linguagem, as diferenças entre os conceitos, para que você possa ter uma visão inicial sobre os estudos linguísti‑ cos. Depois, vamos tratar de dois temas correlatos: a variação e o preconceito linguísticos, para que você perceba que a discussão em torno do certo e do errado em língua é mais amplo do que talvez se possa sugerir. Em seguida, vamos tratar um pouco a respeito do novo Acordo Ortográfico, que instituiu algumas mudanças na língua portuguesa. Não trataremos de todas as mudanças, apenas de algumas mais significativas. Por fim, o objetivo é estabelecer já uma relação entre os estudos sobre a linguagem e a história. Na Unidade 2, os temas estarão diretamente relacionados ao estudo sobre Comunicação e Linguagem, como a definição de comunicação, a compreensão do que seja uma Comunicação eficiente e o estudo sobre os meios de comuni‑ cação de massa, os mass media, para determinarmos de que modo tais meios nos influenciam, mas também como se aproveitar deles como fonte de estudo. Na Unidade 3, Discurso e linguagem, o objetivo é tratar, de maneira já mais específica, sobre essas questões em torno da história e da construção discursiva daquilo que chamamos realidade. Em outros termos, você poderá ver que os acontecimentos, quando transformados em linguagem, quando comunicados, podem adquirir novos contornos, novos significados. Cabe, pois, a um histo‑ riador, a um estudante de História, ter essa percepção. Em seguida, na Unidade 4, vamos nos deter, de modo mais específico no o texto, tanto no que diz respeito aos estudos sobre textualidade e tudo o que lhe diz respeito, como a pragmática, como também na produção do texto. Para isso, vamos falar sobre alguns gêneros textuais, como a dissertação, a resenha entre outros. O objetivo é dar algumas dicas sobre a redação, o que será bas‑ tante útil a você, estudante de um curso superior. Por fim, na Unidade 5, Ideologia e discurso, vamos nos ater aos conceitos de ideologia e novamente discurso, pelo que têm de próximos, sempre com o foco nos estudos sobre a História. Conforme você poderá perceber, o conceito de ideologia é amplo e variado; o objetivo é trabalhar com dois conceitos em particular, a ideologia como falseamento da realidade e como conjunto de valores, para que assim estabeleçamos as relações com o discurso e a cons‑ trução textual. Comunicacao_linguagem_P_.indd 10 11/01/14 14:27
- 11. Seção 1: Conceitos iniciais Você terá contato com os conceitos sobre língua e lin- guagem. Muitas pessoas confundem os dois termos, mas veremos que cada um tem sua especificidade, apesar da proximidade que podemos, com efeito, estabelecer entre eles. Além disso, vamos tratar de assuntos correlatos como uma breve introdução à semiótica, pelo que tem de reflexão sobre as mais diversas linguagens. Seção 2: Variação e preconceito linguístico Vamos abordar conceito bastante significativo para se compreender o uso da língua portuguesa, di- retamente ligado aos conceitos da seção anterior. Referimo-nos à variação linguística, que significa os níveis da linguagem, conforme a situação da comu- nicação. No entanto, esse uso variado pode gerar um tipo de preconceito, que é o linguístico. Seção 3: Acordo ortográfico Você terá uma noção geral sobre esse Acordo que procura padronizar a escrita da língua portuguesa Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade você será levado a: compreender os conceitos de língua e linguagem; compreender como funciona a linguagem; estudar os principais pontos da reforma ortográfica; compreender as relações entre linguagem e história. Língua e linguagem Unidade 1 Comunicacao_linguagem_P_.indd 1 11/01/14 14:27
- 12. nos países lusófonos. Embora isso ainda não tenha acontecido em todos os países que têm a língua portuguesa como oficial, no Brasil, o Acordo está valendo desde 2008. Seção 4: Linguagem e história Queremos estabelecer uma aproximação entre os dois conceitos, isto para que você compreenda me- lhor a necessidade de se estudar a disciplina no curso. Queremos ir além de um simples conteúdo grama- tical. Ainda que o estudo sobre a gramática tenha uma importância por si mesma, o que pretendemos aqui é que você tenha uma visão mais ampla sobre a linguagem e seus usos históricos. Comunicacao_linguagem_P_.indd 2 11/01/14 14:27
- 13. Língua e linguagem 3 Introdução ao estudo Nesta unidade, vamos tratar sobre os conceitos de linguagem e língua. Os estudos da língua portuguesa pressupõem, a priori, um olhar sobre os aspectos gramaticais. O que é considerado correto e considerado errado. No entanto, não é esse o objetivo central deste livro, e, sim, o de refletir a respeito de um universo mais amplo, que é o da linguagem e o da língua. Isto porque um curso como o de História exige do estudante uma compreensão sobre os modos de percepção e interpretação da realidade. E tão somente estudar as regras gra‑ maticais não é suficiente para dar subsídios ao estudante efetuar a necessária reflexão sobre o papel da linguagem na interpretação e construção da realidade. Desse modo, é preciso que você compreenda os dois conceitos essenciais, de que trataremos agora. O tema tratado nesta unidade não se esgotará em poucas páginas, obviamente. Mas tem a função de provocar uma reflexão sobre os con‑ ceitos de língua e linguagem para além do que é comumente feito, sobretudo, no ensino médio. É preciso perceber que o uso das palavras não é uma mera descrição dos objetos a que elas se referem, e, sim, um constructo, isto é, seu significado pode ser determinado por fatores internos e externos, pelo contexto em que a palavra está inserida. Em consequência, você, como estudante de História, deve perceber esses aspectos para não se deixar enganar pelas apa‑ rências, pela facilidade que algo pronto proporciona. Deve, antes, refletir como o modo de contar, o modo de usar a linguagem influencia a reconstrução dos fatos. Como introdução para esta unidade, devemos dizer que o objetivo não é, como se poderia esperar, o de abordar as regras gramaticais da língua. Longe disso. O objetivo é o de introduzir os aspectos que tratam do funcionamento da linguagem/língua, em particular a relação com o contexto sócio-histórico. Em outros termos, a compreensão desse funcionamento passa, necessariamente, por uma visão mais ampla que integra a língua no espaço social, como meio de refletir e de fundar esse espaço. Evidente que não queremos desprezar os estudos gramaticais, até porque uma seção desta unidade será dedicada a eles, ou parte deles ao menos, e, sim, procurar enfocar a linguagem em sua dimensão discursiva, o que nos ajudará a compreender o universo linguístico e as relações com a construção da História como texto. Vamos então iniciar nossos estudos. Comunicacao_linguagem_P_.indd 3 11/01/14 14:27
- 14. 4 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m Seção 1 Conceitos iniciais Os dois conceitos essenciais que precisamos definir, logo de início, são: linguagem e língua. Embora próximos, apresentam particularidades. A lingua‑ gem é ampla e se presta à comunicação (incluindo a de animais em geral, não exclusivamente o ser humano) e também como acesso à realidade. Neste caso em especial, não se deve pensar que a linguagem é a representação precisa e imediata de seres, objetos e conceitos, e, sim, que é pela linguagem que se apreendem os elementos da realidade. Em outros termos, a palavra mesa não apresenta uma relação direta com a coisa, com o objeto, mas ao ser utilizada permite que se pense no objeto. Nessa acepção, sem a linguagem não teríamos como nos referir ao mundo, às sensações. Esta última definição se relaciona diretamente com o conceito de língua, isto é, como um sistema de signos lin‑ guísticos, de sinais gráficos, que formam um determinado código. Esse código, bem como sua representação gráfica, assume diversas formas de acordo com a cultura. Assim, há a grafia latina (que utilizamos para grafarmos a língua portuguesa e boa parte das línguas ocidentais), a grafia chinesa, a árabe e os respectivos idiomas ou línguas. Essa seria, pois, uma espécie de ordem: linguagem, língua (no sentido amplo) e códigos (língua no sentido estrito ou idioma). Segundo Terra (2010, p. 18, grifo do autor): Embora popularmente muitas pessoas utilizem as palavras linguagem, língua e fala para designar uma mesma coisa, do ponto de vista linguístico esses conceitos não devem ser confundidos. É claro que a distinção que se faz entre linguagem, língua e fala tem caráter meramente didático, uma vez que esses três conceitos revelam aspectos dife‑ rentes de um processo amplo, que é o da comunicação humana. E o que é a língua então? Podemos dizer que se trata de um sistema de signos ou sinais, um conjunto de elementos verbais e não verbais que serve como meio de comunicação entre os indivíduos. Os elementos verbais são as palavras de que nos utilizamos para nomear os seres, as coisas e também para nos referirmos a conceitos, sentimentos etc. Ferdinand de Saussure em conhecido trabalho, publicado postumamente, Curso de linguística geral, estabeleceu a divisão do signo em uma dicotomia ainda hoje tida como correta em linhas gerais (apesar de, na sequência, ter sido mo‑ Comunicacao_linguagem_P_.indd 4 11/01/14 14:27
- 15. língua e linguagem 5 dificada, conforme veremos): o signo seria composto por uma parte material (sinais gráficos, sons), chamada de significante, e outra parte psíquica, chamada de significado (os conceitos, as imagens que se criam na mente). Assim, qualquer palavra conteria essa dupla face. Exemplos: Cadeira = significante objeto a que se refere = significado Livro = significante objeto a que se refere = significado Essa é a dupla face (significante e significado). É preciso, porém, entender os dois conceitos de modo mais amplo. Assim, o significante pode ser escrito de outros modos, conforme o idioma. Inglês: Chair — book Espanhol: Silla — libro Francês: chaise — livre Russo: кресло — книга E qualquer outro idioma que disponibilize as duas palavras a seus falantes. Os significantes são diferentes, com especial destaque para o russo, cuja grafia é diferente da do padrão romano. Porém, o significado é o mesmo nos cinco idiomas, incluindo aí o português. Entretanto, o significado pode se alterar de acordo com o contexto, com a situação comunicacional. Quando digo “comprei um livro”, meu ouvinte vai entender que se trata de um objeto próprio para a leitura; mas quando digo “é preciso reescrever o livro da vida”, meu ouvinte certamente vai entender o termo livro como metáfora e não que minhas ações sejam efetivamente escritas em um livro. O mesmo é válido para cadeira ou qualquer outro termo. Cadeira, ob‑ jeto para sentar; estar com as cadeiras doendo, por sua vez, apresenta outro significado. Esses exemplos são mais fáceis de serem visualizados. No entanto, quando a palavra, o signo, se refere a um conceito, como: Inteligência = significante Amor = significante O significado, nesses casos, embora possa ser determinado, apresenta uma dificuldade para a visualização pelo fato de que não se cria uma imagem con‑ creta pela qual se associa o significante e o significado. Ainda assim se tem um significado, amparado no conceito. Sempre é preciso lembrar, porém, que Comunicacao_linguagem_P_.indd 5 11/01/14 14:27
- 16. 6 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m essa relação não é natural, e, sim, convencional, é arbitrário. E o que significa isso? Quando nascemos, encontramos o universo linguístico já pronto. Não somos nós, os indivíduos, que impomos nossa vontade de nomear as coisas, e, sim, que estão nomeadas, pelo processo histórico, antes de nossa existência. Por essa razão, mesmo que possamos inventar uma palavra ou outra, a base da língua materna, no nosso caso a língua portuguesa, está pronta, acabada. A esse processo, dá-se o nome de arbitrariedade. O signo faz parte do sistema de representação que é a língua. Ou seja, não preciso mostrar o objeto a que me refiro ao meu ouvinte. A palavra está no lugar da coisa. Desse modo, quando digo carro, meu ouvinte sabe do que se trata. Claro que há sempre a necessidade do contexto, para, como no exemplo do livro, sabermos do que se trata de fato. Então, se alguém sugere: “vamos puxar o carro” o ouvinte, no contexto, saberá que é hora de ir embora e não, literalmente, puxar um carro. Mas se diz, “vou entrar no carro”, aí sim o termo carro está sendo usado na sua acepção mais comum, como representação de um veículo. Um grupo de funcionários de uma rede de lojas resolve fazer uma paralisação em um dia da semana. Por meio de uma boa conversa, conseguem convencer grande parte dos funcionários a aderir a essa falta coletiva. No entanto, alguns poucos funcionários não concordam com os argumentos expostos, mas resolvem seguir a decisão da maioria como forma de evitar possíveis punições sociais ou morais por parte de seus colegas. Por que isso ocorreu? Questões para reflexão A língua é, pois, um sistema de signos arbitrário, isto é, que independe da vontade individual. Para além da língua, existe a fala, que é manifestação discursiva da língua. À linguística interessa apenas o estudo da língua, pelo que ela tem de uniforme, sistemático. A fala, ou os atos da fala, passou a ser estudada por diversas outras correntes teóricas, entre elas a pragmática. Mas essa discussão foge um pouco aos objetivos desta unidade. Entretanto, para além das dicotomias básicas (língua e fala, significante e significado, sincro‑ nia e diacronia, paradigma e sintagma) apontadas por Ferdinand de Saussure, Comunicacao_linguagem_P_.indd 6 11/01/14 14:27
- 17. Língua e linguagem 7 vamos discutir a manifestação do discurso e sua materialidade, representada pelos enunciados. O que se quer afirmar é que a linguagem não se limita a essa dicotomia entre significante e significado. Desde a divulgação do trabalho de Saussure, diversos trabalhos foram realizados para determinar outros aspectos que colaboram para a constituição do significado. Entre esses trabalhos, ainda que não diretamente relacionado às pesquisas de Saussure, mas que ao lado destas contribui para o desenvolvimento das modernas teorias da linguagem, como a semiótica e a análise do discurso, se encontra o do russo Mikhail Bakhtin. Entre suas teses, a mais significativa para o que queremos tratar aqui é a do dialogismo, que consiste em mostrar como o discurso de um se relaciona com o do outro, e dessa relação podem surgir novas perspectivas, novos modos de olhar para um determinado objeto ou para si próprio. São visões que se complementam para a tentativa de percepção da realidade. Em consequência, o significado não é estanque, fechado, como poderia sugerir a dicotomia de Saussure; mas ampla e dinâmica, de acordo com o contexto, com o momento e com os atores sociais envolvidos. Como exemplo, pensemos na palavra li- berdade. Embora o significado pareça único, o sentido pode se modificar de acordo com as visões que utilizam a palavra: liberdade para um preso comum pode significar apenas meio de praticar novos crimes; para um russo na antiga União Soviética, ou em qualquer outro Estado totalitário, a possibilidade de se expressar sem medo; para um norte-americano, a possibilidade de expandir negócios etc. Considerando isso, a palavra, pela importância que possui na relação entre as pessoas, apresenta-se como campo permanente de incursão da ideologia. Por essa razão, vamos tratar em unidade adiante a respeito do conceito de ideologia, bem como o de discurso, como veículo de manifestação das ideologias. A língua é, assim, um bem comum, algo de que nos servimos para esta‑ belecer a comunicação. Uma comunidade (vamos tratar de comunicação na próxima unidade, mas observe que comunicação e comunidade possuem a mesma raiz, a mesma origem) só se realiza pela possibilidade de troca de sen‑ tidos, pela possibilidade de interação, mediada por uma língua comum. Em muitos países, ao longo da história, houve guerras, e ainda há, porque não há senso de comunidade, porque a língua falada é outra. Apenas para exemplificar, podemos citar os movimentos separatistas na antiga Iugoslávia, envolvendo sérvios, croatas e eslovenos. Cada qual com sua língua, com sua cultura. De qualquer modo, mesmo em um país como o Brasil, que possui uma única língua Comunicacao_linguagem_P_.indd 7 11/01/14 14:27
- 18. 8 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m oficial, a portuguesa, há diversos níveis linguísticos, seja no plano fonético, seja no plano do vocabulário, seja ainda no plano semântico, do significado. Desse modo, a pretensa unidade linguística é antes uma imposição que propriamente algo totalmente objetivo. Em outros termos, se a língua portuguesa nas mais diversas regiões seguisse seu “curso” normalmente, teríamos uma diferenciação mais acentuada, que é o que ocorre com os países lusófonos, isto é, em que a língua portuguesa é oficial (Portugal, Moçambique, Angola, Timor Leste etc.). É bem verdade que o Acordo Ortográfico de 2009 teve ou tem como objetivo exatamente estabelecer essa unidade, ao menos na escrita. Outro aspecto que devemos considerar no estudo da língua é que não há um padrão na competência linguística do falante, isto é, em uma mesma cidade, em uma mesma comunidade, pode haver competências para o uso da língua em níveis diferenciados. Um estudo aprofundado da língua tem que considerar todos esses aspectos, posto que se trata de um bem cultural e, como tal, complexo pela multiplicidade de uso. Há outra teoria do signo, mais complexa e ampla que a de Ferdinand de Saussure. Trata‑se da semiótica de Charles Sanders Peirce (1839‑1914), que baseou seu modelo de análise em um esquema triádico, em que se pode pensar a comunicação de modo bastante amplo. Para Peirce (2000, p. 46, grifo do autor) “Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém”. Assim, o modelo triádico compreende: representamen equivalente ao signo; objeto, o que o signo representa; interpretante, que estabelece a relação entre ambos para determinar o sentido esperado. Peirce (2000) parte sempre de três aspectos que compreendem novas di‑ visões triádicas: a primeira tricotomia trata do signo em si mesmo, a segunda refere‑se às relações que o signo tem com o seu objeto e a terceira apresenta as relações entre o signo e o seu interpretante. A segunda triconomia estabelece outros três tipos de relação: índice: quando o objeto afeta o signo; ícone: quando o objeto é parecido com o signo; símbolo: quando a relação se dá por convenção (arbitrariedade). Comunicacao_linguagem_P_.indd 8 11/01/14 14:27
- 19. Língua e linguagem 9 O ícone segundo Peirce (2000, p. 52) “[...] é um signo que se refere ao objeto que denota apenas em virtude de seus caracteres próprios, caracteres que ele igualmente possui quer um tal objeto realmente exista ou não”. A palavra ícone são aquelas imagens que representam um determinado programa de computador, mas também pode indicar outras situações comuni‑ cativas, como as placas de trânsito, as imagens afixadas em portas de banheiro e toda sorte de comunicação visual em empresas, transporte público, logo etc. Nesse caso, há uma relação mais motivada, isto é, se se quer afirmar, por meio de um ícone, que se trata de um banheiro masculino, não fará sentido colocar a imagem de um cavalo (a não ser se o sentido for irônico). Caso esteja‑ mos viajando e aparece um ícone de um animal numa placa, logo entendemos que há a possibilidade de animais atravessarem a via de trânsito. O índice, conforme Peirce (2000, p. 52) “[...] é um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por esse objeto”. Se pensarmos numa investigação criminal, o detetive deve observar os diversos indícios e ler o que a cena comunica para tentar resolver o caso, bem como um médico legista, que, a partir dos indícios, vai determinar a causa mortis de determinada pessoa. Também encontramos o índice em diversas outras si‑ tuações mais cotidianas: fumaça (índice de fogo), terreno molhado (índice de que choveu, que poderá ser confirmado caso o tempo esteja nublado), dedo indicador apontando para um local (índice de que é a direção a ser olhada), pisca-pisca dos automóveis (indicativo da direção escolhida pelo motorista para virar, se para a direita ou para a esquerda). Chegamos mesmo a usar o termo indícios para mostrar que determinado objeto ou acontecimento pode nos levar a ter uma compreensão sobre outro aspecto. Exemplo, a história oficial sempre afirmou que D. Pedro I teria dado um grito às margens do rio Ipiranga, conclamando a todos sob a bandeira da “Independência ou morte”. Hoje, contesta-se tal acontecimento, pois não ha‑ veria indícios confiáveis de que tal ato ocorreu como descrito nos livros. Bem como há indícios de que os portugueses teriam chegado ao local que hoje chamamos de Brasil não por erro ou por acaso, como procurou revelar e fazer crer o discurso oficial, e, sim, seguindo uma estratégia já definida até porque os espanhóis já conheciam a rota para a América desde 1492 aproximadamente. O índice estabelece, pois, uma relação com o signo que vai além da co‑ municação humana mais imediata. Comunicacao_linguagem_P_.indd 9 11/01/14 14:27
- 20. 10 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m O símbolo, para Peirce (2000, p. 52), [...] é um signo que se refere ao objeto que denota em vir‑ tude de uma lei, normalmente uma associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como se referindo àquele objeto. O símbolo é o que mais se aproxima do arbitrário em Saussure, trata-se de uma convenção. A diferença é que o símbolo inclui qualquer tipo de lin‑ guagem, verbal e não verbal. Assim, uma placa de trânsito pode ser icônica e simbólica. Primeiro porque a imagem representa bem seu objeto. Também é um índice, porque indica uma possibilidade e finalmente é um símbolo pelo caráter convencional. Isto é, todos os motoristas devem ler uma determinada placa de trânsito do mesmo modo. Atenção, não confunda o termo símbolo proposto por Peirce (2000) com o sentido usual da palavra símbolo, uma imagem ou uma figura representativa de algo, como exemplo a pomba branca, símbolo da paz. Nesse caso, a pomba simboliza a paz, embora também possa ser tomada como símbolo na acepção de Peirce (2000) pelo que tem de convencional. Em outros termos, por que a pomba representa a paz e não uma andorinha? Até poderia ser a andorinha, mas para isso esse pássaro deveria sugerir algo próximo para que se convencionasse chamá-la de símbolo da paz, assim como a águia representa o espírito norte‑ -americano. Em resumo, tudo o que é convenção (palavras, imagens, objetos) se constituem em símbolo na teoria de Peirce (2000). Ao passo que o símbolo no sentido normalmente atribuído pelos falantes de uma língua se refere a imagens bem específicas. Todas as palavras, pois, utilizadas neste livro são, segundo Peirce (2000), símbolos, uma vez que são termos que, ao longo do tempo, foram sendo con‑ vencionados. Palavras que não têm mais “significado” hoje foram descartadas ao longo do tempo, e não mais as utilizamos, ou ainda há as que tiveram o sentido renovado ou modificado. Por exemplo, hostes (inimigos), heréu (her‑ deiro), mancebo (jovem) entre outras tantas. Você conhece outras palavras arcaicas, palavras que não são mais utilizadas, mas que foram comuns em séculos anteriores? Questões para reflexão Comunicacao_linguagem_P_.indd 10 11/01/14 14:27
- 21. Língua e linguagem 11 Outros assuntos estão diretamente ligados à reflexão em torno dos usos da linguagem. É o caso, por exemplo, da variação linguística, sobre a qual vamos tratar na próxima seção. Comunicacao_linguagem_P_.indd 11 11/01/14 14:27
- 22. 12 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m Seção 2 Variação e preconceito linguístico O termo variação linguística acaba carregando outro importante para a compreensão do fenômeno da linguagem, o preconceito. Não que saber o que é preconceito ajude a entender o que é linguagem, mas como tudo, há ideias que fazemos sobre determinados pontos da cultura e que passam a ser difun‑ didos sem que haja uma compreensão mais ampla a respeito do fenômeno. Variação linguística, como se pode imaginar, significa que podemos utilizar a língua de acordo com necessidades específicas ou que a utilizamos conforme aprendemos a falar. Assim, se você considerar o tamanho do Brasil, perceberá que os falares são regionalizados, tanto na escolha de alguns vocábulos, como na prosódia (na forma de falar, pronunciar as palavras); além disso, há as ex‑ pressões regionais, como “bah, tchê!”, “meu rei”, “oxente” etc. Embora todos falemos língua portuguesa, há as variantes regionais. Existem também outros tipos de variantes. Em um mesmo estado, em uma mesma cidade, onde convivem pessoas de diferentes profissões, diferentes classe sociais, diferentes formações culturais. Claro que sempre há um limite para a variação, determinada pelo próprio falante. Por exemplo, é aceitável (não gramaticalmente correto) dizer algo como “Eu tô um prego”, “nóis tá cansado”, em determinadas situações de comunicação, mas é inaceitável em ambientes mais formais. Desse modo, cabe ao falante aprender a dominar tanto a variante mais popular, para se fazer entender em determinadas situações comunica‑ tivas, bem como a variante culta, mais correta do ponto de vista gramatical, para poder pleitear a ascensão social. Em outros termos, você como estudante de História, futuro profissional, talvez professor da área, será cobrado a usar a variante culta, por isso a necessidade de aprofundar os estudos em língua portuguesa, em ter um bom conhecimento gramatical. Por outro, você também deve ter em mente que toda língua sofre essa variação. Desprezar isso é desprezar a própria sociedade, é participar do pre‑ conceito linguístico. O termo preconceito carrega a ideia de que se parte de um a priori para definir alguns elementos. O mesmo se dá com o uso da linguagem. Somos levados a acreditar que existe a verdade em detrimento dos modos de olhar. Quando assim pensamos, preconcebemos o que seria o certo, o correto, sem que façamos uma análise mais específica da realidade. Comunicacao_linguagem_P_.indd 12 11/01/14 14:27
- 23. Língua e linguagem 13 No caso da linguagem verbal, para nos exprimirmos, fazemos uso de um idioma, de uma língua em particular, no caso a portuguesa, legada como oficial pelos colonizadores e mais particularmente pelo Diretório dos Índios, sancio‑ nado pelo Marquês de Pombal em 1755, que proibiu o uso do idioma tupi nas relações oficiais e cotidianas no Brasil, obrigando a todos a utilizarem a língua por‑ tuguesa. A partir de então, passou-se a ensi‑ nar nas escolas apenas a língua portuguesa (o que se tem até hoje). Porém, não qualquer língua (regional, local), mas, sim, a conside‑ rada padrão, gramaticalmente correta, de âmbito nacional. Nesse sentido, o falante é levado a considerar seu modo de pronunciar as palavras errado, ao passo que deve aprender o modo correto. Assim, errado e correto são os termos mais utilizados no ensino da língua portuguesa. Em outros termos, ensinar língua portuguesa passa a ser sinônimo de opor o modo coti‑ diano de falar, informal, mas funcional do ponto de vista da comunicação, ao que está expresso na gramática, ao padrão gramatical. Aprende que uma frase como “eu vi ela” está incorreta, porque o pronome do caso reto (ela) não pode servir como complemento de um verbo, e, sim, o pronome do caso oblíquo (a). Gramaticalmente, a frase deve ser: “eu a vi”. O problema é que a primeira é mais comum no uso cotidiano da linguagem como meio de comunicação, ao passo que a segunda seria utilizada em situações formais. Esse descompasso encontra diversos outros exemplos e leva o falante a imaginar que usa de modo errôneo a língua portuguesa. Evi‑ dente, no caso, a presença de dois padrões: ambos socialmente aceitos, mas apenas o segundo gramaticalmente correto. A questão é, portanto, determinar o que significa gramá‑ tica para então determinarmos melhor o que vem a ser o preconceito linguístico. A origem da palavra é grega, grammata, e significava letras. Por volta do século III a.C., passou a designar o conjunto de regras que um indivíduo culto deveria usar para se expressar com correção e elegância. Desse modo, iniciou-se Para ler o Diretório dos Índios, acesse o link: <http://www.nacao mestica.org/diretorio_dos_indios. htm> Links Leia a resenha do livro SCHERRE, Maria Marta Pereira. 2005. Doa-se lindos filhotes de poodle: varia- ção linguística, mídia e preconceito. São Paulo: Parábola Editorial, e, se possível, o próprio livro. A resenha está no seguinte link: <http:// dx.doi.org/10.1590/S0102 -44502006000100016>. Para saber mais Comunicacao_linguagem_P_.indd 13 11/01/14 14:27
- 24. 14 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m uma separação entre um modo de falar (incorreto) e outro de escrever (correto). Como quem tinha acesso a esse modo correto era apenas a elite econômica e intelectual, o uso da língua colaborou sobremaneira para separar ainda mais as classes sociais. Conceito que ainda hoje permanece. Para ascender social‑ mente, é preciso falar com correção e elegância. A despeito de uma explica‑ ção objetiva (quem não fala com clareza tem mais dificuldades de expor suas ideias), tal divisão procura mostrar que a fala contém diversos erros que devem ser evitados. Ao mesmo tempo, a origem da gramática também revela que ela não é uma descrição objetiva da realidade da língua; é, antes, uma construção. Isto é, o código padrão da língua portuguesa (e de qualquer idioma) não é um dado natural, mas expressão de uma formação ideológica, expressão elitista, idealizada, divinizada. Haveria, portanto, um céu linguístico, a que todo falante deve aspirar, e uma realidade terrena, que deve ser desprezada, porquanto não obedece à norma construída. É desse descompasso que nasce o preconceito linguístico. Termo trabalhado por Marcos Bagno, para mostrar que enquanto a Escola procura ensinar o padrão gramatical, construído pelos gramáticos, que traçam essa norma não no uso corrente do idioma, e, sim, no que seria o ideal, nos textos literários clássicos, criando‑se um fosso entre o ideal e o real. Conforme Terra (2010, p. 58, grifo do autor): A escolha de um determinado uso da língua para alçá‑lo à condição de uso culto, evidentemente, possui um ca‑ ráter ideológico. Acreditava‑se — e muita gente acredita até hoje — que aquele seria o bom uso, ou seja, o uso exemplar; portanto, deveria ser elevado à categoria de modelo da linguagem. O critério comumente adotado no Brasil para se estabelecer qual seria a linguagem padrão é o histórico‑literário: histórico porque baseado num uso passado (a norma não estabelece como “se diz”, mas como “foi dito”) e literário porque se tomou como referência o uso escrito de autores literários. Portanto, aquela linguagem que se estabeleceu como culta representa o uso que alguns escritores considerados clássicos fizeram da língua numa época passada. Antes de prosseguirmos, é preciso chamar a atenção para alguns pontos: Padronizar não é o problema, mesmo porque se cada um escrevesse uma palavra do jeito que bem quisesse a comunicação seria mais difícil (mesmo no Internetês há certo padrão). O problema reside no fato de se achar que a gramática encerra uma ver‑ dade absoluta, que fora dela não há acertos, não é possível comunicar‑se. Comunicacao_linguagem_P_.indd 14 11/01/14 14:27
- 25. língua e linguagem 15 Acreditar na verdade absoluta da gramática é criar o preconceito; se um indivíduo não fala corretamente (ex.: “nóis qué dois pastel” por “nós queremos dois pastéis”) é socialmente mal visto (como se todos falassem sempre com correção e elegância). Mas também desprezar totalmente a norma culta, o padrão gramatical, tomado como parâmetro para provas, concursos, publicação de livros técnico‑acadêmicos, se constitui em algo não aceito socialmente. É pre‑ ciso, dessa forma, ser fluente em vários níveis linguísticos, conforme a necessidade e a ocasião. Não se deve, porém, acreditar que a lín‑ gua é estanque, não se modifica. Querer preservar a todo o custo a pureza da língua é crer que ela existe antes da própria humanidade, é querer acreditar que o homem foi feito para o sábado ou coisa que o valha. Por fim, não se deve desprezar, do ponto de vista da comunicação, uma fala (não escrita) como “nóis qué dois pastel”, aceita em ambientes informais, em si‑ tuações do cotidiano. A língua portuguesa, “inculta e bela”, como diria Olavo Bilac em famoso poema, nada mais é que fruto do modo errado de se falar a língua latina. À época do Império Romano, havia os falantes da elite, os literatos, os gramáti‑ cos, que, no dia a dia, usavam uma variante do idioma, em muito preservada nos textos clássicos, eclesiásticos, literários, chamada de sermo urbanus (lin‑ guagem culta), ao passo que as pessoas livres, analfabetas, os soldados, os escravos e toda casta socialmente inferior usavam o latim na variante cha‑ mada de sermo vulgaris (linguagem comum, informal). Com o fim do Império Romano do Ocidente no século V d.C. foi esta variante que se propalou e se misturou com os idiomas falados pelos habitantes locais da várias províncias romanas. Em cerca de mil anos, dessa mistura linguística, surgiram os chama‑ dos idiomas neolatinos (francês, espanhol, italiano, romeno, provençal, por‑ tuguês entre outros), cuja origem é, portanto, baseada, sobretudo, no sermo vulgaris i.e., nos erros da língua latina. Em outros termos, o correto em portu‑ guês era o errado em latim. Se fizermos um exercício de imaginação, vamos Internetês é um termo já comum para designar o modo de escrever na Internet, sobretudo em blogs, redes sociais ou comunicadores instantâneos. Entre as característi- cas dessa linguagem estão a abre- viação constante, o uso de gírias e de expressões usuais, como vc, tc, #estudar, #partiufacul entre outras tantas. Para saber mais Comunicacao_linguagem_P_.indd 15 11/01/14 14:27
- 26. 16 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m concluir que o certo em latim era o errado no idioma que lhe deu origem, provavelmente o indo-europeu, do qual não existem registros escritos, e assim por diante até chegarmos a uma espécie de língua adâmica, de língua original. Também os gregos, inventores da gramática, imaginavam que quem não falava grego era bárbaro e poderia ser escravizado. Marcos Bagno, linguista e professor, tem discutido, em diversos livros, a origem do preconceito linguístico. Para Bagno (1999), há, pelo menos, oito mitos em torno da ques‑ tão ensino gramatical e uso da língua como meio de comunicação. Passemos em revista cada um desses mitos. Mito n. 1: “A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente”. Ora, um dos discursos ideológicos mais propalados ainda em alguns manuais de história é que o Brasil manteve sua unidade territorial pela unidade linguística. Todos falaríamos um único padrão e por isso a língua nos uniria (nem é preciso muito esforço para lembrarmos de movimentos separa‑ tistas, que foram duramente combatidos pelo governo central; a unidade, mais do que fruto das aspirações comuns, seria uma construção à força, em muitos casos). Tal enunciado, ou mito, ainda é propalado por muitos gramáticos e professores de língua portuguesa, que impõe uma língua irreal (utopicamente homogênea), desprezando sua diversificação. Essa unidade é largamente traba‑ lhada pela mídia nacional, especialmente por programas que procuram ensinar o certo na língua portuguesa. Mito n. 2: “Brasileiro não sabe português/Só em Portugal se fala bem por‑ tuguês”. Acreditar nisso é acreditar que existe apenas uma variante correta, e que estaria na origem, i.e., em Portugal. Rigorosamente falando, se assim fosse, teríamos que desprezar todas as variações que o contato com outros idiomas (indígenas, africanos e outros europeus) produziram no Brasil e adotar um pretenso purismo (aí voltaríamos ao latim, ao indo-europeu, ao adâmico...). Neste sentido, Bagno (1999) contraria tal visão e afirma, com razão, que o português brasileiro é tão eficiente quanto qualquer idioma. Apenas como alusão comparativa, no século XVI, com o retorno aos estudos da Antiguidade clássica (classicismo), o inglês passou a ser visto como idioma rude, tosco, e os neolatinos, como decadentes. Há um conto de Monteiro Lobato que ilustra bem esse conceito, de que em Portugal, o idioma é mais castiço, mais puro. Leia o poema de Olavo Bilac em: <http://www.releituras.com/olavo bilac_lingua.asp> Links Comunicacao_linguagem_P_.indd 16 11/01/14 14:27
- 27. Língua e linguagem 17 Trata-se de “O colocador de pronomes”. No conto, publicado em 1924, o personagem principal, Aldrovando Cantagallo, nasce de um erro de português. Seu pai, um jovem cartorário, morador de Itaoca, se apaixonou pela filha mais moça do coronel Triburtino, a Laurinha. Um dia, o moço escreveu um bilhete para ela, em que se lia: “Anjo adorado! Amo-lhe!” Mas o bilhete foi lido pelo pai que lhe pediu explicações. Como o coronel tinha outra filha, mais velha, sem perspectiva de casamento, interpretou velha‑ camente o amo-lhe como uma manifestação de amor pela filha mais velha, e por esse erro gramatical o moço teve de se casar com quem não amava de verdade. Para o coronel, deveria ter escrito “amo-te” se estivesse se referido à Laurinha. Dessa união errada, nasceu Aldrovando. Já adulto, passou a manifestar atitude crítica e inconformada em relação à língua falada e escrita. Tornou-se grande defensor do purismo da língua portuguesa. Quando velho, resolveu escrever um compêndio volumoso sobre o modo mais castiço de usar a língua. E levou grande tempo, dedicado à sua investida contra a ignorância. Ao final da obra, dedicou-a a um famoso escritor português, Frei Luís de Sousa: “À memória daquele que me sabe as dores”. Porém o tipógrafo perdeu-se na composição e acabou grafando: “... daquele que sabe-me...” Aldrovando con‑ templou sua obra, extasiado. Deparou-se então com o erro: “[...] daquele QUE SABE‑ -ME as dores”. E morreu desiludido. Portanto, nasceu e morreu devido a um erro gramatical. O objetivo de Lobato é satirizar exatamente essa preocupação excessiva com o purismo da língua, como se ela não se modificasse, não ficasse diferente com o uso. Mito n. 3: “Português é muito difícil”. É algo bastante comum de se ouvir, ou equivalente, como “inglês é mais fácil que português”. A explicação está exatamente na separação existente entre a norma gramatical e o uso corrente da língua portuguesa. Com efeito, falar “se você ver ele, pede pra ele vim aqui” não condiz com os preceitos gramaticais, embora do ponto de vista da comunicação cotidiana seja bastante aceitável. No entanto, essa frase, para obedecer ao padrão gramatical, deveria ser falada do seguinte modo: “se tu o vires, pede a ele que venha aqui” (ou “se você o vir, peça a ele que venha aqui”). O exemplo, entre outros tantos, serve para mostrar que um falante mé‑ dio dificilmente usaria uma das duas últimas construções, a não ser em provas Para ler o conto na íntegra acesse: <http://intervox.nce.ufrj.br/~jobis/ cc-pro.html> Links Comunicacao_linguagem_P_.indd 17 11/01/14 14:27
- 28. 18 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m ou concursos. Como o hábito é expressar-se de acordo com a primeira frase, há uma tendência de se achar a língua portuguesa difícil. Mas repitamos: não significa que não se deve aprender a variante culta, normativa, apenas ter em mente que um desnível entre a fala e a escrita é bastante pertinente e comum em qualquer idioma, e que não existe idioma difícil, quando muito uma dis‑ crepância maior entre a fala e os preceitos normativos. Mito n. 4: “As pessoas sem instrução falam tudo errado”. A base do precon‑ ceito linguístico está na crença de que só existe uma única língua portuguesa a qual é ensinada nas escolas, explicada pelas gramáticas e catalogada nos dicionários. Essa visão despreza o uso da língua como meio de comunicação, se assim fosse perceberia que qualquer variante, aceita por uma coletividade, por um grupo de falantes, é tão eficiente quanto a variante normativa ou culta. Claro que, para essa variante, falar ou escrever “crássico” se constitui em erro, ou ponhar, proque etc. Mas igualmente, em dado momento da história da língua portuguesa, já foi considerado erro escrever ou falar: feio (Fœdum > feo > feio) ou cheio (plenum > cheo > cheio). Hoje, porém, são as variantes tidas como corretas. Em outros termos, falar errado é uma visão pouco condizente com a comunicação e com a dinâmica da língua, mas compreensível considerando uma norma instituída. Mito n. 5: “O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão”. Para Bagno (1999), muitas pessoas cultas acreditam neste mito pelo fato de no Maranhão ainda serem utilizados pronomes que fazem a língua falada pelos seus conterrâneos se aproximar da língua de Portugal. Podemos estender esse mito aos gaúchos, por utilizarem o pronome TU, bem como outros os cario‑ cas por terem um sotaque mais próximo do falado em Portugal. Na verdade, pensar assim é considerar que um sotaque é menos válido que outro ou pouco condizente com o purismo da língua. Mito n. 6: “O certo é falar assim porque se escreve assim”. O modo de pronunciar uma palavra não condiz necessariamente com a escrita, em razão das variações sofridas ao longo do tempo e também da região. No norte do Paraná, por exemplo, várias palavras que se escrevem com a letra /e/ ou a letra /o/ apresentam pronúncia com o fonema /i/ ou o fonema /u/. Assim: livro > /livru/, gente > /genti/. Há casos em que se acrescentam fonemas na pronúncia, como em vez ou fez > /veiz/, /feiz/. Mito n. 7: “É preciso saber gramática para falar e escrever bem”. O co‑ nhecimento gramatical pode ajudar a dominar a variante culta, mas não é Comunicacao_linguagem_P_.indd 18 11/01/14 14:27
- 29. Língua e linguagem 19 condição essencial para se escrever bem. Muitos escritores profissionais não possuem esse conhecimento apurado, porém sabem explorar as possibilidades linguísticas com maestria. Por outro, como já ficou salientado, dominar essa variante também se faz importante. Afinal, para escrever livros acadêmicos, para participar de concursos, é a variante exigida. O problema reside na crença de que é a única variante correta do ponto de vista da comunicação, o que leva à criação dos preconceitos de que estamos tratando. Mito n. 8: “O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social”. Ainda que seja uma exigência, não é uma verdade absoluta. A ascensão social pode ocorrer a despeito do pouco conhecimento da variante culta da língua portuguesa. De qualquer modo, os opositores do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva usavam esse argumento para o criticarem. Por outro lado, há pessoas que sabem utilizar-se da variante culta, e, mesmo assim, ocupam posições sociais inferiores. Claro que quando se faz uma afirmação desse tipo, há que se fazer uma importante ressalva. Não se quer afirmar aqui que um presidente ou um postulante a qualquer cargo executivo, de destaque na sociedade deva ou possa se expressar de qualquer modo. Evidente que há algumas exigências e alguns aspectos a serem considerados. No entanto, não se deve tomar como referência única o modo de se expressar, mas se buscarem outros pontos rele‑ vantes para que se possa exercer determinada função na sociedade. Por outro lado, a despeito de tais mitos, é bom que se repita, usar deter‑ minada variação da língua, qualquer que seja ela, faz parte da organização cultural de uma dada sociedade. Assim, é compreensível que se exija a va‑ riante culta nas situações de comunicação mais formais; e é compreensível que não seja propriamente um erro usar uma variante informal em situações de comunicação domésticas e igualmente informais. O que se exige de um falante é que ele domine diversas variantes e saiba adequá-las às situações de uso, às situações de comunicação. Mesmo porque, se tomarmos como referência a variante informal, livros de gramática não teriam mais sua razão de ser. É bem verdade também que se a variante informal se torna regra, passamos a ter novo padrão de linguagem e, em consequência, nova gramática... Apesar da constatação, o ensino da língua portuguesa, no Brasil, continua a estimular o preconceito linguístico em vez de promover o debate. É verdade também que os Parâmetros Curriculares Nacionais derrubaram a ideia de um currículo mínimo e propuseram, em substituição, a reflexão e o respeito às Comunicacao_linguagem_P_.indd 19 11/01/14 14:27
- 30. 20 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m variantes regionais, isto por reconhecer a competência linguística dos falantes e que a língua sofre mutações constantes, conforme a necessidade. Querer impedir isso por força da lei é atentar contra a natureza da própria língua. Você acredita que é possível acabar com o preconceito linguístico ou isso é inerente ao ser humano — criar ideias e acreditar apenas nelas, acreditar que apenas elas estão corretas? Questões para reflexão De tudo, o importante é você compreender que a língua, como qualquer bem cultural, não escapa dos valores ideológicos, das concepções próprias da sociedade. Isso pode ser mais ou menos visível de acordo com a época e com a sociedade em que se vive. Embora você possa saber o que significam valores ideológicos, vamos tratar a respeito do tema na Unidade 5; por isso caso queira saber mais, adiante-se na leitura. Sugiro a leitura do texto Preconceito linguístico, variação e o papel da universidade, escrito por Mariangela Rios de Oliveira. OLIVEIRA, Mariangela Rios de. Preconceito linguístico, variação e o papel da universidade. Ca- derno de letras da UFF, n. 36, p. 115-129, 2008. Disponível em: <http://www.uff.br/cader- nosdeletrasuff/36/artigo6.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2012. Para saber mais Importante dizer que, como espero que você perceba, todas as unidades deste livro se inter-relacionam como meio de se compreenderem os dois con‑ ceitos essenciais da disciplina: comunicação e linguagem. Comunicacao_linguagem_P_.indd 20 11/01/14 14:27
- 31. língua e linguagem 21 Seção 3 Acordo ortográfico Como você deve saber, houve uma ampla discussão em torno da possibi‑ lidade de unificar a escrita da língua portuguesa nos países lusófonos (Angola, Brasil, CaboVerde, Guiné‑Bissau, Moçambique, Portugal, SãoTomé e Príncipe e Timor‑Leste). Isso desde os anos 1980, que culminou com a assinatura do Acordo em 1990.Tal Acordo não significa uma unificação no modo de falar, no uso do vocabulário, mas apenas uma tentativa de unificar o modo de escrever a língua portuguesa, assim como ocorre com outros idiomas falados em dife‑ rentes países, como o inglês, o francês e o espanhol. Evidente, por outro lado, que um acordo assim tem suas dificuldades e nem todos os países signatários ainda o promulgaram, tornando‑o oficial. De qualquer modo, isso aconteceu no Brasil, pelo Decreto n. 6.583, de 29 de setembro de 2008, o qual previu uma fase de transição com a possibilidade da dupla grafia até 2012. A partir de 2013, será aceita apenas a nova grafia, cujas principais mudanças vamos abordar aqui a seguir. Tais mudanças não atingiram, de modo profundo, a escrita de muitas pala‑ vras, por ter se limitado a alterar o alfabeto, com a inclusão oficial de algumas letras, a acentuação de algumas palavras, bem como a grafia de outras e o emprego do hífen, o que tende a causar mais confusão. Essa não foi a primeira mudança ou tentativa de unificação. Houve outras, a saber: 1911 — atualização apenas em Portugal; 1931 — primeira tentativa de integração linguística; 1945 — convenção ortográfica luso‑brasileira; 1971 — nova atualização; 1986 — início dos diálogos que resultariam no Acordo de 1990. Vejamos, pois, alguns pontos mais significativos de tal Acordo. Antes, quero apenas chamar sua atenção para o seguinte. Há muitas regras de acentuação, ortográficas entre outras. Mais do que decorar tais regras, o importante é sempre você ler bastante para que possa ir absorvendo o modo correto de se escreverem as palavras. Ou, por outra, ortografia tem muito a ver com memorizar o modo de escrever uma palavra. Quando você tem uma carga de leitura bastante elevada, sua capacidade de memorização também se desenvolve, também aumenta. Comunicacao_linguagem_P_.indd 21 11/01/14 14:27
- 32. 22 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m Outro ponto é que, na medida do possível, vou usar uma terminologia mais didática. Quando não for possível, uso o termo gramatical e faço uma explicação para que você possa se lembrar. Como mudança inicial, temos a oficialização de letras amplamente utiliza‑ das, mas que não faziam parte, de fato, do alfabeto da língua portuguesa. Por isso, o alfabeto passa a contar com 26 letras, com a incorporação das letras: K = Kuwait; W = Wagner, Darwin; Y = Taylor, Byron. 3.1 Acentuação Iniciando pela acentuação, as mudanças não foram muitas. Vejamos. Algumas palavras perderam o acento, entre elas estão as paroxítonas (aque‑ las em que a sílaba mais forte é a penúltima de uma palavra) terminadas em “‑eem” e “‑oo”. Eis os exemplos: voo, abençoo; formas verbais: eles deem, eles veem, eles leem. Palavras paroxítonas (aquelas cuja sílaba tônica cai na penúltima sílaba) em que se têm ditongos abertos ‑ ei e ‑ oi não serão mais acentuadas: assembleia, ideia, heroico. Também desaparece o acento nas palavras paroxítonas, quando a sílaba tônica é antecedida de ditongo (quando há duas vogais juntas, em que uma é mais forte que outra). feiúra e Bocaiúva, agora escritas feiura e Bocaiuva. Sempre tem um porém: o acento deve ser usado em ditongos abertos em palavras monossilábicas, oxítonas e terminados em “eu”. Chapéu. 3.2 Acento diferencial Você se lembra o que é acento diferencial? Aquele cuja função não era marcar a sílaba tônica, mas apenas diferenciar uma palavra homônima de outra. Por exemplo, pára (verbo), para (preposição), entre outras. Nesse caso, o acento foi eliminado. Comunicacao_linguagem_P_.indd 22 11/01/14 14:27
- 33. língua e linguagem 23 Pêlo (substantivo) pelo (preposição por + o): O cavalo tem um bom pelo/ Trabalho pelo prazer. Vamos às exceções. O verbo pôr continuará a ser acentuado, para diferenciá‑lo da prepo‑ sição por. Bem como no caso dos verbos ter e vir — na 3ª pessoa do singular e na 3ª do plural: Ele tem — eles têm. — Ele vem — eles vêm. 3.3 Trema É aquele acento que usamos para marcar a pronúncia do fonema u, em palavras escritas com ‑gue, ‑gui, ‑que ou ‑qui, como lingüiça, lingüística, conseqüência etc. Não será mais necessário colocar o trema: linguiça, lin‑ guística, consequência. 3.4 Hífen Agora vamos tratar a respeito de hífen. O hífen serve para compor palavras. É usado em três situações básicas: Palavras compostas por justaposição, aquelas em que não há perda de fonemas ou letras. A outra forma de composição é a aglutinação em que se perdem fonemas ou letras (aguardente); Palavras compostas por justaposição que expressem um significado único; Ano‑luz, arco‑íris, decreto‑lei, médico‑cirurgião, tenente‑coronel, guarda‑noturno, mato‑grossense, norte‑americano, porto‑alegrense, segunda‑feira, guarda‑chuva. Há algumas palavras, porém, que, pelo uso, acabaram perdendo a ideia de justaposição. Nesse caso, não é preciso usar hífen: girassol, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista. Depois dos advérbios bem e mal, quando formam uma palavra de sentido específico, desde que o termo seguinte comece por vogal ou h. Exemplos: bem‑aventurado, bem‑humorado; mal‑afortunado, mal‑ ‑estar, mal‑humorado. Obs.: quando o termo seguinte se iniciar com uma consoante, temos que separar ainda o advérbio bem, mas não o advérbio mal: bem‑ ‑criado, malcriado, bem‑nascido, malnascido. Comunicacao_linguagem_P_.indd 23 11/01/14 14:27
- 34. 24 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m Uso de prefixos: Nas formações com prefixos (ante‑, anti‑, entre‑, extra‑, hiper‑, sub, super‑, ultra‑ etc.) só se emprega o hífen nos seguintes casos: Quando a palavra seguinte começa por h: anti‑higiênico, co‑herdeiro, extra‑humano, pré‑história, sub‑hepático, super‑homem, semi‑hospita‑ lar etc. Obs.: nos prefixos des‑ e in‑ e quando a palavra seguinte perdeu o h inicial, não se usa hífen: desumano, inábil, inumano etc. Quando o prefixo termina na mesma vogal com que se inicia a palavra: anti‑ibérico, contra‑almirante, auto‑observação, eletro‑ótica, micro‑ ‑onda, semi‑interno. Obs.: O prefixo co‑ aglutina‑se em geral com a palavra posterior: coordenar, cooperação, cooperar etc. Com os prefixos circum‑ e pan‑, quando o segundo elemento começa por vogal, m ou n: circum‑escolar, circum‑murado, circum‑navegação; pan‑africano. Nas formações com os prefixos hiper‑, inter‑ e super‑, seguidos de palavras iniciadas por r: hiper‑requintado, inter‑resistente. Nas formações com os prefixos ex‑, vice‑: ex‑almirante, ex‑diretor, ex‑ ‑hospedeira, ex‑presidente, vice‑reitor. Nas formações com prefixos pós‑, pré‑ e pró‑: pós‑graduação, pré‑natal, pró‑europeu. Sufixação: no caso é preciso usar o hífen em palavras finalizadas por sufixos de origem tupi‑guarani que remetem a formas adjetivas. Como exemplo, podemos citar açu, guaçu e mirim. No caso, se o primeiro elemento acabar em vogal acentuada graficamente ou caso a pronúncia exija a distinção da escrita dos dois elementos: amoré‑guaçu, anajá‑mirim, andá‑açu, capim‑ ‑açu, Ceará‑Mirim. Não será mais preciso usar o hífen nos seguintes casos: Quando verbo haver for seguido de uma preposição com o valor de possibilidade: hei de, hás de, hão de etc. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por r ou s, devendo essas consoantes duplicar‑se: antirreligioso, antissemita, contrarregra, minissaia, microssistema. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente: antiaéreo, extraescolar, aeroespacial, autoestrada, hidroelétrica. Comunicacao_linguagem_P_.indd 24 11/01/14 14:27
- 35. Língua e linguagem 25 Há muitos sites que tratam dessa reforma, bem como livros. Pesquise mais, se informe, não apenas para conhecer os dados da reforma, mas também para complementar seu estudos a respeito da língua portuguesa. No livro a seguir, você poderá se aprofundar sobre este assunto e ampliar seus conhecimentos a respeito dos estudos gramaticais mais atualizados. AZEREDO, José Carlos de (Org.). Escrevendo pela nova ortografia. São Paulo: Publifolha, 2008. Para saber mais Comunicacao_linguagem_P_.indd 25 11/01/14 14:27
- 36. 26 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m Seção 4 Linguagem e história Para se ter uma visão mais aprofundada sobre a relação entre linguagem e História é preciso primeiro considerar que a linguagem e a língua, mais que um bem individual, mais que uma manifestação do indivíduo, expressa um conteúdo coletivo. A produção de sentido é antes um exercício estabelecido entre os indivíduos da sociedade. Tal produção de sentido está, por sua vez, diretamente ligada à História, ao contexto histórico. Quando afirmo algo como “Deus está no centro do Universo e o Homem é sua criação mais importante” pode-se entender tal afirmação de diferentes modos, considerando o contexto em que ela seria feita. Por exemplo, se faço essa afirmação na Baixa Idade Média, por volta do século XII, ela está no contexto e não causaria nenhuma surpresa. Isto é, a afirmação individual encontraria respaldo no modo de ver da coletividade. Se faço essa afirmação à época do Iluminismo (século XVIII), na França, tal frase, expressa por um indivíduo, seria prontamente negada pelo modo de pensar da coletividade, que já depusera a figura divina da posição central e mesmo o ser humano como a criação divina por excelência. Poderíamos continuar a análise da frase em outros contextos históricos. De qualquer modo, a ideia é apenas a de revelar a relação. Ora, importante que se diga que entre o eu que fala, entre o indivíduo e o objeto, a realidade que se tenta apreender está a linguagem, está a palavra, que faz a mediação entre sujeito e objeto. Para que você possa entender bem o conceito, pense no seguinte: como apreendo a realidade? Como descrevo aquilo que vejo? Como expresso o que imagino? Ora, sempre pela palavra ou pela linguagem, tomando-a em sentido amplo, nas mais diversas possibilidades não verbais. Toda e qualquer afirmação pode, aparentemente, apenas revelar um con‑ ceito, uma ideia, mas também tem como objetivo último a persuasão, o ato de convencer o receptor acerca da verdade expressa. Portanto, em uma frase como “Brasil, ame-o ou deixe-o”, é preciso considerar uma série de aspectos que colaboram para a determinação do sentido mais profundo. Como você deve saber, trata-se de um slogan, de quase uma ordem pro‑ ferida à época do governo militar na década de 1970, quando os opositores do governo eram perseguidos, presos e muitas vezes expulsos do país. Motivo pelo qual ou se amava ou se tinha de deixar o Brasil. Observe que o verbo Comunicacao_linguagem_P_.indd 26 11/01/14 14:27
- 37. Língua e linguagem 27 amar é um signo linguístico e que representa, a princípio, o ato de querer bem, de gostar de. Isto é, amar tem um significado preciso e conhecido. No caso da frase, para bem compreender o sentido da palavra, é preciso considerar todo o contexto histórico. Amar pode ter no caso diversos significados, entre eles o de “aceite o governo como ele é”, “não criti‑ que”, “não vá contra”, “não proteste” etc. O mesmo se dá com o verbo deixar, cujos sig‑ nificados mais comuns são “largar, abando‑ nar, separar-se, abster-se” etc. No caso, esta‑ belecendo-se a relação entre palavra e história, entende-se que deixar significa na verdade autoexilar-se, não lutar mais, não ir contra o governo estabelecido, ir atrás de um local que aceite suas ideias. O ponto é que a palavra, expressão da linguagem, carrega significados ime‑ diatos, específicos, conforme vimos na conceituação de signo linguístico. Mas para além desse significado, oriundo de um significado, concorrem sentidos diversos de acordo com o contexto em que a palavra se manifesta. Segundo Baccega (2007, p. 32, grifo do autor): A configuração de novos sentidos se dá com mais vigor quando, numa sociedade, se agudiza um processo revo‑ lucionário, como, por exemplo, a Revolução Francesa. São novas formas e novos sentido ou formas antigas com novos sentidos, manifestando o avanço histórico. O pe‑ ríodo que se segue ao apogeu revolucionário se caracte‑ riza, em geral, por uma explosão desses “novos” sentidos que, pouco a pouco, se vão fundindo ao que já estava estabelecido, consubstanciando-se definitivamente. O novo é sempre resultado do que já era. Em outros termos, uma palavra (já era) ganha novo sentido. No caso da Re‑ volução Francesa, o termo esquerda, que era apenas o lugar onde se sentavam os representantes do povo, os jacobinos, passou a designar, até hoje, grupos políticos que se consideravam mais favoráveis aos trabalhadores (embora, de‑ pois, nos momentos específicos, isso nem sempre tenha se revelado verdade absoluta). Objetivamente falando, a palavra esquerda, o signo, representaria tão somente uma posição, o lado de um ser etc., pode também apresentar Acesse o link a seguir, que faz um levantamento histórico do governo Médici, quando o slogan “Ame-o ou deixe-o” foi propalado: <http:// www1.folha.uol.com.br/folha/es pecial/2002/eleicoes/historia-1969. shtml>. Links Comunicacao_linguagem_P_.indd 27 11/01/14 14:27
- 38. 28 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m diversos outros significados. Do ponto de vista religioso, por exemplo, o lado esquerdo, por oposição ao direito, ao certo, representava o mal. Assim, quem era canhoto (associado ao errado, ao torto, ao cão) era visto como bruxo, como encarnação do mal. Ao contrário, o destro, o direito, era associado ao bom, ao correto, ao corajoso. Hoje, esse sentido, ainda que permaneça no imaginário mais popular, já não tem mais razão de ser. Em outros termos, a linguagem, a palavra, está diretamente ligada a determinados fatores históricos. Observe como o uso da palavra pode ser tanto como meio de opressão (“você é canhoto, está conde‑ nado previamente”; “Ame-o ou deixe-o”), como de libertação (caso específico do termo esquerda, na acepção política que, a princípio, buscou a liberdade, a igualdade entre os povos, entre as classes). Em rigor, a palavra tem tanto poder de elevar, de fazer ver um mundo novo, como amesquinhar, humilhar. Tudo depende de como ela é utilizada, em que contexto é dita. Citando mais uma vez Baccega (2007, p. 35-36): O sentido das palavras é constituído através de processo, está presente sempre, vez que ele está contido na própria interação social. Mas é sempre fugidio. O indivíduo/su‑ jeito apreende o sentido, porém ele parece escapar-lhe. O sentido é inesgotável e remete sempre para a ação, para a dinâmica da vida social, para a práxis. A práxis, totalidade que inclui a linguagem, é formadora do homem ao mesmo tempo que é formada por ele. Não é a prática em oposição à teoria, como às vezes se diz. Isto é, o sentido das palavras depende das relações históricas, do momento sócio-histórico. Por essa perspectiva, a descrição do signo linguístico proposta por Saussure, embora correta em sua essência, não dá conta de toda a dinâmica da linguagem, posto que a isola do local onde ela se manifesta, na sociedade. Há muitas palavras que ganham ou perdem significados de acordo com o contexto, de acordo com o momento em que são utilizadas. A palavra comu‑ nista, por exemplo, seria então um adjetivo para indicar que determinado indi‑ víduo congrega algumas ideias. No entanto, tal palavra, em alguns momentos da história, notadamente no Brasil do século XX, bem como no contexto de outros países, passou a ser quase um xingamento, um atestado de morte, uma acusação e também uma senha para permitir que o indivíduo assim classificado Comunicacao_linguagem_P_.indd 28 11/01/14 14:27
- 39. Língua e linguagem 29 pudesse ser torturado, preso e até morto. Na década de 1970, por conta das imposições ideológicas governamentais, chamar alguém de comunista, ainda que não fosse, era quase condená-la ao exílio, à morte. Hoje, o peso de tal pa‑ lavra é bem menor e não chega a comprometer ninguém que é assim chamado. Outras palavras também passam a expressar significados para além do que designariam de imediato. O termo preto designa tão somente uma cor, mas referir-se assim a um indivíduo pode sugerir uma atitude racista do falante, que, pelo sim pelo não, deve optar por outros termos, como o já difundido afro‑ -brasileiro ou negro, em situações específicas. Interessante que em alguns re‑ censeamentos realizados pelo IBGE, muitos brasileiros se autodeclararam pertencentes a dezenas de raças e cores, entre elas escuri‑ nho, azul, marrom etc. No recenseamento de 2010, porém, para limitar essas diferentes “raças”, o IBGE solicitou que o indivíduo assinale a qual raça pertenceria, conside‑ rando cinco alternativas: branca, preta, ama‑ rela, parda ou indígena. Havia a possibilidade ainda de assinalar sem declaração. Normalmente, as palavras passam por esse processo de perda ou ganho de significados por conta da política, da religião, da questão racial, bem como pelos valores morais que a sociedade defende em algumas situações. Termos depreciativos atribuídos a homossexuais devem, a todo custo, ser evitados, posto que hoje há uma aceitação maior das opções, das escolhas ou das necessidades dos indivíduos. O mesmo se dá com alguns xingamentos. Sem entrar muito no mérito, porque sempre envolve algo pejorativo, vamos usar um como exemplo para a análise histórica. Trata-se do “filho da mãe”. Largamente utilizado nas mais diversas situações, tal xingamento é visto como brando, como algo não tão ofensivo modernamente. Porém na origem tinha um significado mais vexatório, sobretudo, à mulher. Isso porque, como se sabe, por hábito, por costume, mas também por obrigação legal, os filhos adotam o sobrenome paterno, para que assim se estabeleçam os laços familiares em torno da figura do homem, do pai. Ser filho da mãe, portanto, embora isso seja óbvio, culturalmente é a criança sem pai definido ou ao menos sem a presença pública e legal de um pai. Fa‑ lando mais claramente, o xingamento é uma referência à mãe solteira. Se hoje isso não mais é impeditivo para que uma mulher siga sua vida, seja respeitada Para saber mais sobre este tema, acesse os dados do IBGE no link a seguir: <http://www.ibge.gov.br/ home/estatistica/populacao/cen so2010/caracteristicas_da_popula cao/resultados_do_universo.pdf>. Links Comunicacao_linguagem_P_.indd 29 11/01/14 14:27
- 40. 30 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m etc., em outros tempos ser mãe solteira era quase um atentado à sociedade. Desse modo, essa mulher e, por extensão, o filho eram alvos da crítica e da maledicência. Como houve uma mudança moral, uma mudança no modo de olhar para essa situação, o próprio valor do xingamento também se alterou. Poderíamos ainda destacar outras tantas palavras, mas ficam essas como exemplos. O fato é que o falante de uma dada língua aprende quais palavras pode utilizar, quais não e também em que contextos, em que situações comu‑ nicativas, pode fazer uso de determinados vocábulos. Você conhece outras palavras que passaram por mudanças de signifi‑ cados? Isto é, palavras que tinham um sentido positivo e passaram a ter sentido negativo ou o inverso? Pense um pouco, procure se lembrar ou pesquise. É um exercício interessante para seu aprendizado. Questões para reflexão Para encerramos esta seção, vamos fazer exatamente algumas considerações em torno do vocabulário. Pensamento e linguagem estão diretamente relacionados. No entanto, não se deve considerar a linguagem como um revestimento do pensamento; isso seria transformar a linguagem em um mero utensílio pelo qual expressaríamos nossas ideias. Com efeito, a linguagem é antes um sistema de sons articulados, ao mesmo tempo em que é uma escrita ou mesmo um sistema de gestos, os quais pro- duzem e expressam o pensamento. Não existe, portanto, pensamento sem linguagem e linguagem sem pensamento. Nesse sentido, é importante que o falante desenvolva, aprimore sua capaci‑ dade de comunicação, posto que também ampliará sua capacidade de expres‑ sar as ideias, de expressar suas opiniões. Para tanto, deverá fazer uso de um vocabulário rico.Tal uso acaba por se constituir em um elemento identificador do indivíduo, como o DNA. Obviamente, ao contrário deste que é natural, o uso do vocabulário está condicionado a fatores externos, a fatores culturais, profissionais e também individuais. Fato é que o uso de um vocabulário individual se constitui em uma marca registrada, um meio diferenciador no sistema linguístico de que se faz parte. Por Comunicacao_linguagem_P_.indd 30 11/01/14 14:27
- 41. Língua e linguagem 31 isso mesmo, os grandes escritores podem ser identificados por características próprias, ainda que integrados a um grupo social, a um grupo literário, sempre será possível reconhecer a escrita de um José de Alencar, de um Machado de Assis, de um Jorge Amado, de um Guimarães Rosa etc. Evidente que falar bem, expressar-se não se limita a conhecer as regras gramaticais, vai, além disso; significa dominar os mecanismos de construção do discurso, saber o que se quer a quem se dirige, com quais objetivos, uma vez que a escrita se relaciona a uma atitude mental criadora e transformadora. Por isso, a necessidade de se ampliar o vocabulário, de dominar as técnicas da boa comunicação. No caso, há o vocabulário ativo (palavras que usamos com mais frequência) e o vocabulário passivo (palavras cujo significado é co‑ nhecido, mas que quase não se usa nas situações de comunicação). O primeiro encontra maiores possibilidades de se efetivar na prática do dia a dia, seja na conversa com as pessoas, seja no exercício do trabalho. Em conclusão a esta unidade, devemos dizer primeiro que tudo o que você leu até aqui é antes uma introdução ao que você pode aprender. São apenas os conceitos iniciais sobre língua, linguagem, preconceito, História como atividade discursiva. Espero, de qualquer modo, que tais lições iniciais motivem-no a continuar os estudos, a prosseguir na leitura deste livro didático, escrito especialmente a você, graduando em História. Evidente também que tais conceitos, embora funcionem como introdução ao estudo, também se bastam como aspectos importantes para uma visão ampla a respeito do fenômeno da linguagem. E o que deve ficar de mais significativo é que, se a linguagem e a língua têm um quê de natural, de algo inerente aos seres, há muito de constructo, de cultural, nesse sentido. Desse modo, quando pensamos na relação língua/linguagem não pode‑ mos nem devemos desconsiderar outros conceitos significativos, como o contexto, a ideologia e o discurso. Conceitos esses que estudaremos neste livro ainda em outras unidades. Para concluir o estudo da unidade Comunicacao_linguagem_P_.indd 31 11/01/14 14:27
- 42. 32 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m Nesta unidade, tratamos de conceitos essenciais e primeiros para o es‑ tudo e compreensão do universo linguístico: língua e linguagem, incluindo o conceito inicial de semiótica, tanto do ponto de vista de Ferdinand de Saussure quanto do ponto de vista Charles S. Peirce; em seguida, vimos o que significa preconceito linguístico, quais são os mitos em torno da língua portuguesa no que diz respeito aos usos; por fim, abordamos a relação entre linguagem e História, para que você possa perceber que estudar História é também compreender como os indivíduos, a sociedade, fazem uso da linguagem como meio de opressão, mas também libertação. Resumo 1. Pesquise na sua região, determinados vocábulos, palavras, que tenham equivalentes em outras regiões. Por exemplo, menino pode ser guri no Rio Grande do Sul, piá no Paraná, moleque no Rio de Janeiro. Há ainda a variante garoto. 2. Considerando as explicações aqui nesta unidade, como compreender a relação entre linguagem e História? 3. Explique a regra, segundo o novo Acordo Ortográfico, que determina a colocação do hífen nas palavras a seguir: médico-cirurgião, tenente‑ -coronel, guarda-noturno e mato-grossense. 4. O que significa preconceito linguístico? Como você pode aproveitar‑ -se do termo para dar explicações históricas? 5. Por que podemos dizer que o sentido das palavras também depende de fatores sócio-históricos? Atividades de aprendizagem Comunicacao_linguagem_P_.indd 32 11/01/14 14:27
- 43. Seção 1: Definição de comunicação Nesta seção, você saberá o que é comunicação, como a definição etimológica poderá ser útil à com- preensão do conceito; saberá também como ela se processa, quais são os aspectos que a compõem. A ideia é que você perceba que comunicação se esta- belece com base em determinados elementos e que a falta de algum deles prejudica a comunicação. E, desse modo, poderá ter uma visão ampla sobre as falhas no processo comunicativo. Seção 2: Comunicação eficiente Nesta segunda seção, você poderá compreender que a comunicação é um processo constante em nossa vida e que também gera uma série de situações pro- blemáticas, sobretudo, quando ela não é realizada do modo esperado, quando o que dissemos não chega até ao interlocutor como imaginado. Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade você será levado a: compreender o conceito de comunicação; definir comunicação eficiente; conhecer o conceito de assertividade em comunicação; compreender o que é mass media. Comunicação e linguagem Unidade 2 Comunicacao_linguagem_P_.indd 33 11/01/14 14:27
- 44. Seção 3: Comunicação e assertividade Complementando a seção anterior, vamos tratar um pouco sobre assertividade, que consiste exatamente em tornar a comunicação mais eficaz, por meio de algumas técnicas sobre as quais vamos tratar. Seção 4: Mass media Nesta terceira e última seção da unidade, vamos falar sobre os meios de comunicação de massa. Trata-se de uma visão introdutória, mas que pode ajudá-lo a compreender melhor o mundo contemporâneo. O objetivo é que você, estudante de história, tenha uma percepção mais ampla sobre o mass media, em uma dimensão discursiva e ideológica. Comunicacao_linguagem_P_.indd 34 11/01/14 14:27
- 45. Comunicação e linguagem 35 Introdução ao estudo A comunicação é uma atividade comum em nossa vida, posto que vivemos em sociedade. Como diria José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, “quem não se comunica se trumbica”. Claro que em tese uma pessoa pode se isolar do mundo e viver como um misantropo, alguém que tem aversão ao convívio social. Digo em tese porque mesmo nesses casos, o tal misantropo uma hora ou outra vai ter que entrar em contato com outros indivíduos. E, nesse momento, terá de se comunicar. Mesmo quando se vive totalmente sozinho mesmo, por opção ou por uma necessidade, a comunicação está presente. Como exemplo, podemos nos lembrar do filme Náufrago (2001), em que Tom Hanks interpreta Chuck Noland, um gerente do grupo FedEx, que, em consequência de um acidente de avião, fica por quatro anos preso em uma ilha deserta. Para não enlouquecer, torna-se “amigo” de uma bola de vôlei, chamada por ele de Wilson, a marca da bola. Durante o tempo em que fica na ilha, conversa com ela, ou seja, comunica-se. Desse modo, o que quero dizer é que a comunicação está presente na nossa vida, de um modo ou de outro. Seja para interagir na sociedade, seja como meio de criar uma identidade para a vida ou para um momento específico, como no caso do filme aludido. Interessante que a comunicação, por extensão à linguagem, é uma prática tão comum, quase natural, como respirar ou comer, que nem nos damos conta de que a estamos praticando. Apenas nos servimos das palavras, dos gestos, do contato, e expressamos o que queremos. Por esse motivo, você, como estudante de História, tem que compreender melhor esse processo, pois assim terá uma visão mais ampla da sociedade e dos acontecimentos históricos, afinal tudo passa pela comunicação, pela interação dos indivíduos da sociedade, sempre mediada pela linguagem. Seção 1 Definição de comunicação Vamos começar por uma definição mais direta do termo comunicação, pois assim facilita sua compreensão. Se observar bem a palavra, poderá perceber que ela é constituída de duas raízes: comum e ação. O termo comum se refere a duas ou mais pessoas e ação, obviamente, a uma atitude, um ato que se pra‑ Comunicacao_linguagem_P_.indd 35 11/01/14 14:27
- 46. 36 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m tica deliberadamente. Desse modo, temos o princípio de que comunicação é uma ação comum, ou, por outra, uma ação de tornar comum algo entre duas ou mais pessoas. Isso pressupõe que esse algo (uma informação, uma ideia, um conceito, um dado qualquer etc.) é tornado comum entre determinados interlocutores. Estabelece-se, pois, um sentido entre dois ou mais falantes de uma língua. E como se forma o sentido? Há alguns pressupostos sobre os quais falaremos mais para a frente, mas para adiantar digamos o seguinte. Uma imagem ou uma ideia é criada na mente de alguém que falará algo. O sujeito falante, o comu‑ nicador, dispõe de um código (língua) que lhe permite transmitir a imagem ou a ideia a outro sujeito. Este outro sujeito, por sua vez, também de posse desse mesmo código, ouve ou lê o que o primeiro expressou e determina o sentido esperado. Claro que se trata de uma caricatura do processo, que é muito mais dinâmico e complexo. Mas veja: para escrever este texto (peça de comunicação), precisei criar a ideia em minha mente e estou me servindo de um veículo, a escrita, e de um código, a língua portuguesa, para poder tornar comum todos esses conceitos e informações a você, interlocutor (leitor) deste texto. Se você estiver me acompanhando como imagino que esteja, estamos estabelecendo uma comunicação, mediada pelo texto impresso, pelo código comum. Agora, imagine a seguinte situação, estamos no Brasil, onde falamos língua portuguesa. Se, por qualquer motivo, resolvesse escrever este mesmo livro em francês, a comunicação já não seria estabelecida (apenas com os falantes desse idioma, claro). O mesmo ocorreria se eu, escrevendo em língua portuguesa, decidisse utilizar um vocabulário erudito ou essencialmente técnico, voltado para especialistas em comunicação. Em ambos os casos, a comunicação não seria estabelecida, apenas porque o sentido não se completaria. O sentido nada mais que é uma codificação que criamos por meio do signo (linguístico ou não). O sentido que está na minha mente é transferido a você pelo signo, pelas palavras que utilizo. É o sistema de representação que falamos na primeira unidade. Evidente que essa transferência não se realiza com a mesma eficiência de um computador para o outro. Explico-me. Se eu precisar enviar um email para alguém que mora no Acre (estou no Paraná, por exemplo), basta digitar aquilo que quero dizer e enviar. Se, por acaso, escrevi algo como: “você precisa me passar as informações”, o computador do meu interlocutor apresentará exata‑ mente esse texto, com essas palavras e também com a fonte utilizada etc. No Comunicacao_linguagem_P_.indd 36 11/01/14 14:27
- 47. Comunicação e linguagem 37 entanto, meu interlocutor pode entender de modo diverso aquilo que eu tinha em mente. Assim, as informações que eu queria era uma e ele interpretou de modo diverso. Embora acabe respondendo ao e-mail, nesse caso responderá algo diverso do que eu imaginara. Assim, a comunicação estabelecida entre os computadores ocorreu de modo eficiente, ao passo que a comunicação entre o eu que fala e o outro que lê apresentou falhas. Apesar dessa explicação, que pode soar como caricatural, a comunicação é um processo complexo, posto que pressupõe uma série de dimensões, por uma série de aspectos. Os problemas de comunicação entre as pessoas ad‑ vêm exatamente desses aspectos que colaboram para a construção dos elos entre as pessoas. Ora, ter essa compreensão é entender a dinâmica social, é compreender o processo histórico, feito, essencialmente, da comunicação, do contato entre os indivíduos de um dado corpo social. Segundo Vilalba (2006, p. 22): A comunicação, expressão da competência mental cha‑ mada linguagem, é a capacidade de um ser humano se fazer compreender por outro ser humano e é por meio desse processo de compreensão mútua entre pessoas que os vínculos sociais são criados e a cultura é preservada ou modificada. Há três dimensões: espacial, temporal ou histórica e pessoal (sujeitos da comunicação). Assim, um sujeito (pessoas) está inserido em um determinado ambiente, es‑ paço, marcado por uma época, por um tempo, por um contexto histórico e tudo o que lhe diz respeito (cultura, ideologia, necessidades etc.) e se utiliza de um con‑ junto de signos (código) para interagir, para agir sobre e ser influenciado por. Essa dinâmica constrói o que chamamos de sociedade, o que chamamos de História. Hoje, por exemplo, somos marcados pelos meios de comunicação assín‑ cronas e síncronas (podemos entrar em contato com diferentes pessoas, de locais próximos ou distantes, conhecidas ou não, ao mesmo tempo ou não, de maneira virtual ou real pelas tecnologias da informação — Internet, redes sociais, comunicadores instantâneos, ambientes virtuais), e o que dizemos, o que construímos sobre nós e sobre os outros, sobre os seres e objetos em geral, está carregado de dados relacionados a esse contexto midiático. Em uma charge utilizada por uma prova do Enem, um mendigo, ao invés de pedir dinheiro ou comida, pede um mouse (como poderia pedir um tablet, Comunicacao_linguagem_P_.indd 37 11/01/14 14:27
- 48. 38 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m um notebook, um computador), pois sabe que não dominar a linguagem com‑ putacional significa ser um excluído, um excluído digital, como se diz. Preocupação do tipo seria impensada há vinte anos; menos ainda à época de D. Pedro I. O que se quer afirmar, pois, é que a comunicação não está isenta de seu tempo, de seu espaço. Mesmo hoje, em determinados ambientes, locais, o que importa mais é a sobrevivência, é a busca por alimento ou moradia, como ocorre nas comunidades mais pobres do planeta. Ter um mouse ou coisa que o valha não significa nada nesse ambiente. Em outros termos, a charge citada só faz sentido no contexto comunicacional do ambiente, do espaço social, em que estamos inseridos. E como se processa a comunicação? O linguista Roman Jakobson definiu seis elementos que, em conjunto, constroem tal processo. A despeito de críti‑ cas que possam ser feitas ao modelo, como a qualquer outro, trata‑se de uma explicação plausível e aceitável, dentro de um contexto didático, que é o nosso aqui. Vejamos. Emissor: quem emite a mensagem — pode ser um indivíduo ou um grupo social; Receptor: quem recebe a mensagem — pode ser um indivíduo, um grupo social, uma máquina, um animal etc.; Mensagem: o que é tornado comum — uma ideia, um conceito, uma imagem, uma informação etc.; Canal: meio pelo qual a mensagem chega até o receptor. Pode ser sonoro, visual, táctil, olfativo ou gustativo; Código: conjunto de signos, de sinais (letras, palavras, imagens etc.), comum em um grupo social; Referente: representa o contexto, a situação em que está inserida determi‑ nada mensagem. Exemplo: conversa entre pai e filho, referente familiar; entre patrão e empregado, referente profissional. Para explicar bem, vamos analisar um trecho do livro Senhora, de José de Alencar. Comunicacao_linguagem_P_.indd 38 11/01/14 14:27
- 49. Comunicação e linguagem 39 Aurélia correu a vista surpresa pelo aposento; e interrogou uma minia‑ tura de relógio presa à cintura por uma cadeia de ouro fosco. Entretanto D. Firmina, acomodando a sua gordura semi-secular em uma das vastas cadeiras de braços que ficavam ao lado da conversadeira, dispunha-se esperar pelo almoço. — Está fatigada de ontem? perguntou a viúva com a expressão de afetada ternura que exigia o seu cargo. — Nem por isso; mas sinto-me lânguida; há de ser o calor — respondeu a moça para dar uma razão qualquer de sua atitude pensativa. — Estes bailes que acabam tão tarde não podem ser bons para a saúde; por isso é que no Rio de Janeiro há tanta moça magra e amarela. Ora, ontem, quando serviram a ceia pouco faltava para tocar matinas em Santa Teresa. Se a primeira quadrilha começou com o toque do Aragão!... Havia muita confusão; o serviço não esteve mau, mas andou tão atrapalhado!... Firmina continuou por aí além a descrever suas impressões do baile da véspera, sem tirar os olhos do semblante de Aurélia, onde espiava o efeito de suas palavras, pronta a desdizer-se de qualquer observação, ao menor indício de contrariedade. Deixou-a a moça falar, desejosa de desprender-se de suas preocu‑ pações e embalar-se ao rumor dessa voz que ouvia, sem compreender. Sabia que a viúva conversava acerca do baile; mas não acompanhava o que ela dizia. De repente, porém, interrompeu-a: — Que tal achou a Amaralzinha, D. Firmina? ALENCAR, José de. Senhora. Domínio público. Disponível em: <http://www.dominiopu blico.gov.br/download/texto/bn000011.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2012. Trata-se de um diálogo entre Aurélia Camargo, a protagonista do romance e sua governanta, D. Firmina. Representam o papel de emissor e receptor al‑ ternadamente no diálogo. O narrador, por usa vez, é o emissor da mensagem que é dirigida ao leitor, receptor, no caso. A mensagem entre elas é sobre as impressões do baile, de algumas pessoas em particular. O código é a língua portuguesa, o canal é oral entre elas (e visual entre autor e leitor). O contexto ou referente é o doméstico, posto que estão na casa de Aurélia. Comunicacao_linguagem_P_.indd 39 11/01/14 14:27
- 50. 40 c o m u n i c a ç ã o e l i n g u a g e m Claro que esse esquema não dá conta de alguns pormenores significativos para um historiador, como as relações de poder e dominação que são estabele‑ cidas em um diálogo, em uma peça comunicativa qualquer. Por exemplo, em dado momento, Aurélia, a patroa, a detentora do dinheiro, apenas aparenta ouvir sua interlocutora, enquanto pensa em outra coisa. Claro que isso também pode ser visto tão somente como falta de atenção, atenção voltada para outro assunto etc. O importante é compreender que todo e qualquer esquema tem como objetivo apresentar uma estrutura padrão, comum, que pode ser verificada em diversas situações, mas que também acaba por não dar conta das outras relações subjacentes estabelecidas. Assim, quando um professor diz a seu aluno: “Cale a boca!”, temos uma relação de comunicação com emissor, receptor, mensa‑ gem, código, canal e referente, mas não se tem a dimensão ideológica, cultural, afetiva presente no enunciado. O mesmo se dá em “Sim, senhor!”, cujo valor (positivo, negativo, de dominação total, de respeito etc.) só pode ser apreendido considerando o contexto e outros aspectos que um esquema frio não dá conta. De que modo a compreensão do processo da comunicação colabora para uma compreensão mais ampla da História? Questões para reflexão Ainda assim é importante descrevermos o processo, seja com base no modelo apresentado, seja com base em outros modelos mais complexos. Desse modo, é possível visualizar toda a dimensão de uma dada situação comunicativa. Retomando o conceito etimológico de comunicação, ação de tornar co‑ mum uma informação, uma ideia, um conceito etc., vamos agora definir um objetivo específico da comunicação no dia a dia? O filósofo grego Aristóteles já dizia que todo ato comunicativo quer, acima de tudo, persuadir o interlocutor a respeito da verdade expressa. Com efeito, quando digo simplesmente bom dia posso dar a entender que estou desejando a meu ouvinte que seu dia seja bom. No entanto, pelo que tem de clichê, de repetitivo o cumprimento, é difí‑ cil acreditar nessa possibilidade. O mais comum é tomar o bom dia como um mero oi ou coisa que o valha. Para que eu convença meu interlocutor de que realmente estou desejando um bom dia a ele, preciso mais do que o simples ato de enunciá-lo, preciso criar uma atmosfera propícia (o referente) e usar do código com ênfase. Na linguagem escrita, seria algo como grafar Bom dia!!!! com vários pontos de exclamação. Comunicacao_linguagem_P_.indd 40 11/01/14 14:27
- 51. Comunicação e linguagem 41 A persuasão está diretamente ligada às emoções, ao passo que a argumentação é mais racional. Apesar da diferença, persuadir ou argumentar têm o mesmo objetivo, levar o interlocutor a aceitar como verdade aquilo que se fala. Para saber mais O mesmo se dá quando alguém pergunta a outrem que horas seriam. Para que o interlocutor responda é necessário que, primeiro, se convença de que o emissor da mensagem realmente não saiba as horas e quer, de fato, saber. Se o receptor responde, cabe ao emissor da primeira pergunta analisar a resposta e ver até que ponto seria uma informação convincente. Para ilustrar melhor, imaginemos o seguinte diálogo: — Jorge, que horas são? Jorge olha para o relógio e responde: — Meio-dia e meia. Paulo, que saíra de casa às 12h15 e que andara por pouco tempo, agradece a informação e continua a caminhar. Paulo calculou que a resposta só poderia ser verdadeira pelo cálculo rápido que fizera. Em outros termos, tanto um quanto o outro se convenceram de que a informação prestada só poderia ser verdadeira. Para além da simplicidade do exemplo, ele se presta a mostrar situações diversas em que um precisa se convencer de que o outro está falando a ver‑ dade ou a menos fazer de conta que acredita, como nas conversas entre casais ou em promessas feitas por candidatos a cargos eletivos. O mesmo se aplica em sala de aula, em que cabe ao professor expressar-se de modo convincente a seus alunos, ou em uma campanha publicitária que procura convencer os consumidores de que tal produto cumprirá com o prometido. Sugiro a leitura do livro de Adilson Citelli, Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática. Você pode ler algo sobre este livro em: <http://www.webartigos.com/artigos/resenha-do-livro-lingua- gem-e-persuasao-de-adilson-citelli/45590/>. Ou ainda pode ler Linguagem e persuasão: o jogo argumentativo presente no gênero textual crônica, de Luciana Martins Arruda e Raquel Lima de Abreu Aoki. Para saber mais Comunicacao_linguagem_P_.indd 41 11/01/14 14:27
