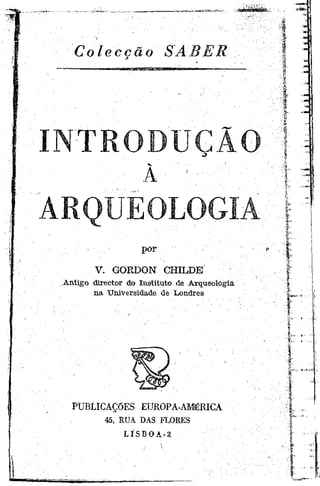
Vere gordon childe introduçao a arqueologia
- 1. Colecção SABER por V. GORDON CHILDE Antigo director do Instituto de Arqueologia na Universidade de Londres PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA 45, RUA DAS FLORES LÍSBOA-2
- 2. /J)i-fn ia obra foi traduzida ãa cãkão original, com o título A Sliorí Introduetzon to Areliaelogy. Tradução c prefácio de Jorge Borges de Macedo. Copyright by Frederielr Muller, Ltd. Todos os direitos reservados para a língua por- tuguesa por Publicações Europa-América, LM U-JLU H - ~Y A JL á j v y j f X - tíELSGU DE AZEVEDO BRÂrjC» I bJ w M t-..* ÍH w ç
- 3. PREFACIO Uma intenção de divulgar obras e historiadores cen- trais da cultura contemporânea não podia esquecer V. Gorãon Ghilãe, cujos trabalhos aliam a rara preo- cupação de tirar conclusões úteis para a cultura histó- rica, no sentido da procura de uma evolução inteligível, a uma rigorosa técnica de pesquisa. Entre nós, muitas das suas ideias e conclusões estão, de há muito, ao alcance do público, pois datam de 19k1 as primeiras traduções das suas obras. E o próprio grande pré-Ms- toriaãor conhecia o nosso país, que, mais de uma vez, visitou. Só agora, porém, se divulga em língua portuguesa uma obra metodológica sua sobre a ciência da Arqueo- logia, que, com tanta profundidade e tão fecundamente, soube cultivar. Livro essencialmente prático este, feito no sentido de disciplinar interesses dentro de uma téc- nica sólida, sem a qual eles não serão mais que simples curiosidades desprovidas de alcance científico. É tam- bém, julgamos, a primeira vez que, em Portugal, se publica um livro com esta finalidade. Carácter prope- dêutico, que a sua formação de especialista —no sentido superior do termo — não deixa transformar em má di- vulgação que escamoteia as reais dificuldades da ciência. Proveitosa leitura para quem deseja iniciar trabalho
- 4. u,.n,uão pela mão segura do pesquisador comprovado; "cvisão crítica, e sintética dos métodos próprios âa Arqueologia para quem dela se ocupa e conhece as dificuldades da sua especial metodologia. Aliás, não são frequentes os trabalhos com esta dupla vantagem, e só é possível fazê-los, após uma longa vida de investigação, nos seus aspectos práticos e interpretativos. É de salientar o facto de o Autor se limitar ao campo tradicional das técnicas de observação directa e de síntese imediata, sem abordar métodos instrumentais mais complexos, como que a advertir, lucidamente, que os primeiros instru- mentos que o jovem pesquisador deve saber utilizar são os olhos e as mãos. Passado este «exame» da perícia natural, poderá entrar então nas técnicas especiais, cuja aprendizagem e estudo não podem fazer-se era obras de divulgação ou de propedêutica: Há em Portugal um inc mtestável interesse pelas pesquisais arqueológicas, tanl.< históricas como pré-his- tóricas, e não são poucos os problemas ãa história portuguesa, que aquelas podem resolver. Motivo mais que suficiente para se procurar pôr ao alcance do maior, número este útil livro de Gordon Chilãe. Seja a sua difusão a nossa homenagem à sua memória. O TKADUTOK
- 5. CAPÍTULO I ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA I — Testemunhos arqueológicos A arqueologia é uma forma de história e não uma simples disciplina auxiliar. Os dados arqueológicos são documentos históricos por direito próprio e não meras abonações de textos escritos. Exactamente como qualquer outro historiador1 , um arqueólogo estuda e procura re- constituir ò processo pelo qual se criou o mundo em que vivemos — e nós próprios, na medida em que somos criaturas do nosso tempo e do nosso ambiente social. Os dados arqueológicos são constituídos por todas as alte- rações no mundo material resultantes da acção humana, ou melhor, são. os restos materiais da, conduta humana. O seu conjunto constitui os chamados testemunhos arqueológicos. Estes apresentam particularidades e limi- tações cujas consequências se revelam no contraste bem visível entre a história arqueológica e a outra forma usual de história, baseada em documentos escritos. Nem toda a conduta humana se conserva registada materialmente. As palavras que se pronunciam e alguém ouve, enquanto ondas sonoras, são, sem dúvida alguma, alterações que o homem realiza no mundo material e que podem ter grande significado histórico. No entanto, não deixam qualquer indicação arqueológica, a menos que sejam captadas por um dictafone ou registadas por um
- 6. 10 . V. GORDO® OHILDE escriba. O movimento de tropas no campo de batalha pode «mudar o curso da história», mas, sob o ponto de vista arqueológico, também é efémero. Além disso (o que talvez agrave a situação), a maior parte dos restos mate- riais orgânicos são perecíveis. Tudo o que é feito de madeira, couro, lã, linho, vegetais, cabelo ou materiais semelhantes,- quase todos os alimentos animais e vegetais, etc, se .decompõe, desaparecendo em anos ou séculos, a não ser em condições excepcionais. Num espaço de tempo relativamente curto, os vestígios arqueológicos reduzem- -se a meros pedaços de pedra, osso, vidro, metal, cerâ- mica, vasos vazios, gonzos sem portas, vidraças partidas, sem caixilho, machados sem cabo, buracos de poste sem postes. Pode avaliar-se a amplitude deste desgaste dos materiais observando superficialmente as galerias de etnografia de qualquer museu. Ainda se poderá ver melhor consultando o catálogo de um depósito geral — do Exército ou da Marinha, por exemplo — e retirando todas as páginas referentes a substâncias alimentares, têxteis, artigos de papel, mobiliário de madeira e outros produtos semelhantes: o grosso volume ficará reduzido a um delgado folheto. Não nos devemos esquecer que, mesmo na Inglaterra, há alguns séculos atrás, eram de madeira não só os carros de transporte, mas também máquinas de complicadas engrenagens, feitas de madeira e couro, não tendo sequer pregos metálicos, ao mesmo tempo que, numa herdade, se usavam recipientes feitos de madeira ou de couro em vez de porcelana e de cerâmica. Apesar de tudo, a moderna arqueologia, aplicando técnicas apropriadas e métodos comparativos, ajudada por alguns curiosos achados em turfeiras e em desertos ou regiões geladas, é capaz de completar uma boa parte destes vazios. O que irreparàvelmente desapareceu foram os pensa- mentos que não se exprimiram nem as intenções que não se executaram. Ora, tem-se dito que toda a história 6 a história do pensamento. Acaso este ponto de vista inva-
- 7. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA lidará a afirmação de que a arqueologia é uma fornia de história? De modo nenhum. Um pensamento ou uma intenção só poderão ter significado histórico quando se exprimem numa acção pública. Por muito extraordinária que seja a visão atribuída a um projecto, por muito engenhosa que seja a criação concebida por um inventor, o seu significado histórico é perfeitamente nulo se não for expresso ou comunicado a alguém —- a menos que tenha podido inspirar discípulos no sentido de os fazer aceitar ou difundir a mensagem, ou que tenha preparado aprendizes no sentido de reproduzir a sua invenção e de induzir os clientes a usá-la. Na verdade, qualquer histo- riador só pode ter em consideração pensamentos objec- tivados no consenso da sociedade ou que" tenham siãe- adoptados, aplicados e realizados por um grupo de conceptualizadores que são também os agentes. Todos os dados arqueológicos constituem expressões de pensamentos e de finalidades humanas e só têm inte- resse como tal. ÍÊ este facto que diferencia a arqueologia da filatelia ou de uma colecção de arte. Selos e gravuras têm valor em si, enquanto os dados arqueológicos só servem pela informação que fornecem sobre o pensa- mento e o rnodo de vida de quem os fez ou usou. Os resultados mais correntes da conduta. humana, os dados arqueológicos mais vulgares, podem chamar-se artefactos, coisas feitas ou desfeitas por uma deliberada acção humana. Os artefactos incluem utensílios, armas, ornamentos, vasos, veículos, casas, templos, canais, fos- sos, túneis de minas, poços de refúgio, e mesmo árvores derribadas pela acção do homem, ossos intencionalmente quebrados para extrair o tutano ou quebrados por uma arma. Alguns são objectos móveis que podem ser reco- lhidos, estudados num laboratório e porventura expostos num museu; costumam ter a designação de restos. Outros há que ou são demasiado pesados e volumosos para pode- rem ter um tratamento daquele tipo, ou estão inteira- mente ligados à terra, como, por exemplo, as galerias
- 8. IS " V. GORDON CJIILDE das minas: são designados por monumentos. Mas há muitos dados que, estritamente, nem são artefactos nem restos ou monumentos. Uma concha mediterrânica num campo de caçadores do mamute existente no Médio Don ou numa aldeia neolítica do Reno é um precioso documento na história do comércio, embora não seja um artefacto. A deflorestacao do Sudoeste da Ásia e a transformação do solo das pradarias de OMahoma em massas de poeira resultaram de acção humana. Tanto um como outro desses factos são acontecimentos histo- ricamente significativos e, por definição, dados arqueo- lógicos. Contudo, os seus autores em nenhum dos dois casos pretenderam conscientemente ou prepararam deli- beradamente qs seus lamentáveis resultados. Se um sis- tema de irrigação é um artefacto, já o não é um deserto produzido por um acidente. O público, ao que suponho, considera como monumen- tos as ruínas cobertas de erva, blocos de pedra escul- pidos ou com inscrições. Para muitos outros, restos são as moedas soltas, objectos de sílex apanhados nos campos, lavrados ou em escavações ou ainda recordações pes- soais — um botão do fato do príncipe Carlos, a falange de um mártir, um dente de Buda. Nenhum deles, porém, pelo menos do último grupo, pode ter qualquer signi- ficado como dado arqueológico. Para que um objecto tenha um significado decifrável por um arqueólogo, é preciso que tenha sido encontrado dentro de um contexto. TJm arqueólogo pode classificar ruínas e dar-Ihes assim um sentido histórico porque nem estão vazias nem iso- ladas. Contém —também fragmentariamente— restos deixados pelos seus construtores e ocupantes; normal- mente, em qualquer zona arqueológica, as várias ruínas estão, de uma forma mais ou menos rigorosa, ajustadas a um mesmo plano e, neste caso, podem considerar-sé pertencentes a um conjunto de vestígios semelhantes. Quando assim é, da distribuição dos monumentos pode extrair-sa um plano estratégico ou administrativo.
- 9. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 13 II — Os tipos • Ê evidente que se um monumento apresentar a inscri- ção «John Doe, falecido em 1658», poderá ser classificado, pelo menos, cronologicamente. O mesmo se dirá de um objecto onde está indicado o nome do fabricante e a data do fabrico. Mas, em compensação, um utensílio isolado ' de ped~a só terá significado se estiver estreitamente rela- cionado com outros utensílios encontrados num contexto significativo, pelo qual se qualifiquem tecnicamente, a menos que esteja de acordo com um tipo já definido. Como se pode ver, pela observação do conjunto de uma ; colecção, os utensílios de pedra, apresentam um.'número enorme de formas e dimensões diferentes. Um dado íipe aparece na Grã-Bretanha em sepulturas situadas debaixo de elevações circulares, e é muitas vezes acompanhado de pequenos obectos de cobre ou bronze; um outro tipo aparece, por vezes, em elevações sepulcrais dispostas nc sentido do comprimento, nunca contendo objectos metá- licos; um outro, ainda, pode encontrar-se em eavomas. junto com ossos de rena ou de animais desaparecidos; e assim sucessivamente. Se o utensílio isolado se relaciona com qualquer destes tipos referidos, poderá o arqueólogo localizá-lo cronologicamente, dentro" de um período rela- tivo, indicando também que os homens viveram perto do local do achado, num determinado período. Mas at o utensílio for único, não constitui um dado para a arqueo- logia. Não passa de uma simples curiosidade até que um utensílio semelhante, isto é, do mesmo tipo, possa ser, observado num contexto arqueológico significativo. Nestas condições, a definição dada na p. 9 pode ser agora reformulada da seguinte forma: o testemunho arqueológico é constituído por «tipos» encontrados em «associações» significativas. Mas tanto o termo «tipo» como «associação» exigem uma explicação mais pro- funda. Â arqueologia começa por ser uma ciência classi- ficadora, corno a botânica ou a geologia. Só depois de
- 10. V. GOBDON CHILDE classificar os dados é que o arqueólogo os começa a interpretar, para lhes extrair a história. Ora uma classe é uma abstracção, e, deste modo, os arqueólogos tratam com abstracções, tal como, afinal, os outros cientistas. TJm zoólogo, por exemplo, pode estudar cavalos — classes c espécies de cavalos—, mas não os cavalos individuais. Partindo dos seus estudos, pode fazer generalizações e, em seguida, previsões acerca da conduta provável de qualquer tipo representativo de uma determinada subes- pécie (casta), quer dizer, sobre as suas probabilidades de eficiência a puxar um arado ou a transportar cargas nas altas montanhas. Mas já nenhum zoólogo pode prever que cavalo ganhará uma corrida de obstáculos. Os cál- culos do apostador das corridas não são deduções sobre generalizações científicas, mas baseiam-se em estimati- vas subjectivas sobre a «forma». O arqueólogo deve imi- tar o zoólogo:-estuda abstracções — tipos de vestígios, de monumentos e de acontecimentos arqueológicos; o papel do «apostador em cavalos de corrida» assemelha-se ao de um avaliador de obras de arte. Certamente que não há dois produtos de trabalho manual humano absolutamente iguais. Até num auto- móvel montado com elementos feitos em série se podem encontrar desconcertantes diferenças no fabrico. As dife- renças entre várias cadeiras ou pares de sapatos, feitos por um mesmo artista, podem ser ainda mais acentuadas. No entanto, todos os sapatos fabricados pelo Sr. X. estão perfeitamente de acordo com o padrão médio que satis- faz aos seus clientes, e, no conjunto, esse padrão conserva uma semelhança tão estreita com a moda de sapatos para homem usados no bairro londrino de West End cm 1950 que os seus clientes, ao usá-los, não se consideram ridículos nem estranhos nos seus clubes. De facto, apesar das pequenas diferenças no corte e no acabamento, os sapatos usados na cidade peia camada mais elevada da classe média londrina são de tal modo semelhantes que qualquer sapato poderia ser imediatamente reconhecido
- 11. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 15 como próximo de um dos três ou quatro tipos de calçado. Da mesma maneira, embora a moda mude com o tempo, todas as facas usadas na Inglaterra em determinada data (seja em 1950, 1750, 1250, 250 d. C. ou 250 a. C.) reproduzem exactamente uma ou outra espécie de um grupo muito limitado de padrões. Os arqueólogos têm que ignorar as pequenas particularidades individuais de uma dada faca e tratá-la como um exemplo de um ou outro destes tipos-padrão, uma unidade Ce uma detex*mi- nada classe de facas. Só assim é possível reduzir a espantosa variedade da conduta humana a proporções ajustáveis ao trata- mento científico. Um arqueólogo, portanto, renuncia a alguns dos objectivos usualmente pretendidos pelos histo- riadores. Um" arqueólogo, como tal, pode estudar as características gerais da pintura de um vaso grego, traçar o seu desenvolvimento estilístico e distingui-lo da arte cerâmica fenícia ou egípcia. Não seria já próprio de um arqueólogo, mas de um historiador de arte, pro- curar atribuir determinado phiale * mais a Euphronios do que a Euthimedes ou fazer a apreciação estética sobre uma qualquer idiossincrasia do pintor. Assim também um arqueólogo, sem outro qualquer auxílio, poderia pre- tender determinar aproximadamente onde e quando foi inventado o carro de rodas ou a locomotiva. Mas só com a ajuda de documentos escritos é que provaria que a Rocket I2 foi realmente a primeira locomotiva; e, como os carros foram inventados antes da escrita, nunca logrará identificar qual foi o primeiro. Em cada caso, só quando o modelo original foi copiado e reproduzido é que se tornou ura tipo e deste modo um dado arqueo- lógico normal. 1 Prato grego. (N. do Tj 2 Refere-sé à locomotiva inventada por Stephenson em 1827 e que recebeu essa designação diferencial. (N. ão T.)
- 12. 16 V. GORDOK CEILDE A limitação da arqueologia aos tipos significa, eviden- temente, a exclusão, na história arqueológica, de actores individuais. Uma história deste tipo não pode aspirar a ser biográfica e os arqueólogos estão excluídos da escola histórica que estuda a acção do «grande homem». Vere^ mos mais adiante que, numa história arqueológica, os actores são as sociedades e o desaparecimento das per* sonae individualmente consideradas não tira interesse humano ao drama estudado nesta ciência. Mas torna-se necessário explicarmos primeiro o significado do termo «associação». Diz-se que os dados arqueológicos estão associados quando se verifica qt.e ocorrem conjuntamente em con- dições que revelam UF.O contemporâneo. Um enterramento pagão é um exemplo clássico de associação. Tomemos um guerreiro, com ornatos e insígnias, acompanhado de ali- mentos e bebidas, provido de um serviço completo de mesa e deitado de costas num ataúde escavado num tronco de carvalho, depois coberto por um monte sepul- cral. Neste exemplo estão associados o esqueleto, o ritual do enterramento, e as várias partes do equipamento funerário constituem aquilo a que podemos chamar um «conjunto». Da mesma maneira, todos os objectos dei- xados no chão de uma casa abandonada à pressa, juntav mente com a própria casa e os respectivos móveis, con- sideram-se associados e são também chamados um «con- junto». Mas este termo só com reservas poderá ser apli- cado a tudo o que foi encontrado no local de uma casa, num monte de entulho ou num depósito aluvial na mar- gem de um rio. Se a casa foi ocupada por várias gerações, esses objectos podiam ter sido enterrados no chão ou ficado alojados nas fendas e. aberturas, tendo assim diferentes idades. O conteúdo de um monte de entulho pode também ser variado. Em ambos os casos, as téc- nicas modernas permitem a um investigador distinguir e formar vários "conjuntos consecutivos, extraídos de um monte de entulho ou do local onde existiu uma casa; já
- 13. INTZiODUÇÃO À ARQUEOLOGIA O mesmo não poderá fazer com um depósito aluvial. O mesmo leito de cascalho de um rio pode conter utensílios feitos e perdidos por homens em dada altura instalados junto do curso do rio, juntamente com outros utensílios que já se encontravam em depósitos formados cerca de cem mil anos antes de as águas das cheias o terem = apanhado e levado para o depósito aluvial das margens. Num agregado assim formado nenhuma escavação, por muito habilmente dirigida que fosse, seria capaz de dis- tinguir conjuntos de tipos associados. Não obstante, o exame do «estado de conservação» dos utensílios podia ter. alguma utilidade para esse efeito. IH — Coitaras Ora, verificou-se que numa determinada área ou região, num certo número de estações distintas aparecera associados os mesmos tipos. Assim, nos nossos dias e na Inglaterra, nos lugares das cidades bombardeadas, veri- ficaríamos que a maior parte das casas arruinadas tinham sido construídas, em quase todos os casos, segundo o mesmo plano, com o mesmo tipo de tijolos, e continham fragmentos de espécies semelhantes de bules, caçarolas, chaleiras, cutelaria, peças soltas, garrafas de cerveja, válvulas de rádio, etc. A mesma uniformidade, pelo menos, se poderia observar nas ruínas das cidades do Norte da Rússia bombardeadas pela mesma altura, mas as casas seriam de madeira e não de tijolo e os planos de construção, mobiliário e conteúdo seriam profunda- mente diferentes dos ingleses. Ao conjunto de tipos seme- lhantes que em diferentes estações aparecem sempre ligados chamam os arqueólogos uma cultura. Desde que se possam pôr em contraste dois ou mais desses agrega- dos, como, por exemplo, os conjuntos próprios das cida- des russas e das inglesas, a expressão também pode ser usada no plural. De facto, tal como os antropologistas, I. A.—2
- 14. V. GORDON CHILDB os arqueólogos empregam em sentido parlitivo esto teimo de bem difícil uso. Neste sentido, o termo «cultura» é usado com frequência em literatura arqueológica e o seu sentido é tão especial que precisa ser mais bem anali- sado e justificado, mesmo ã custa de um pequeno desvio. Os antropologistas e os arqueólogos empregam o termo para designar tipos de conduta comuns a um grupo do pessoas, a todos os membros de uma sociedade. Essa conduta é ensinada quer pelos mais velhos âs crianças, quer por uma geração à geração seguinte. De facto, quase toda a conduta humana é aprendida deste modo. Os homens herdam, em número muito'reduzido, instintos inatos, ou antes, instintos muito generalizados, aos çjiais a educação dã forma, se acaso se destinam a garantir ou a satisfazer a acção. Ao contrário âos cordeiros ou dos gatos, as crianças humanas têm que ser ensinadas quanto ao que hão-de comer, e o efeito deste antigo treino é tão forte que muitas pessoas não podem real- mente digerir um alimento são e nutritivo se a ele não estiverem habituadas. Em consequência disso, não há um único padrão de conduta com que todos os membros da espócie humana se conformem, na mesma amplitude que, por exemplo, se verifica com um carneiro ou um bacalhau. Por outro lado, cada sociedade humana impõo aos seus membros uma estreita conformidade com pa- drões ou normas de conduta mais ou menos rígidos. Pelos mesmos motivos, todos deveríamos falar a mesma linguagem. Não inventamos as- palavras que usa- mos nem as regras de gramática e de sintaxe que regulam o seu uso. A sociedade apresenta-no-las completamente elaboradas e nós não temos que as escolher, mas que as aceitar. Até a nossa escolha de roupas está muito limi- tada. Não ocorreria ao inglês médio sair à rua em roupa interior ou com um fato sem mangas em vez de o fazer com o seu habitual par de calças e casaco. Mas, mesmo que o quisesse, não poderia comprar semelhante vestuário Bum alfaiate de Londres. Se ele convencesse um alfaiate
- 15. B«iwew*Wíws»Fre 'w ^^ INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGIA 19 a fazer-lhe um tal fato especialmente para si, sentír-sê-ia ridículo c pouco ã vontade quando entrasse num auto- carro. Ê evidente que são peimitidos certos desvios indi- viduais. Não há duas pessoas que pronunciem as palavras da mesma maneira nem que usem exactamente o mesmo vocabulário. Apesar da instrução compulsiva e da B. B. C, muitas pessoas preferem dizer «eu» a «para mim» e «seu» cm vez «dele», e possivelmente estes últimos vestígios de declinação virão a ser eliminados da linguagem cor- rente, como já o foram no inglês o conjuntivo e o dativo. Noutros domínios, torna-se possível nos povos civilizados uma escolha mais ampla e uma maior liberdade para os caprichos individuais. Mas quanto mais pequena foi' a sociedade menos liberdade eia concede ao indivíduo para se desviar das normas de conduta aprovadas. Num atol do coral do Pacífico ou num vale do uma montanha da Nova Guino, a conduta é infinitamente mais uniforme do que em Manchester ou em Zurique. Por um lado, dificilmente se apresentará a ura ilhéu do Pacífico ou a um tribal papua qualquer alternativa de conduta, tais como as que se apresentam a um inglês letrado, que, pelo menos, tem um conhecimento de leitura sobre hábi- tos curiosos de estrangeiros e pode ter visto chineses comerem com pauzinhos. Por outro lado, a força da opinião pública é muito mais compressiva numa pequena comunidade. Numa grande cidade, as excentricidades no vestuário não provocarão vaias de censura ou demons- trações hostis; numa aldeia, as crianças escarnecerão de qualquer anormalidade e os adultos poderão fazer sentir a sua reprovação de maneira ainda menos agradável. Os padrões tradicionais de conduta são mais diver- gentes nas sociedades pequenas do que nas .grandes. Contudo, mesmo no nosso mundo contemporâneo da mecanização e da transmissão rápida das normas de conduta, os padrões de correcção e de beleza são dife- rentes entre Russos, Ingleses e Norte-Americanos. E muitas destas divergências de tradição exprimem-se, como II
- 16. . V. GORDON GHIL.DE se viu, em diferenças referenciáveis em objectos mate- riais, capazes de se tornarem dados arqueológicos. As diferenças nas modas de vestuário ou de arquitectura domestica reflectir-se-ão em vestígios arqueológicos e não em diferenças dialectais. Para distinguir as várias culturas, os arqueólogos utilizam as tradições divergentes que se revelaram mate- rialmente em resultados diversos, ou melhor, em que são diferentes os resultados materiais dos actos inspirados por essas tradições. E os arqueólogos consideram que cada uma destas culturas representa uma sociedade. Uma cultura —importa lembrar— é justamente um conjunto de tipos que se encontram constantemente juntos num certo número de estações. Ora dá-se o nome de tipo ao resultado de uma série de acções distintas inspiradas por uma e mesma tradição. Os tipos estão associados porque as várias tradições neles expressas são conser- vadas e aprovadas por uma única sociedade. E o mesmo conjunto de tipos aparece num certo número de estações, porque todas as estações foram oeupatlas pelos membros de uma e mesma sociedade. Que espécie de unidade essa sociedade apresentava — se uma tribo, uma nação, uma casta, uma profissão — dificilmente se poderá conhecer através de dados puramente arqueológicos. Mas as socie- dades — embora não possam receber designação pró- pria— constituem, para os arqueólogos, os actores do drama histórico. IV — O tempo arqueológico A conduta tradicional pode alterar-se no decurso do tempo. Os tipos expressivos dessa conduta podem variar, iiâo sô quando são produzidos por diferentes sociedades, mas também quando as modas se modificam dentro de «ma mesma sociedade. Consequentemente, podemos pôr cm contraste a cultura inglesa de 1945 tanto com a
- 17. INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGÍÁ 21 cultura inglesa de 1585 como com a cultura russa do 1945. O plano de uma cidade Tudor e os edifícios qu© a formavam, assim como o mobiliário e o restante con- teúdo, são diferentes do plano, mobiliário c conteúdo do uma cidade inglesa contemporânea, tal como esta é dife- rente de uma cidade russa. Concretamente, portanto, cultura significa o mesmo em ambos os casos: um con- junto de tipos quí. constantemente se encontam juntos. Mas, no segundo sentido, no que se refere à interpretação, o caso é diferente. Dos testemunhos escritos, inferimos (e, porventura, poderíamos inferir o mesmo dos dados arqueológicos) que .'i cultura inglesa actuai, com todos os seus elementos componentes, se desenvolveu a partir da cultura inglesa Tudor. num contínuo processo de pro- gressão científica e tecnológica, mudanças económicas •e políticas, sem qualquer quebra na tradição e sem qual- quer substituição da sociedade que realiza essas tradições por outra com uma constituição genética diferente ou de diferente ancestralidade cultural. Aquilo que nós quere- mos dizer com «cultura Tudor» é a «cultura inglesa de período Tudor». E de facto seria melhor dizê-lo dessa forma, pois as expressões não são sinónimas. Ora nos sucessivos níveis de uma estação estratifi- cada, os arqueólogos observam conjuntos de diferentes tipos em que uns se seguem aos outros. Por outras pala- vras, observá-se uma sucessão de culturas; dizemos então que existe, nessa estação, uma sequência cultural. Desde que os mesmos conjuntos se apresentem na mesma ordem em diferentes estações—e numa região natural é o que «m regra se verifica—, a expressão é inteiramente cor- recta. Na verdade, um período arqueológico em qualquer zona ou em qualquer estação dessa zona é realmente constituído pela cultura, ou antes, pelos tipos caracte- rísticos que, nas diferentes camadas, a distinguem daque- les que os precedem ou seguem. Podem surgir confusões se aplicarmos o mesmo termo tanto ã divisão cronológica de' um dado conjunto arqueológico como aos elementos
- 18. E2 F. GOBDON CRILDE característicos dessa mesma divisão. No caso da «cultura Tudor» não há qualquer ambiguidade; ninguém pensa que o termo designa uma fase de cultura francesa, russa ou qualquer outra que não a inglesa. Mas deve desde já advertir-se o estudioso de que uma aplicação semelhante aos conjuntos pré-histórieos tem suscitado tremendas confusões (p. 47). Temos que aprender a distinguir entre «períodos de cultura», isto é, fases gerais de cultura, e «culturas», que resultam de divergências da tradição social num mesmo período arqueológico. A terminologia deveria reflectir esta distinção, mas, infelizmente* nem sempre assim sucede. Finalmente, há certos tipos que mudam mais depressa que outros, assim como há muitos padrões tradicionais de conduta comuns a várias sociedades distintas. Nos últimos cinquenta anos, os tipos de automóvel mudaram quase a ponto de se tornarem irreconhecíveis, enquanto as carroças permaneceram praticamente inalteráveis. No mesmo período a moda do calçado masculino quase se não modificou, enquanto o gosto dos chapéus se alte- rou muitíssimo. No mesmo sentido, as lâmpadas eléctri- cas e os pires de uma cidade russa bombardeada serão muito mais parecidos com os congéneres ingleses do que os fogões ou bules. Os conjuntos arqueológicos especí- ficos das divisões cronológicas ou outras diferem habi- tualmente entre si num número muito escasso de tipos. Os que são usados para distinguir culturas ou fases de culturas têm a designação de tipos-fósseis — pois o con- ceito é importado da geologia. Qualquer conjunto, sempre que nele se encontra um tipo pelo qual se pode distinguir um período, fica «datado» e atribuído ao período a que tal tipo-fóssil pertence. Na classificação cronológica, por- tanto, um único exemplar de um tipo-fóssil bem definido é o suficiente para datar o conjunto em que está inte- grado. No entanto, para poder definir uma cultura, o tipo-fóssil tem que aparecer com frequência e em várias estações. Mas, evidentemente, aquele não caracteriza nem i
- 19. 23 INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGIA constitui a cultura, embora, muitas vezes, 03 pré-histo- riadores procedam como se assim sucedesse. Sc assim fosse, as lâmpadas eléctricas seriam constituintes tão significativos da cultura russa como os fogões. Há cerca de meio milhão de anos que o homem vive e age na Terra. Durante todo este tempo provocou altera- ções no mundo material, deixando assim testemunhos ar- queológicos. A história arqueológica apreende ou tenta apreender o conjunto destes quinhentos mil anos. Ká pouco mais de cinco mil anos, algumas sociedades —os Egíp- cios e os Sumérios — inventaram sistemas de escrita e começaram a registar nomes e acontecimentos, iniciando os testemunhos escritos. Subsequentemente, outros pevas — os habitantes do vale do Indo, os Hititas da Ãsia Menor, os Minóicos de Creta, os Micénios da Grécia continental, os Chineses— começaram também a escre- ver e esta prática difundiu-se, até que, actualmente, a maior parte (mas não a totalidade) dos grupos humanes conhece a escrita ou, pelo menos, dispõe de pessoas que sabem ler e escrever. Evidentemente que os.textos escri- tos se acrescentam aos testemunhos arqueológicos c enriquecem-nos, sem que os ponham de parte ou os tor- nem supérfluos. Além disso, o enriquecimento do conteúdo da história por meio de testemunhos escritos tem um significado tão dramático que se tomou habitual faser do início da escrita a base para uma divisão nos teste- munhos arqueológicos. A parte que não dispõe de textos escritos é convencionalmente chamada arqueologia prô- -Mstórlca; quando começam os testemunhos escritos, em qualquer região, começa então a arqueologia do período histórico. Esta divisão não tem um significado muito profundo nem envolve qualquer mudança fundamental de método. Todos os processos para verificação, classificação e inter- pretação dos dados pré-históricos são igualmente apli- cáveis aos períodos históricos do testemunho arqueológico.
- 20. V. GOBDON CIÍILBE Clai-o está que a existência de fontes escritas torna desnecessários alguns desses dados e introduz outros. Mas os conceitos arqueológicos mais puros e as mais refinadas técnicas de escavação têm sido aperfeiçoadas para estudo dos testemunhos pré-históricos. A falta de datas escritas, teve que se inventar um sistema especí- fico de cronologia arqueológica, baseado exclusivamente em dados não escritos, mas é claro que muitas vezes não se pode aplicar esse processo a períodos mais recentes. Além disso, os testemunhos deixados pelos nossos ante- passados pré-letrados — para não falar dos homens do pleistooénio mais antigo •— são tão raros e pobres, era comparação com os deixados pelos Romanos, Gregos, Egípcios ou Sumérios, que os pré-historiadores têm que reunir escrupulosamente è estudar minuciosamente cada vestígio que chegou até nós e pensar nas maneiras de determinar e reconstituir traços que se haviam oblite- rado quase por completo. Pelo contrário, a arqueologia mesopotâmica foi, durante muito tempo, uma caçada às placas com inscrições e aos objectos ãe arte, enquanto as casas particulares, a cerâmica doméstica, as armas e utensílios de metal e outros testemunhos humildes eram estouvadamente destruídos ou postos de parte como não- -significativos. No entanto, os mais antigos documentos literários da Mesopotâmia, assim como do Egipto, são fragmentários, muito limitados e de conteúdo escasso. Só nas duas ou três últimas décadas, por meio da apli- cação às estações sumérias e babilónias das técnicas de escavação e dos conceitos interpretativos elaborados pelos pré-historiadores é que foi possível conceber a actual perspectiva sobre o Próximo Oriente antigo. Mesmo a respeito da cronologia, foram-se buscar dados puramente arqueológicos para corrigir as ambiguidades e erros doa antigos testemunhos escritos; um dos resultados foi diminuir em cerca de duzentos e cinquenta anos a data da existência de Hamurabi, o primeiro legislador.'
- 21. INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGIA 25 Assim, também, durante muito tempo, os arqueólogos da época clássica de tal modo concentraram a sua atenção nos aspectos aquitectónicos dos edifícios públicos, na estatuária, mosaicos, e nas gemas gravadas, que, até 1935, não se sabia como era realmente uma casa grega do período clássico! Enquanto os historiadores gregos a romanos nos deixaram volumosos relatos sobre os acon- tecimentos políticos e militares, foram, em compensação, lamentavelmente omissos em matérias mundanas como o comércio, a densidade da população e a tecnologia. O volume e extensão do tráfego grego com os Bárbaros — todos os não gregos, incluindo os Egípcios e os Babi- lónicos, eram assim chamados — está sendo reconstituído pelos arqueólogos, através do estudo dos vasos gregos da vinho recolhidos no Sul da França e da Rússia, no Irão e em outras regiões «bárbaras», indicando-se em mapas os locais dos achados. Os cálculos sobre a população de Atenas — a cidade mais bem conhecida da antiguidade clássica—, baseados em referências escritas, faziam-na variar entre 40 000 e 160 000 habitantes. A completa escavação de uma cidade como Olinto, revelando o número total de casas, forneceu os elementos fundamentais para «um cálculo razoável. Mesmo para a história militar, a que os autores clássicos dão tanta. proeminência, 03 dados arqueológicos têm aumentado e até corrigido o seu testemunho. O entulho resultante das destruições e reconstituições dos fortes e campos legionários do Norte da Grã-Bretanha revela vicissitudes dos sucessos roma- nos e flutuações na política imperial a que se não refe- rem as fontes literárias. Na verdade, todos os ramos da história, tal como esta actualmente é compreendida, têm que estar baseados em dados arqueológicos não escritos. Para a história da ciência, por exemplo, as aplicações da arqueologia do estudo da tecnologia são, pelo menos, tão importantes como as especulações dos teólogos ou dos metafísicos. No entanto, até ao século xvi a tecnologia é virtual-
- 22. V. GQBDON CHILDM mente ignorada nos textos escritos. A história das ma- quinas que utilizam a rotação está sendo gradualmente escrita através das descobertas arqueológicas de moinhos de braços e das azenhas ou pelas suas representações em desenhos e mosaicos. Assim, continua a ser conveniente distinguir a pré- -história dos outros ramos de arqueologia, havendo toda a razão em dar àquele ramo da arqueologia um lugar proeminente no conjunto dos estudos arqueológicos. BIBLIOGRAFIA CHILDE, V. G., Piccing togeíhcr the past (Londres, 1956): exaustiva discussão dos termos e conceitos aqui expostos nos capítulos i e n. 26
- 23. CAPITULO H A CLASSIFICAÇÃO I — A tríplice base Para fazer história com os dados de que dispõe, o arqueólogo tem que os classificar. Para esse cfeitof emprega três diferentes bases de classificação, que podem ser designadas, respectivamente, por funcional, cronoló- gica e corológica. Por outras palavras, a respeito de qualquer dado, o arqueólogo faz sempre três perguntas: Com que fim foi feito? Quando foi feito? Quem o fez? E perfeitamente natural que o leitor fique alarmado com a complexidade destas perguntas. Para o ajudar a com- preender as suas implicações, consideremos um exemplo — não totalmente imaginário— aplicado ã classificação cronológica, ainda usada para os dados pré-históricos e actualmente utilizada para dispor as espécies num museu. :•;:. Imaginemos o director de um museu bastante raro que precisasse de classificar, para exposição, uma massa de espécies excepcionalmente variada, obtida na- Ingla- terra e nos vários países e regiões da Europa, da Ãsia e mesmo da Austrália, e de preparar os dísticos elucida- tivos. A colecção está limitada a artefactos —objectos feitos pelo homem—, mas compreende não só espécies autênticas, mas também fotografias, planos e desenhos;
- 24. V. GORDON CIIILDE de facto, uma igreja ou um castelo são artefactos, exac- tamente como um cachimbo ou um dedal, embora tenham menos possibilidades de serem expostos em vitrina. O objectivo de um museu é apresentar a vida dos povos e das sociedades nos diferentes períodos da sua história, isto 6, nos sucessivos estádios das suas culturas (no sentido em que a palavra é empregada na p. 17), c 6 evidente que os monumentos fazem parte dessa cultura, exactamente como os simples vestígios. O museu tem a função de apresentar o desenvolvi- mento da cultura e de ser, de uma forma visualmente concreta, uma história cultural no sentido em que aquela expressão ê hoje compreendida. Em consequência disso, o director terá que apresentar, em conjunto, os objectos usados—numa dada época e por um dado povo (p. 22). Uma vez que a história é um processo no tempo, uma sequência de acontecimentos, a enorme massa da colec- ção distribuir-sé-á por uma série de galerias, cada uma das quais se dedicará a um só período, ficando tudo dis- tribuído por ordem cronológica. O nosso imaginário direc- tor tem a sorte de ter à sua disposição uma arranha-ecus, uma autentica Torre da História. Assim, pode dedicar a cada época um piso inteiro. O visitante subirá desdo as jazidas pré-históricas através dos pisos romano, anglo- -saxónico, normando, Tudor, jacobita *, jorgiano, vito- riano, até atingir, no topo, o piso contemporâneo nco- -isabelino. Se a colecção for tão completa como imaginamos, para a alojar será, evidentemente, necessária uma série do arranha-céus paralelos e inter-relacionados — como que com asas. O indiano actual, para não citar o papua, usa fatos muito diferentes do inglês deste mesmo período. Embora os fatos sejam usados na mesma época, terão que estar expostos em diferentes «asas» no mesmo piso, 1 Da época, de Jahno I.. (N. do T.y
- 25. INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGIA 29 se bem que, no entanto, ocupem galerias diferentes. Nota- remos situações semelhantes nos pisos inferiores. Na verdade, quanto mais baixo descermos, maiores diferenças locais haverá. Felizmente, como na realidade sucede com os arranha-céus, o nosso museu imaginário é mais largo na base do que no topo. Entretanto, podemos notar que a mera disposição geo- gráfica, das «asas» do arranha-céus não é suficiente para atender à diversidade das culturas • existentes em qual- quer período, isto é, em qualquer piso. Dentro de uma mesma região podem existir dois ou mais grupos do povos c'!3 culturas tão diversas que necessitem salas díferent» s. Mesmo em Inglaterra, no piso vitoriano ou no jorgiano, pelo menos, os ciganos necessitarão de um grupo separado de vitrinas. Na «asa» indiana será pre- ciso fazer uma divisão ainda mais completa; mesmo qua os artefactos feitos e usados pelos Indus, Maometanos e Partas não diferissem tanto entre si que não precisas- sem de salas diferentes, haveria ainda as tribos pagãs, como os Todas 1 e os Oranis2 , cujo modo de vida é de tai forma diferente da maioria «civilizada» e tão diferente entre si que exigiriam, com toda a razão, uma sala pró- pria. Felizmente para o nosso director, a conduta dessas tribos deixa um número de vestigios fossilizados muito menor do que outros povos. Um simples recanto será o suficiente para alojar, à vontade, 0.3 objectos ilustrativos de cada uma delas. Nos primeiros tempos, numa pequena área encontra- vam-se sociedades inteiramente diferentes. Na Idade da Pedra, por exemplo, numa região tão pequena como 3 Dinamarca podem distinguir-se três grupos distintos. No entanto, embora uma parte importante da conduta de cada uma delas se tenha fossilizado, de forma a não ' Tribo quase extinta das montanhas Nilgivi, zona de Ma- drasta, e que ainda pratica a poliandria. (N, ão T.) 2 Ou Oraons, população dravldica do Nordeste da índia (Tchota Nagpur); vivem ainda ém regime do recoleegão (N. do T.}
- 26. •"?¥' • "S^fPSIV- V. GOBD027 CHJLDE deixar ao pré-historíador qualquer dúvida de que estava perante três tipos inteiramente diferentes, todos os ele- mentos puderam ser convenientemente expostos em três pequenas vitrinas. Cada uma destas sociedades —quer os três grupos anónimos da Dinamarca pré-históríca, quer os Indus e os Todas da Índia, ou os Ingleses e os ciganos— criou uma cultura própria, e esta cultura evoluiu ou, pelo menos, modificou-se no decorrer do tempo, de modo a ter que estar representada em mais de um piso. De facto, o nosso museu imaginário não pretende ilustrar o desenvolvimento da cultura, pois isso seria impossível. Tudo quanto pode documentar é o desenvolvimento das culturas, os padrões alteráveis do conduta das sociedades humanas diferentes. E por essa razão que o edifício tem muitas «asas» laterais. Cada uma das inúmeras divisões por piso constitui um depar- tamento e necessitará de um conservador próprio para organizar e classificar o seu conteúdo. II — A classificação funcionai O director e os conservadores que com ele colaboram terão evidentemente que etiquetar cada espécie, de forma a informar os visitantes de como ela era usada e para que servia, numa palavra, a função que desempenhava na vida da sociedade que a fez e a usou. Deste modo, a direcção do museu terá que escolher as espécies, apre- sentando e agrupando os ornamentos pessoais, os pro- cessos de cortar, os meios de transporte, os objectos e construções usadas para o culto, jogos e campos de exi- bições, etc. Dará a cada objecto exposto um número adequado que possa ser chamado a sua coordenada fun- cional e escreverá uma breve legenda para explicar a sua finalidade. Sucede que esta etiquetagem não é tão fácil de fazer como se pode supor. Além dos conhecimentos necessário^
- 27. --flga?:' INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 81 que tomam aspecto de enciclopédicos, para compreender o uso das inúmeras miudezas usadas nas indústrias modernas e mesmo nas antigas, o significado dos sím- bolos dos vários grupos, ordens ou lojas rivais e as subtilezas dos jogos populares, a apresentação dos objec- tos referentes às fases mais antigas suscita problemas especiais. Pelas razões expostas na p.. 9, as espécies arqueológicas de grande antiguidade têm todas as pro- babilidades de serem incompletas. Assim, as espadas e estoques mais antigos não têm já os copos. Dos arpões, só chegaram até nós os dentes de osso d'is pontas. Os machados de pedra lascada em nada se p?.recém com os machados que hoje usamos. Sem dúvida que os. seus cabos desapareceram, mas é evidente que estes não pas- savam por um orifício aberto no corpo da lâmina, por- quanto os machados mais antigos não eram perfurados. Durante a Antiguidade clássica e na Inglaterra medieval supunha-se que esses instrumentos caíam juntamente com os raios O seu verdadeiro uso só foi conhecido quando se viram os peles-vermelhas da América do Norte usar instrumentos de pedra muito semelhantes, como sejam, por exemplo, as suas machadinhas. Da mesma forma, também, as pontas de seta em osso recolhidas nos remotos povoados dinamarqueses e suecos foram sempre chamadas harpões até se verificar que eram muito mais parecidos com os forcados de ferro ainda hoje; usados pelos pescadores escandinavos. Veremos adiante de que modo esses vestígios arqueo- lógicos sobreviventes podem ser completados com se* gurança. Os dois exemplos há pouco referidos mos- tram bem de que modo a função de certas espécies arqueológicas de uso desconhecido se pode esclarecer quando as relacionamos com o folclore e a etnografia. _ * Essa convicção ê ainda corrente em Portugal, sobretudo na Alentejo e em Trás-os-Montes*. (N. do T.) -
- 28. 32 V. GORDON OIIILDE Nas aldeias ainda não industrializadas da Europa, nas; ilhas ocidentais da Escócia, nas profundidades das flores- tas finlandesas ou ao longo dos vales balcânicos menos acessíveis, os camponeses e pescadores conservam intac- tas tradições que remontam à Idade da Pedra, revelán- do-as em utensílios e produtos comparáveis a vestígios e monumentos de há mais de quatro mil anos. No Árctico e no deserto do Kalahari, as populações ainda vivem de maneira semelhante à dos Europeus ou dos seus contem- porâneos Africanos na época glaciar. As semelhanças do equipamento que chegou até nós permitem considerar estes modernos selvagens, em certo sentido, como repre- sentantes das sociedades da Idade da Pedra Lascada. Logo que os vestígios foram assim arrumados em grupos funcionais, o nosso director pode ficar embara- çado ao verificar que, em muitos grupos, vai' ter que expor grande número de objectos na sua, ainda que espaçosa, Torre da História. Poderá reduzir estes grupos a proporções aceitáveis, desprezando as diferenças meno- res entre as espécies individuais. Considera-se que alguns deles pertencem ao mesmo grupo; portanto, basta exibir um só objecto, podendo o resto ser enviado para o armazém ou posto de parte. Por exemplo, a Bulby Motor & C° desde 1925 que fabrica anualmente mil dos seus democráticos carros de 5 cv que diferem somente no motor e nos números colocados nos chassis. O nosso director adquiriu quarenta espécies do modelo de 1928 que se distinguiam entre si, principalmente no entalhe do guarda-lamas. Para a sua finalidade, esse aspecto tem tão pouca importância como o número do chassis. Apresentará assim um dos seus exemplares como um tipo específico e guardará trinta e nove. Noutro aspecto, a sua colecção pode compreen- der trinta e nove fatos de homem, diferentes nas dimensões e no tecido, mas todos de acordo com o mesmo corte em moda. Bastará um fato para repre- sentar esse tipo. Os fatos de senhora podem causar
- 29. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 33 maior embaraço e as criações da «alta costura» mos- trar-se-ão ainda menos subordináveis a este tratamento. Mas os fatos de uma aldeia britânica, muitas vezes de uma província inteira, são todos estritamente idênticos ao modelo, com excepção dos desenhos neles inscritos; mas estas diferenças podem ser ignoradas; poderá apre- sentar-se um só fato, como o tipo corrente, por exem- plo, na província de Split. Aplicando assim o conceito de tipo, já exposto na p. 13, o director poderá expurgar a sua colecção e reduzir cada um dos seus grupos fun- cionais a um conjunto de exemplares não fundíveis entre si. Poderá distribuir os tipos seleccionados : pelos vários conservadores departamentais. Cada um destes terá então que os reunir numa sala apropriada, juntando a cada objecto um segundo número-índice, com a cor- respondente cronologia. III — A classificação cronológica A primeira operação do conservador de cada depar- tamento poderia ser a de agrupar, segundo uma ordem cronológica, as espécies que lhe foram atribuídas. A sua intenção, conforme estamos lembrados, era apresentar conjuntamente objectos de uso contemporâneo. Assim, com o seu modelo popular de 1928, apresentará o fato que o condutor podia usar, a casa construída havia pouco, que ele poderia comprar ou habitar, um jazigo semelhante ao que poderia ter mandado fazer para sua esposa, etc. A volta de uma diligência, o conservador reunirá um conjunto com elementos da mesma natureza, embora diferentes no vestuário, na habitação, nas pedras tumu- lares, etc. Um carro de guerra podia constituir o centro de um grupo menor de peças, se bem que menos uni- forme do que aquele que acompanhava o automóvel, etc. A finalidade do conservador é elaborar o plano das i. A . - 3 UNIVERSIDADE GAMA FILHO MBUGUCÁ CENTRAL
- 30. • ^ i V. GOBDGN GEIIJJS sucessivas mudanças que a cultura, britânica sofreu: uma série de cenas ou de quadros, cada um dos quais num andar diferente e representando uma fase signifi- cativa daquilo que, na realidade, era um processo con- tínuo. Cada cena representa uma dessas fases, cada apartamento constitui um período. O conservador pode pôr, em cada período, uma eti- queta qualquer — «Vitoriano», «Jorgiano», «Tudor», «Romano-Britânico», «Neolítico Secundário», e marcar, desse modo, os objectos expostos. Na sua finalidade imediata, estes nomes só significam posições numa série; números fariam exactamente o, mesmo efeito. E, de facto, • muitas das suas espécies mais recentes apresentam já esses números indicativos. O automóveis e as pedras tumulares terão, sem dúvida, algumas datas, o que pro- vavelmente já não sucede com os fatos. Todos os nume- rais indicam uma posição na série natural: 1926 vem depois de 1852. As datas indicam o número de anos que passaram, isto é, o número de vezes que a Terra andou â volta do Sol, entre o início convencional da era e o acontecimento datado — seja, por exemplo, a construção do túmulo. (Deve notar-se que os anos podem ser conta- dos desde o zero inicial, para diante ou para trás.) Para o departamento «Inglaterra», o ponto inicial da contagem será o «nascimento de Cristo». Outros departamentos n£„ Torre da História usarão outras eras — por exemplo, a Hégira, ou seja, a fuga de Maomé de Meca, em 622 d. C. As datas, antes ou depois de uma era, não servem só para indicar as posições relativas de dois acontecimentos, na sequência que constitui a história da Inglaterra; colo- cam também cada acontecimento na posição que ocupa na sequência de acontecimentos referente a toda a super- fície da Terra — a posição num sistema de referência universal ou, pelo menos, terrestre. Este sistema do datação é chamado a cronologia absoluta, em contraste: com a cronologia relativa: Podemos saber que a lâmpada de arco voltaico precede a lâmpada de incandescência
- 31. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 35 (isto é, na cronologia relativa), sem. que se saiba há quantos anos foram inventadas. Numa linguagem mais técnica, sabemos a idade relativa de dois acontecimentos, não a sua idade absoluta. Na medida em que o conser- vador expõe por ordem as espécies existentes no seu departamento, poderá contentar-se com a cronologia re- lativa. A necessidade de uma cronologia absoluta só o preocupará quando tiver que decidir qual o piso do museu em que deverá ser instalada determinada saía referente a determinado período. Ao mesmo tempo, uma data em anos é também a medida da antiguidade de um acontecimento; seja, por exemplo, a manufactura-de um carro. Agrupando as «spécies no seu próprio departamento para representar períodos sucessivos, um conservador não precisa de se preocupar com a •duração dos diferentes períodos assim representados. Enquanto se mantiver dentro do seu pró- prio departamento, só precisa saber a ordem em que os períodos se sucedem uns aos outros: podemos dizer qua só necessita de determinar o tempo arqueológico; na verdade, este refere a sucessão, mas não a duração. A ordem dos acontecimentos pode ser determinada por métodos puramente arqueológicos. Mas sem o auxílio da física, da astronomia, da geologia ou de testemunhos escritos a arqueologia não poderá dizer há quanto tempo se deu um acontecimento, qual a idade de um edifício, ou o tempo que durou um período. Para a sua exposição planificada, o conservador pre- cisa conhecer as espécies de uso contemporâneo. O nosso homem pode evidentemente ver as datas inscritas nos obejctos e juntar os que apresentam datas mais ou menos semelhantes ou pode ainda consultar narrações escritas. Nenhum dos processos é inteiramente satisfa- tório e só são aplicáveis, na melhor das hipóteses, a uma pequena parte da colecção. Talvez fosse melhor elemento de ligação o princípio arqueológico da associação. Afinal, •a melhor garantia de que os exemplares eram de uso
- 32. ..WWífW ' V. GORDON CHILDB contemporâneo é a de que poderiam ter ficado associa- dos nas circunstâncias referidas na p. 16. (Quando exis- tem, as gravuras do período em causa podem fornecer tão bons elementos sobre o uso contemporâneo como as observações feitas no decurso de uma escavação.) Só por si, a associação não dá nenhuma indicação sobre o andar onde deveria ser colocado um dado con- junto de tipos. No projectado arranjo cronológico, a colocação de um conjunto no piso próprio depende da posição relativa desse conjunto na sequência dos outros. Evidentemente que se numa ou em duas das espécies associadas a cada conjunto estivesse inscrita a data, seria fácil a colocação conveniente de todo o grupo de tipos associados — mas só à luz dos elementos escritos. Na verdade, muitas vezes, as datas referem-se não ao ano* dentro de uma determinada era, mas, antes, sob a forma de «5.° ano do reinado do rei Jorge III», ou no ano «tal» do consulado de Crasso, ou «no ano em que o rei...». Estas formas de datar só podem ser transpostas em anos da nossa era quando se dispõe de testemunhos escritos completos. Mas tudo/o que neste momento o nosso conservador necessita conhecer é a idade relativa dos vários objec- tos. Precia saber se esse automóvel é mais velho do que aquele e contemporâneo desta outra pedra tumular. A cronologia relativa pode ser determinada por processos puramente arqueológicos, sem qualquer referência às investigações dos historiadores que se baseiam em do- cumentos escritos. Podem utilizar-se dois princípios: o estratigráfico e o tipológico. Este último, embora menos seguro, é utilizado com mais facilidade e o conservador pode aplicá-lo sem mesmo sair do museu. As locomoti- vas do caminho de ferro podem servir de exemplo. Nin- guém considera o tipo «Royal Scot» mais antigo do que o «Rocket»; o facto é evidente por uma simples obser- vação, e uma troca na relação entre as duas é perfeita- mente inconcebível. Poderia arranjar-se uma série de
- 33. INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGIA 37 j,'< desenhos e de fotografias para mostrar como os melho- ramentos cumulativos estabeleceram uma sequência entre a locomotiva Rocket, relativamente primitiva e.. inefi- ciente, e o expresso moderno. Conhecendo os dois termos extremos, poderia encontrar-se, sem dificuldade, uma série de tipos intermediários, na sua ordem exacta, sem referência às datas que o fabricante obrigatoriamente põe nos seus produtos. Uma sucessão de tipos de efi- ciência crescente constitui aquilo a que se chama uma série tipológica. Essas fases intermediárias podem ser usadas para determinar as posições relativas dos con- juntos que lhes estão associados. Os conservadores dos museus gostam de se sentar confortavelmente, nos seus gabinetes, arrumando as suas espécies —ou os cartões que as representam— em séries tipológicas bem deter- minadas. Mas, por muito belas que sejam, pouca con- fiança se pode ter nelas, a menos que sejam corroboradas ou por autoridades literárias ou por outro teste arqueo- lógico — a estratigrafia. Para aplicar este teste, o con- servador tem que deixar o seu museu e ir para a terra suja ou, pelo menos, tem que ler cuidadosamente os aborrecidos relatórios dos escavadores! A arqueologia copiou da ciência geológica o conceito de estratigrafia. O seu princípio diz-nos que, em quais- quer depósitos não alterados, as camadas mais baixas são mais antigas e as mais altas são mais recentes. O princípio é tão importante que teremos que voltar a estudar as suas aplicações no capítulo seguinte, conten- tando-nos agora com um simples esboço. Se uma caverna ou uma povoação foi habitada,-durante sucessivas gera- ções, acumular-se-ão camadas de terra ou de entulho no chão, da caverna, nas ruas ou num poço de entulho que conterão dados arqueológicos, incluindo tipos de arte- factos não deterioráveis, botões, garrafas, louça de barro partida, bocados soltos de carros, etc. Alguns desses tipos, pelo menos, passarão de camada para camada. O princípio da estratigrafia diz-nos que os tipos mais anti- "?*fe.'i
- 34. V. GORDOK GHILDE gos são os que se encontram nas camadas mais baixas, a menos que o depósito tenha sido violado. Se os ocupan- tes mais recentes abriram um poço no chão da caverna, podem encontrar-se ai objectos recentes abaixo dos mais antigos. Se uma estação assim estratígrafada (isto é, assim disposta em camadas) for sistematicamente escavada, identificar-se-ão um ou dois tipos próprios a cada camada e que se não encontram nem acima, nem abaixo- dela, em que aparecem outros tipos específicos. São, por exemplo, considerados próprios da camada C os tipos que lhe estão limitados. Com uma certa sorte, encontrar- -se-ão noutras estagões, dentro da região, esses mesmos tipos em camadas correspondentes, ocupando a mesma posição relativa. Podem então ser chamados tipos-fósseis (como foi explicado na p. 22) e utilizados para definir um período arqueológico, uma divisão dos elementos arqueológicos locais. Todos os depósitos em que esses tipos aparecem conterão dados contemporâneos — em tempo arqueológico — e serão atribuídos ao mesmo perío- do, ao qual, possivelmente, pertencerão todos os outros tipos com eles associados. A posição relativa do período assim definido, na sequência dos períodos arqueológicos, o seu lugar nos vestígios arqueológicos locais, estabele- ee-se pela posição estratigráfica dos tipos-fósseis. Deve o leitor notar, com especial atenção, dois pontos. Em primeiro lugar, o período definido pelos tipos-fósseis não ó uma divisão do tempo sideral, mas somente uma divisão do tempo arqueológico local, limitado à região em que esses tipos específicos eram correntes: os samo- vares podiam definir um período da arqueologia russa, mas não a inglesa. Em segundo lugar, nem todos os* vestígios arqueológicos podem constituir tipos-fósseis. Voltaremos ao primeiro ponto. O segundo já foi tratado na p. 22. Se o nosso conservador dirigisse um museu de anti- guidades locais, a estratigrafia e a tipologia dar-lhe-Iam
- 35. KV - p l ^^»«w^^5V?«««r^,?-f l W'3^^r' ^ • ^ W ^ t W ^ f l i f l e ^ J ^ ^ ^ . "'"»««íi^#S - INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 89 todas as informações de que necessitava para organizar as suas colecções por ordem cronológica. Mas se diri- gisse o departamento de um museu misto, os tipos con- temporâneos não só na Inglaterra, mas também na Gré- cia, Iraque, Índia, Nova Zelândia e noutros lugares, teriam que ser expostos no mesmo piso. Devemos lembrai*, de novo, que o visitante deveria poder deslocar-se não só verticalmente de uma fase de cultura inglesa ou indiana para a seguinte, mas também horizontalmente, de forma a saber o que se passava, em dado tempo, na Inglaterra, índia, Nova Zelândia e r,outros lugares. Ora as etiquetas dos períodos — «Tudor», «Norman- do», «Romano-Britânico», «Neolítico Secundário»— nãc ajudam o conservador do departamento «Inglaterra» a determinar o piso exacto em que se deverão colocar os objectos assim etiquetados e correspondendo àqueles onde estão expostos os objectos contemporâneos no Ira- que ou na Índia. Estes terão etiquetas inteiramente dife- rentes — «Otomano», «Abácida», «Parta», «Arcádico» ou «Mongol», «Gupta», «Greco-Bactriano», «Harapano». Quando estas etiquetas puderem ser transpostas para datas numéricas, em termos da era cristã, maometana ou outra qualquer, ou seja, na medida em que a crono- logia relativa puder ser transformada em cronologia absoluta, as cifras resultantes indicarão o piso corres- pondente em qualquer «asa» da Torre da História. Mas essa transposição em termos numéricos depende princi- palmente de dados provenientes dos testemunhos escri- tos. Ora os Maoris da Nova Zelândia eram analfabetos quando desembarcou o capitão Cook, proveniente do período jorgiano da arqueologia inglesa; assim como os peles-vermelhas do Canadá não deixaram vestígios escri- tos, quando na arqueologia inglesa se estava no período Tudor, e a Inglaterra estava ainda na prê-história "quando Júlio César desembarcou e mesmo quando Cláu- dio César fez a anexação da Grã-Bretanha ao Império Romano. Assim, para além destas datas, a história ' • • M S * , . ; i r í | |
- 36. AQ ' V. GOBDON CHILDF escrita não pode fornecer qualquer indicação aos vários conservadores; em compensação, a geologia e a física nuclear podem dar alguma ajuda. É ao director que com- petirá decidir em que piso hão-de ser' apresentadas ao público as diferentes colecções. Pelo menos em certa medida, o problema de colocar nos mesmos pisos as espécies contemporâneas nas regiões representadas nas várias alas podia ser resolvido por meios puramente arqueológicos. Os tipos correntes na Inglaterra Tudor foram transportados através do Atlân- tico e comerciados com os peles-vermelhas da América, enquanto alguns artefactos ameríndios vieram para a Inglaterra como curiosidades. Algumas colecções da América do Norte podem ser assim identificadas como contemporâneas do grupo Tudor da Inglaterra e confia- damente colocadas no mesmo piso. De uma maneira parecida, ainda que um pouco mais surpreendente, houve manufacturas inglesas que atingiram.a Grécia Micénica, enquanto a Inglaterra importou armas e contas fabrica- das na Grécia durante aquele período. Deste modo, um modelo de Stonehenge, e outros vestígios, considerados contemporâneos desse santuário, podem, com razão, ser apresentados no mesmo piso em que está um modelo da Porta dos Leões de Micenas e as réplicas dos tesouros dos Túmulos de Colunas, datados de 1550-1400 a. C. IV — A classificação corológica Ao explicar a classificação cronológica, devemos partir do princípio' que o director sabia a que departamento deviam ser atribuídas as espécies e entregava aos con- servadores a tarefa de as classificar cronologicamente. Empregando a linguagem técnica, o director já havia feito a classificação corológica da colecção, antes de o seu conteúdo ter sido classificado cronologicamente. Na prática, nada se poderia ter feito sem uma fonte externa
- 37. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 41 cie informação. No entanto, era possível ao director, por meio de processos puramente arqueológicos, distribuir as espécies, não efectivamente em departamentos regionais, tais como nós temos considerado, mas, pelo menos, em culturas, no sentido indicado no capítulo I, desde que fossem conhecidas as espécies associadas. Mas, primeiro, seria preciso classificá-las cronologicamente. E quase todos conservadores têm que assim proceder em relação a' parte das suas colecções. Já se esboçou, a p. 34, o processo adoptado. Dentro do mesmo grupo ou do mesmo período crono- lógico, há ainda diferentes tipos, que realizam funções idênticas. Como deverão ser consideradas as diferenças? O tipo americano de motor de comboio é, sem dúvida, diferente do inglês; a locomotiva norte-americana é, por exemplo, provida de um salva-vidas, uma campainha e um holofote. Estes elementos não melhoram a eficiência da locomotiva nos caminhos de ferro britânicos. Não podem, portanto, surgir como melhoramentos realizados sobre o modelo britânico mais antigo. Assim, estas dife- renças não são devidas a discrepâncias de idade — a diferenças cronológicas. A explicação deve provir antes de diferenças de natureza corológica, resultantes da di- vergência de tradição entre duas sociedades distintas (a vedação dos caminhos de ferro ou o uso de estradas para linhas de caminho de ferro são, evidentemente, questões de tradição social, de modo algum inerentes à natureza dos caminhos de ferro). Ora há tipos que aparecem cons- tantemente associados não só por serem contemporâneos, mas também por serem fabricados e usados pelo mesmo povo. Reciprocamente, a razão de divergência entre tipos dentro de um mesmo grupo funcional está ligada ou a melhoramentos e alterações de moda no decurso do tempo ou a divergências tradicionais de actuação e de gosto entre os diferentes povos. A divergência entre a Rocket e a Royal Scott resulta da primeira causa, enquanto a diferença entre aquela última e a locomotiva Boston re-
- 38. sulta da segunda. Usando as locomotivas como tipos- -íósseis, tudo o que pode ser associado com a Royal Scott — não só as carruagens de passageiros e os sinais, como até as casas de lavoura, os fatos dos passageiros, os sttcks do ericket e as facas de mesa — está ligado a uma cultura e representa um povo, quer esteja associado com a «Bostoniana» quer com outras locomotivas. Eviden- temente que haveria muitos aspectos comuns a ambos os conjuntos, mas, vistos como conjuntos, torna-se patente o contraste entre as duas culturas. Com este exemplo, tirado das culturas contemporâneas, pode facilmente ve« rificar-se a diferença regional e justíficar-se empirica- mente a explicação apresentada. Além disso, a cada cul- tura podem dar-Si) nomes políticos e étnicos e o mesmo sucede com as culturas de que temos referências escritas e podem fazer-se inferências sobre as diferenças entre os conjuntos pré-históricos. Mas, neste último caso, não se pode pôr qualquer etiqueta política. Muito excepcionalmente, com o auxílio da toponímia e de fontes escritas pode aplicar-se uma etiqueta linguís- tica (celta ou ibérica, por exemplo), a culturas pré-histó- ricas mais recentes. Mas o mais vulgar é designar o conjunto estabelecido por um nome convencional que se pode ir buscar ã designação de um tipo-fóssil ou a uma característica especial; temos assim as culturas do ma- chado dê guerra, do túmulo de laje, ou do vaso campani- forme. Por vezes; aplica-se a uma cultura 6 nome da região onde ela está mais representada, como, por exem- plo, o Lusaciano; mais raramente, dá-se um nome geo- gráfico qualificado por um adjectivo cronológico: Tessa- lense Neolítico A, Idade do Ferro Inglesa A (mas num livro exclusivamente dedicado à pré-história inglesa pode omitir-se o indicativo geográfico. Porém, a prática habi- 1 Nome do tipo das locomotivas norte-americanas íabricadr.^.- em Boston. (N. do T.)
- 39. • f, «T~K "'w **"5 T "^»»*í ^*"**'"í1,r -ff^'v', ", ""«- INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA , '" 43 tual consiste em designar uma cultura pela estação onde, pela primeira vez, foi encontrada ou onde aparece repre- sentada de uma forma mais característica. Infelizmente, usam-se, por vezes, os mesmos termos gerais para a divisão de vestígios arqueológicos locais, isto é, de pe- ríodos locais. As culturas e os períodos pré-hístóricos têm que ser identificados com o auxílio de tipos-fósseis e tanto umas como outros são constituídos por conjuntos de tipos. Os dois conceitos apresentam-se perfeitamente distintos; mas podem facilmente confundir-se, caso lhes seja dada a mesma designação. Para ajudar o estudiosa a compreender os manuais mais antigos e evitar as arma- dilhas inerentes à ambiguidade da terminologia pré-Iii?:- tórica, encerraremos este capítulo com uma breve digres- são histórica. V — Períodos e culturas pré-hístóricos As divisões locais do tempo arqueológico, os suces- sivos capítulos nos vestígios arqueológicos locais, pre- cisam ter uma determinada designação. Na pré-história, a indicação do ano, a data em anos, não é, em princípio,, possível. Desde 1815 que se tornou habitual dividir a s épocas pré-históricas dos vestígios arqueológicos em três «idades», sistema imaginado por Thomsen, ao organizar o Novo Museu das Antiguidades Nórdicas, de Copenhaga. Thomsen decidiu expor os objectos de cada período como se tivessem estado todos em uso ao mesmo tempo. A colecção incluía muitos conjuntos descobertos associados nos corcheiros, nas turfeiras; nos túmulos megalíticos e nos barrows. Deste modo, sabia que tipos poderia expor conjuntamente, mas não a ordem em que o deveria fazer. Mas, tal como o poeta romano Lucrécio, considerou que os homens, antes de conhecerem o uso do ferro, haviam feito em bronze os seus utensílios de corte e armas e„
- 40. V. GORDON CIIILDE muito antes, desconhecendo qualquer metal, haviam uti- lizado a pedra, o osso e a madeira. Assim, Thomsen reuniu os objectos de ferro, e os tipos que sempre se encontra- vam associados, e deu-lhes a designação de Idade de Ferro, qualquer que fosse o material em que eram feitos. Pez o mesmo para os objectos de bronze; os objectos de pedra, osso, madeira ou os tipos de cerâmica que se encontravam ligados aos objectos de bronze for^m in- •cluídos nessa designação garal de Idade ão Bronze. Ó resto preencheria a galeria da Idade da Pedra. Subse- quentemente, as escavações estratigráficas forneceram uma justificação objectiva à ordenação de Thomson e revelaram que esse sistema era também aplicai ú à Suíça, Itália, França e Grá-Bretanha: tem, de facto, apli- cação universal. As três «idades» são realmente três fases tecnológicas •consecutivas que se seguem sempre umas às outras, na mesma ordem, em qualquer parte onde apareçam. Teria -sido mais sensato ter-lhes chamado «fases». Mas embora ocupem sempre a mesma posição na sequência —ou, por palavras tecnicamente mais precisas, sejam homo~ •axiais—, uma «idade» não surge em toda a parte na mesma secção de tempo sideral, isto é, as suas manifes- tações não são, em toda a parte, contemporâneas. A Idade 'da Pedra, na Austrália, acabou com o estabelecimento do uma colónia britânica em Botany Bay; na América Cen- tral, com o desembarque de Córtez; na Dinamarca, por volta de 1500 a. C; no Egipto, muito antes de 3000 a. C. A palavra «idade» só pode sugerir a ideia de um espaço de tempo absoluto, de uma divisão na cronologia absoluta, enquanto que o termo «fase» sugere uma sequencia. As eras, épocas e períodos geológicos são considerados con- temporâneos em toda a Terra e, deste modo, pertencem ao domínio da cronologia absoluta. As eras arqueológicas são divisões de tempo arqueológico e pertencem ã crono- logia relativa. De qualquer modo, o sistema das trós
- 41. INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGIA 45 «idades», na sua forma original, fornecia uma ordenação satisfatória, dentro da qual se podia construir uma estru- tura cronológica da pré-história. As tentativas para o melhorarem levaram os pré-historiadores a confusões in- termináveis. Depois de 1859, quando sé reconheceu a existência do homem no Pleistoceno e se recolheram utensílios de pedra nos depósitos geológicos desse tempo ou mesmo anteriores ao período glaciário, verificou-se que a pri- meira Idade da Pedra era desproporcionadamente longa. E em 1863 estabeleceu-se a separação entre a antiga e a nova Idade da Pedra, entre o Paleolítico e o Neolítico. ©período mais antigo era constituído pelos utensílios de pedra lascada achados nos depósitos pleistocénicos, jun- tamente com vestígios de animais extintos provenientes exclusivamente da caça. No Neolítico estavam incluídos- os artefactos, incluindo instrumentos lascados e aguçados por fricção e polimento que haviam sido encontrados nas habitações lacustres da Suíça e nos dólmenes dinamar- queses, associados com fauna recente, ossos de animais domésticos e vestígios de agricultura. A divisão era assim baseada em três critérios:, 1) geológico •— Pleistoceno antigo ou recente; 2) tecnológico — afiamento por Ias* cagem ou por polimento, e 3) económico: uma economia- de frutos silvestres (economia de simples recolecção) ou lavoura (economia de produção alimentar). Supôs-se que as três coincidiam, mas, de facto, não sucedia assim. Deste modo, a partir de 1921, veio acrescentar-se à Idade da Pedra uma terceira divisão: o Mesolítico. Hoje, Paleo- lítico é equivalente a Pleistoceno, e todas as culturas pós-pleistocénicas que mantêm intactas a antiga economia de caça, pesca e colecção são chamadas mesolíticas; ou antes, deveriam sê-lo. Na prática, o termo não é aplicado aos recolectores nossos contemporâneos da Austrália, África do Sul ou Terra do Fogo, nem mesmo às últimas culturas pré-históricas das zonas eurasiáticas de coníferas ir 4*
- 42. V. GORDON CIIILDE e de tundra. As três divisões forneciam uma base lógica •e sem ambiguidades para uma classificação cronológica ou, pelo menos, sequente. Com as cinco «idades» (Paleolí- tico, Mesolítico, Neolítico, Cobre e Ferro) já não sucede o mesmo. Todavia, mesmo que representem, em qualquer região, fases sucessivas, continuam a ser divisões de tempo arqueológico; são divisões locais. Têm sido propostas outras «idades», mas felizmente nenhuma foi adoptada na generalidade, e mencioná-las- -emos como mera informação para o investigador, que as pode encontrar nas suas leituras. Alguns autores propu- seram que entre a Idade da Pedra e a do Bronze se inse- risse um período calcolítico (em italiano eneoMico, em francês énéolithique); tal como foi usado originalmente pelos pré-historiadores italianos, referia-se a uma fase ou idade em que os utensílios e as armas de cobre eram usados juntamente com tipos semelhantes feitos de pedra. Este facto verificou-se, em toda a parte, durante as fases mais antigas da Idade do Bronze, uma vez que os metais eram muito caros e portanto só acessíveis a um número escasso de membros das comunidades. O cobre era quase sempre usado para as armas de arremesso ou utensílios aplicados a materiais duro§. Não se pode por- tanto fazer a comparação que geralmente se estabelece «ntre esta fase e a «Antiga Idade do Bronze». Podia ser mais útil distinguir uma fase em que só se -empregava cobre natural, usado como produto superior ã pedra, e moldado pelo calor. Por vezes, emprega-se o termo «Calcolítico» para designar esta fase tecnológica. Mas, sendo o cobre natural muito raro nem sempre essa 1 Deve dizer-se, porém, que não está provado que tivesse sido Eempre assim: muitos pró-historiaàores so inclinam para a hipó- tese da abundância inicial de cobre natural. (N. ão T.) i^éasáfeiiíai.
- 43. INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGIA 47 idade deve ter precedido a do Bronze, e portanto não representa uma fase geral do progresso tecnológico. A «Idade do Cobre» é o termo habitualmente aplicado a esta época, mas é mais frequente aplicá-lo ao período em que era usado cobre simples em vez de bronze, liga de cobre e estanho. Este critério é difícil de aplicar, pois, 'sem análise, química, nem sempre é possível distinguir os vestígios de cobre dos de bronze. Fora da Europa, quando a análise é possível, verifica-se que a maior parte dos utensílios e armas tradicionais atribuídos à Antiga Idade do Bronze erAm, na realidade, feitos só de cobre. O termo «Idade do Bronze» é portanto quimicamente ina- dequado e poderia ser substituído, com vantagem, pelo termo «Paleometálico». Mas tentar distinguir nele uma Idade do Cobre independente suscita mais confusão. Os arqueólogos turcos, mal orientados p.or um inves- tigador alemão, usaram, com pouca felicidade, os termos «Calcolítico», «Cobre» e «Bronze» para designar as fases sucessivas da pré-história anatólica. De facto, a sua Idade de Cobre é tipològicamente equivalente e, em larga medida, contemporânea da chamada Antiga Idade do Bronze da costa do mar Negro e da Síria-Palestina. A expressão «Calcolítico» parece sobretudo homo-axial do Neolítico da Grécia, embora talvez se sobreponha tam- bém à Antiga Idade do Bronze do mar Egeu. Assim, o Calcolítico e a Idade do Cobre ainda se podem fragmen- tar. O Mesolítico está suficientemente bem estabelecido para que seja possível anulá-lo. O estudioso tem que su- portar a divisão em cinco «idades». Mesmo cinco fases dão uma estrutura demasiado grosseira para reflectir satisfatoriamente o progresso da cultura humana. No fim do século xix, Mortillet par- celou a primeira e mais longa Idade da Pedra: o Paleo- lítico. Apoiado na estratigrafia observada nas várias •estações da França, distinguiu seis conjuntos ou culturas •que, nas estações pré-históricas, se seguiam umas às
- 44. "**sn»B?*"« " V. GOBDON CIIILDB outras e na mesma ordem. Considerou que estas estações representavam períodos do Paleolítico, por analogia com o Devónico, Câmbríco, etc, da nomenclatura geológica. Cada período foi designado pelo nome. da estação em que primeiro foi encontrado ou em que estava mais bem re- presentado —• Chelles, Saínt-Acheulle, Moustier, Aurignae, Solutré, La Madeleine (os acontecimentos estão aqui deli- beradamente simplificados). Ora, na medida em.que as séries de Mortillet reflectem essa sucessão estratigráfica (inicialmente não sucedia assim), as seis culturas refe- ridas representavam divisões cronológicas dos vestígios arqueológicos em França e as fases do desenvolvimento da cultura em França. Mas, sob a influência da então recente teoria evolucionista, procuraram representar fases - evolutivas na cultura humana e períodos de tempo • abso- luto universalmente contemporâneos com os períodos geo- lógicos! > Na realidade, o Aurinhacense, o Madalenense ou- qualquer outro dos nomes atrás referidos exprimem um conjunto de tipos que, numa área específica, estão cons- tantemente associados. Fora dessa área, nem todos esses tipos se encontram associados, pois nem todos são uni- versais. Assim, é errado falar-se de um «período aurinha- cense» para a Sibéria ou África do Sul. Não obstante, muitos historiadores têm cometido esse erro. Os livros ingleses anteriores a 1938 e os trabalhos russos até 1950 empregam os termos de Mortillet para designar divisões de tempo absoluto (geológico, se não mesmo sideral), aplicados a conjuntos que os escritores em questão pen- savam que ocupariam uma posição na sequência local semelhante à que tinham na sequência francesa. A ver- dade é que o Aurinhacense, o Madalenense, etc, se re- ferem a culturas —unidades da classificação corográ- fica—, e empregar o mesmo termo para designar divisões cronológicas estabelece grande confusão.
- 45. -tW "****' INTRODUÇÃO Ã ARQUEOLOGIA 49 O abuso não se limita às divisões da Idade da Pedra. Continuam a aplicar-se nomes de culturas, isto é, das divisões corográficas, às divisões cronológicas da Meso- potâmia, da pré-história egípcia e às subdivisões da Idade do Ferro europeia. Mesmo na Inglaterra, a etiqueta de Hallstatt é aplicada a um conjunto de tipos, nenhum dos quais se encontra na estação epónima ou em estações semelhantes da Europa Central e da França Oriental, por essa altura equiparada às culturas de La Tène. A con- fusão resulta, evidentemente, de que uma divisão ~de tempo arqueológico, ou «período», e uma divisão corográ- fica, ou «cultura», são constituídas por um conjunto de tipos especiais expressos por um só nome. Esta ambiva- lência não provoca qualquer ambiguidade quando a di- visão cronológica cai dentro dos tempos históricos. Se falamos da cultura do tempo de Jaime I, não estabelece- mos o contraste com a cultura europeia francesa ou com a Índia, mas com a cultura Tudor ou jorgiana, isto é, com a cultura da Inglaterra Tudor ou jorgiana. Quanto à primeira comparação, podemos traduzir, graças aos do- cumentos escritos, a cultura do tempo de Jaime I em «século xvii». Muitas vezes, numa obra sobre história arqueológica local, é conveniente e quase inevitável usar uma designação cultural para referir uma divisão crono- lógica dos vestígios locais. Numa obra sobre história universal deve preferir-se uma designação independente. Mesmo em pré-história, essas divisões são ainda úteis. As culturas paleolíticas podem ser assim atribuídas a convenientes divisões geológicas marcadas pelos avanços e recuos dos glaciares e às correlativas regressões e transgressões do mar (isto é, a períodos de alto e de baixo nível marinho). O único motivo para falar de um período «moustíerense» ou «madaienense» seria a falta de confiança nas correlações vulgarmente estabelecidas entre estas culturas e fases da época glaciar. Neste caso, seria, então, melhor falar de Paleolítico Inferior, i. A. — 4
- 46. 50 V. GOEDON CIÍILDI3 Médio e Superior e dividir este último em fases trans- postas para números. O «Solutrense» seria substituído por um período designado por «Paleolítico Superior II da Europa Ocidental». Nos tempos pós-pleistocénieos é menos fácil encontrar substi :utos para as designações culturais. Tentou-se fazer uso de termos descritivos — designações de tipos-fósseis. Assim, os prê-hístoriadores dinamarqueses costumavam chamar do «Dólmen», de «Túmulo de Passagem» e de «Adaga' aos períodos do Neolítico local, e os Alemães ehamair actualmente â última fase da I Idade do Bronze na Europa Central o período do «Campo de Urnas». Estes termos, quando qualificados por um adjectivo geográfico — dinamarquês, Sudoeste Alemão—, têm a vantagem de indicar francamente o seu significado. Mas a verdade é que os túmulos de passagem ou os campos de urnas são efectivamente característicos de uma só das várias cul- turas que floresceram no período assim designado. Os pré-historiadores dinamarqueses preferem portanto falai* de Neolítico Antigo, Médio e Recente e os pré-historia- dores ingleses têm a mesma orientação. Para a Idade do Bronze tem sido aplicada uma divisão tripartida seme- lhante à que de há muito é usada para a Europa Cisal- pina e para a Síria-Palestina, enquanto que em Creta, Grécia, Cidades e Chipre o termo «Idade do Bronze» foi substituído por designações, respectivamente, de «Mi- nóico», «Heládico», «Cicládico» e «Cipriota». Pedia, na verdade, ter sido melhor dispor em conjunto as «idades» e referir a números os períodos sucessivos da cultura em cada região. O ideal, evidentemente, seria correlacionar as várias séries locais determinadas pelos meios arqueoló- gicos atrás referidos (p. 40), de modo tal que o conjunto da pré-história pudesse ser coberto por um simples es- quema de divisões numeradas. Tornava-se assim possível transpor as várias datas relativas para as datas absolutas definidas com o auxílio da física e da astronomia.
- 47. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 01 BIBLIOGRAFIA § 1: CHII.DE, op. cit. CLARK, J- G. D., Archaeology anã Society (Londres, 1939). Prehisioric Europc: The Economic Basis (Londres, 1953). SOLLAS, W. J., Ancicnt Hunters anã Their Moãern Repre- sentatives (Londres, 1921). § 4: DANIEL, G. E., A hunãreã years of Arcliaeology (Londres. 1950). CIIILDEÍ V. G., «The Constitution of Archaeology as a Science», in Ashworth Underwood (ed.). Science, Medicine, ffisíory (Londres, 1953).
- 48. -Ç? tmmgpptmfSHHpl CAPITULO III AS ESTAÇÕES ARQUEOLÓGICAS B A SUA ESTRATIGRAFIA Podem-se encontrar objectos antigos â superfície de um terreno, no decurso de uma lavra ou da abertura de uma vala. Esses objectos só potencialmente ê que são dados arqueológicos; mas, em compensação, a sua loca- lização ê um dado arqueológico, embora não seja um mo- numento. Os vestígios e monumentos só se transformam em dados quando se ajustam a tipos já classificados, à luz dos conjuntos em cujo contexto foram encontrados. A informação histórica só pode ser conseguida com exem- plares encontrados, juntamente com outros, em estações. Estas são de natureza muito variada — habitações,' tú- mulos, fontes, minas, santuários, poços, ete. Analisemos algumas delas, visando em especial os elementos crono- lógicos que nos podem fornecer. I—•Cavernas"'- ' As habitações humanas mais antigas ocupadas desde o princípio da Idade da Pedra Lascada foram as caver- nas, frequentadas até ã actualidade por caçadores, pas- tores, passeantes e refugiados, ermitas ou bandidos, con- trabandistas e pescadores. Formadas por processos naturais, as cavernas, em si, não são dados ou monu-
- 49. ,JtÊÈIÍ&zr~-~ INTRODUQÃO A ARQUEOLOGIA mentos arqueológicos, embora muitas delas apresentem nas suas paredes pinturas ou gravações, inscrições ou representações que ás podem levar a essa categoria. Para o arqueólogo, as cavernas têm uma vantagem especial: os seus ocupantes não são (e quase nunca o foram) asseados. Ê frequente deixarem atrás de si grande quan- tidade de restos, latas abertas e garrafas partidas, facas estragadas e ossos roídos. O lixo assim disperso pelo chão foi conservado e coberto pela terra da caverna ou pelas rochas que ruíram. Por outro lado, com excepção dos tempos muito remotos, os ocupantes das cavernas são pessoas de proveniência social relativamente humilde. Deste modo, o lixo deixado no chão refere-se ao nível médio da prosperidade e das realizações técnicas da so- ciedade a que pertencem os utilizadores das cavernas. Se um arqueólogo esquece este facto, ao analisar vestígios deixados no século xix corre o risco de tomar uma família de vagabundos ou um bando de contrabandistas como característico do inglês médio desse período. Mas esta restrição é contrabalançada por outras vantagens. A caverna pode conservar um registo estratigráfico claríssimo (1) Suponhamos que acampou, numa delas, um certo número de pessoas; as cinzas do fogo que acen- deram espalharam-se pelo chão; os restos dos seus ali- mentos e os vasos e utensílios quebrados constituem uma camada de ocupação. Abandonada a caverna, esta super- fície cobrir-se-á, em determinadas condições, de uma camada estéril de estalagmitcs, terra, excrementos de animais ou pedras caídas do tecto, com o que ficam protegidos todos esses restos de ocupação, isolando-a dos novos materiais deixados sobre a nova superfície estéril quando alguém voltar a ocupar o abrigo. Nas con- dições geladas da época glaciar, as camadas estéreis 1 Os números entre parêntesis insertos .neste capítulo e no imediato referem-se à bibliografia indicada no final iíòs mesmos.
- 50. 5-1 V. GORDON CHILDE íormavam-sc rapidamente, tornando-se geralmente duras e impenetráveis. Assim, nas cavernas calcáreas da Eu- ropa Ocidental, as camadas de ocupação do Moustierenso, Aurinhacense, Gravetense, Solutrense e Madalenense es- tratifícam-se umas a seguir às outras, perfeitamente isola- das entre si por um leito estéril, fornecendo assim uma prova irrecusável da sequência existente nessas indústrias. Infelizmente tais condições nem sempre se verificam e nos períodos mais recentes raramente ocorrem, fs fre- quente que o chão da caverna seja constituído por terra solta, facilmente removida pelos animais que nela pro- curam abrigo, ou pelos habitadores humanos; noutros casos, o chão é constituído, por grandes blocos de pedra por entre os quais os utensílios podem resvalar ou ser levados pelos ratos. Noutros casos ainda, como os ho- mens, muitas vezes, abrem túmulos ou outros orifícios no chão da caverna e os animais de toca frequentam o abrigo com tanta assiduidade como o homem, a estrati- grafia altera-se. Nenhuma conclusão se pode tirar da profundidade èm que foram encontrados os vestígios, a menos que o perito escavador possa provar que são provenientes de camadas intactas. Desde meados úo Pleistoceno que as cavernas têm sido usadas para túmulos. Cronologicamente, os túmulos são mais recentes do que a camada em que se encontram; os corpos pertencem, na melhor das hipóteses, aos homens que deixaram os depósitos de ocupação imediatamente acima deles, mas também podem ser muito mais recentes. Se as sucessivas camadas estiverem bem definidas, será possível determinar quantas foram atravessadas para escavação do túmulo, que pertencerá cronologicamente à camada a partir da qual se iniciou a escavação. As cavernas são muitas vezes veneradas como locais sagrados. A famosa gruta de Lourdes é um exemplo recente de uma prática que remonta, pelo menos, a cinco mil anos atrás. Os visitantes piedosos costumam depositar
- 51. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 65 ofertas votivas nesses locais sagrados e é natural quo algumas delas sobrevivam, como, por exemplo, imagens de barro e ornatos de metal, que poderão ter chegado até nós. Normalmente, porém, não se verifica uma se- quência ordenada nas ofe'rtas. Mas se estas incluírem exemplares cuja data seja conhecida pela estratigrafia de outras estações, a mais antiga indicará a data em que deve ter começado o culto. Finalmente, as muralhas de muitas cavernas são decoradas, veneradas ou modificadas por pinturas, gra- vações, esculturas ou raspagens deixadas por visitantes ou residentes. Desde o século vi a. C. que o hábito de raspar ou garatujar o nome e a data é corrente nos povos letrados. Por muito que hoje censuremos essa prática, os arqueólogos estão prontos a saudar como um precioso documento histórico as mais antigas inscri- ções, ainda que tenham sido feitas por motivos fúteis. As pinturas, gravações e baixos-relevos paleolíticos nas cavernas da Dordogne, Pirenéus e montanhas cantábricas são conhecidas em todo o mundo; fornecem ao historiador uma informação única, tanto sobre a arte como sobre a psicologia, as ideias e o ambiente do homem paleolítico; mesmo para o zoólogo é um indispensável suprimento às magras ilações que se podem tirar dos ossos fossilizados, a respeito do aspecto de animais actualmente extintos, como sejam o mamute e o rinoceronte piloso. Bastante menos instrutivas são as gravuras pintadas ou gravadas nos sombrios abrigos rochosos do Sudeste da Espanha, Norte e Sul da Africa, e a incerteza quanto à sua antigui- dade diminui o valor das informações que daí se poderiam tirar. De épocas mais recentes e de culturas mais adulte- radas, obtêm-se inapreciáveis informações com os ele- mentos fornecidos pelas paredes das cavernas, desde as soberbas pinturas- budistas de Arjanta, na índia, até aos rudes «símbolos pictos» e às «antigas inscrições cristãs», nas cavernas costeiras da Escócia.
- 52. V. GOBDON CHILDB A idade arqueológica das pinturas ou das inscrições não datadas existentes nas paredes das cavernas pode, por vezes, ser directamente determinada ou, pelo menos, delimitada. Há estações francesas (2) em que as cenas murais estão cobertas pelos depósitos resultantes da ocupação das cavernas. Em duas outras caíram da parede fragmentos de pintura que se misturaram com depósitos provenientes da ocupação do solo. De qualquer modo, a gravura deverá ser tanto ou mais antiga do que ò depó- sito que a cobre ou do que os detritos entre os quais se encontram os fragmentos caídos. Estes depósitos apre- sentam, felizmente, tipos que podem, ser classificados cronologicamente com, precisão e assim datados. Usual- mente, porém, para determinar a antiguidade da arte parietal e da pintura na rocha, temos que nos apoiar em comparações de armas, fatos, ornamentos e outros arte- factos que nelas aparecem representados com tipos já arqueologicamente datados ou através de fontes escritas. No entanto, a cronologia relativa das pinturas de uma só caverna ou região pode ser determinada por via di- recta. E frequente verificar-se o facto de a superfície de uma c mesma rocha ter sido usada para «tela» em dife- rentes períodos arqueológicos. Se os vários desenhos foram pintados, as. suas idades relativas podem ser estratigràficamente determinadas. Uma observação cui- dada pode revelar camadas de cor sobrepondo-se umas às outras, constituindo elementos de pinturas distintas. A camada do fundo pertence ao desenho mais antigo e as que sobre ele estão pintadas devem ser mais recentes. Foi por este meio que Breuil estabeleceu uma sequência regular de estilos de pintura na região franco-cantábrica. Mas, quando sé trata de gravações, a estratigrafia não tem qualquer valor. E quando numa mesma superfície rochosa se sobrepõem duas ou mais gravuras, é, muitas vezes, possível determinar qual a linha que passa por outra jâ desenhada, pertencente à mais antiga das duas.
- 53. INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA 57 II — Casas e povoados ' Desde o Paleolítico Superior, a maior parte da popu- lação vive em abrigos artificiais feitos de turfa, lama, tijolo, madeira ou pedra. É certo que, antes de 1940, se acreditava e se repetia em livros de divulgação, sem suscitar dúvidas, que os homens pré-histó ricos, incluindo os «antigos bretões. > contemporâneos da invasão de Júlio César, viviam em «abrigos de poço» total ou parcial- mente cavados no chão. De facto, as casas de habita- ção subterrâneas ou semi-subterrâneas constituem pro- tecção contra os excessos do calor e do frio. sendo utili- zadas na actualidade tanto na zona polar como nos desertos subtropicais. Na Rússia e na Morávia têm sido identificadas estações constituídas por estas habitações cobertas, utilizadas durante a época glaciar. Mas a maior parte dos «abrigos de poço» {Wohngruben, fonas ãe cabane), referidos pelos antigos escritores, quer abertos no calcário argiloso (de greda), quer mergulhados nos Jõss da Europa Central, são agora considerados pelas autoridades competentes como não tendo sido mais que silos, poços de argila, poços de entulho, pocilgas ou, quando muito, oficinas de tecelagem. Neste último caso, alojariam as pontas inferiores dos fios da urdidura pen- durados num tear vertical e esticados pelas pedras ou pesos de gesso encontrados no fundo dos poços, e pelos quais se identificou a função destes. Ás paredes das casas, tanto pré-históiicas como mais recentes, sobem normalmente acima da superfície do solo e a sua existência seria reconhecível pelos arqueó- logos, mesmo que tivessem sido arrasadas ou tivessem desaparecido; os seus vestígios diferem conforme o ma- terial com que foram construídos — adobe, madeira, pedra ou tijolo. O chão das casas varia menos, mas o seu reconhecimento é fundamental na escavação de uma habitação doméstica, quanto mais não seja pelas impli- cações cronológicas. E certo que se pode dar o caso de
- 54. o chão estar pavimentado com lajes, azulejos, tijolos ou mosaicos, mas mesmo as lajes eram parcimoniosamente usadas no passado e os azulejos ou o pavimento.de már- more ou de mosaico são próprios dos povos civilizados, das sociedades letradas; mesmo aí, estão, em regra, con- finados às mansões dos ricos ou aos estabelecimentos públicos. O chão de madeira era muito menos corrente na antiguidade do que hoje, e nos tempos pré-históricos não há vestígios desse processo de cobertura do solo; o chão das habitações lacustres era de calcário, embora este assentasse sobre uma plataforma de toros horizontais (não tábuas). Tal como nos povoados mais antigos, as casas actuais dos camponeses da Irlanda ou dos Balcãs continuam sendo de terra batida. Numa escavação 6 muito difícil identificar este chão de terra ou de argila. Quando é duro pode, com alguma sorte, ser sentido por um pesquisador que trabalhe com uma colher de pedreiro, mas uma pá atravessá-lo-á sem o notar. Se o chão não está bem varrido, uma fina camada de cinzas ou migalhas pode permitir que a sua superfície se distinga, reve- lando-a num corte vertical. Nas aldeias dos pântanos à volta dos Alpes, onde, devido à humidade, o chão das casas tinha que ser constantemente renovado, deitava-se, como isolante, casca de vidoeiro por baixo do chão. Um corte vertical pode revelar a*, existência de uma dezena de chãos de greda, uns sobre os outros, cada um deles nitidamente separado do anterior por uma fina camada de vidoeiro. A formosa estratigrafia assim obtida não tem sido muito usada para a classificação cronológica dos vestígios. Na verdade, os aldeãos dos pântanos não só varriam o chão, como ainda raspavam a superfície suja antes de colocar a camada do vidoeiro para o chão seguinte (3). No entanto, à volta da lareira parece que o chão ficava com a superfície cozida. Em consequência disso, a dura superfície vermelha assim resulíande dá uma indicação do nível geral do chão.
