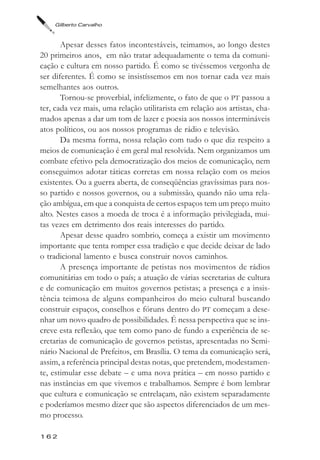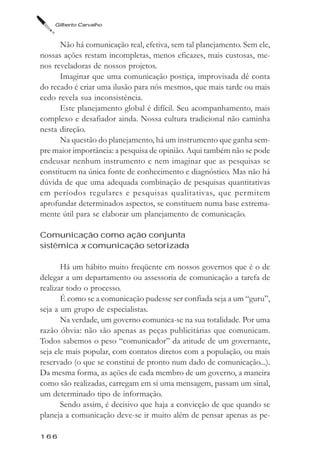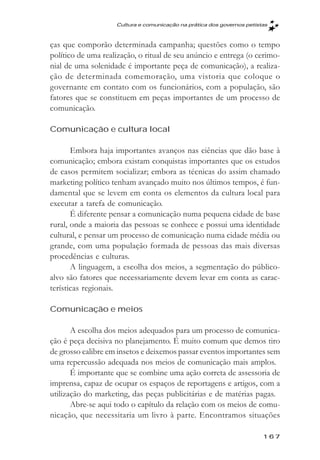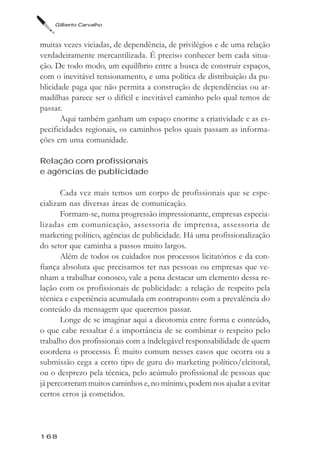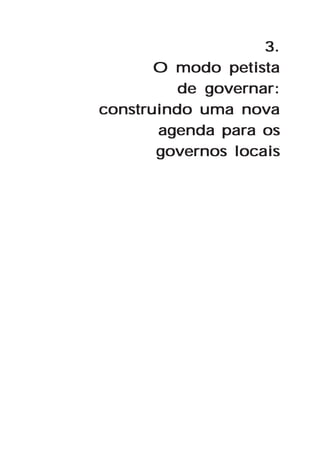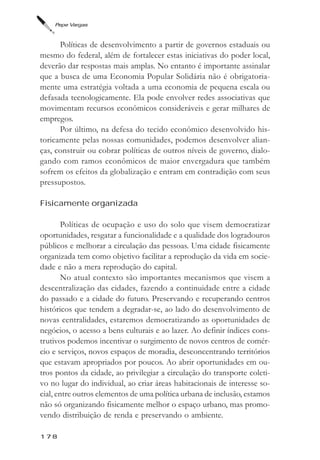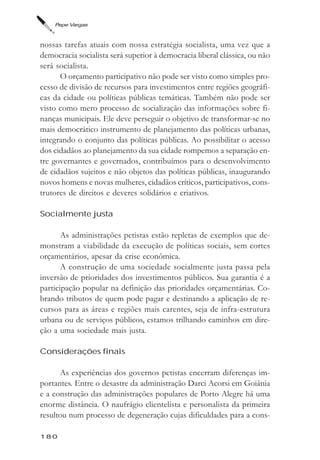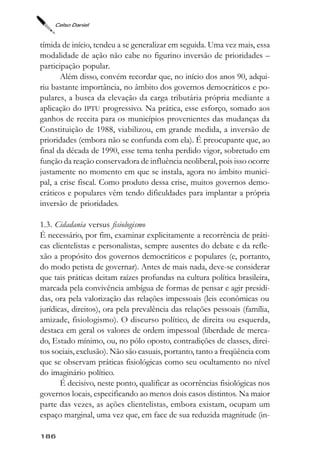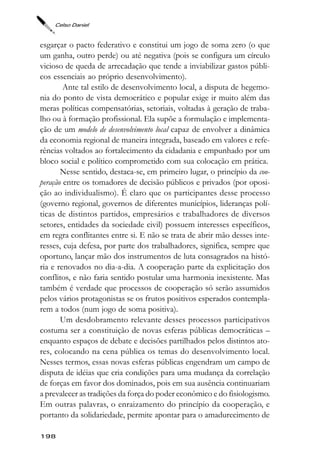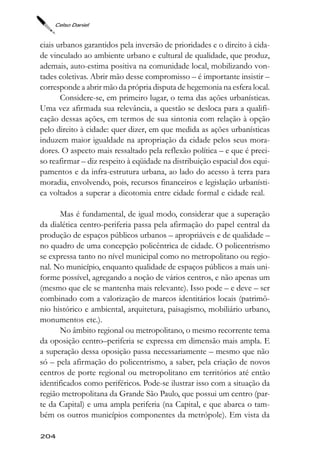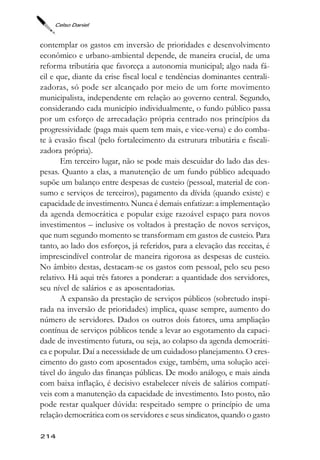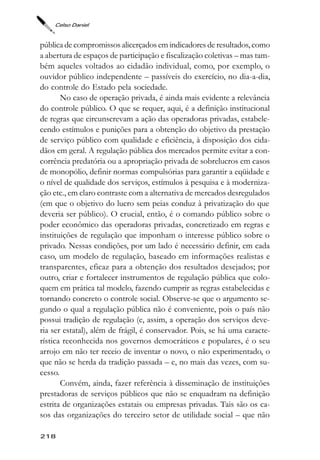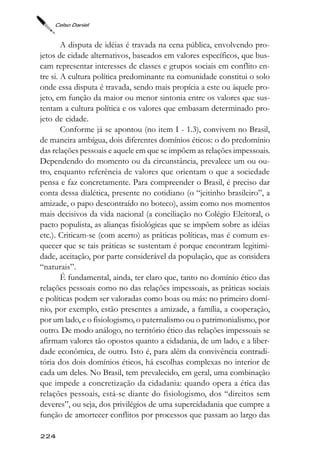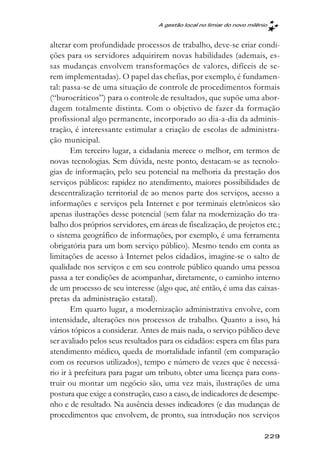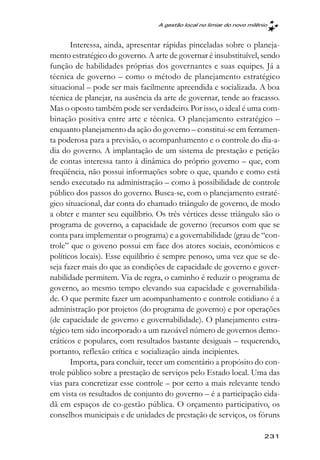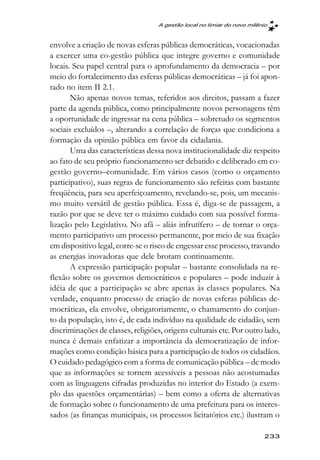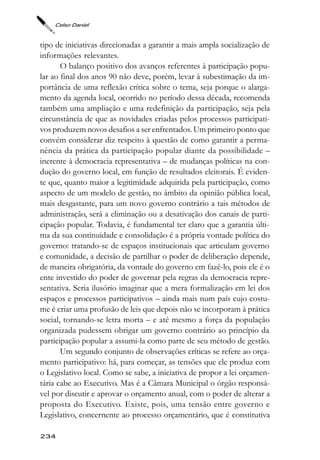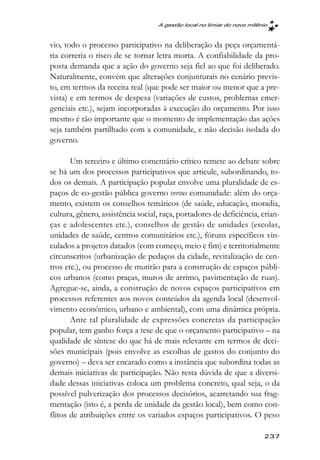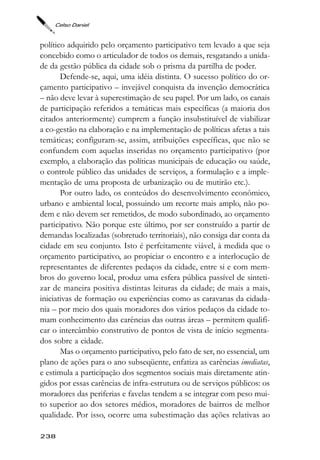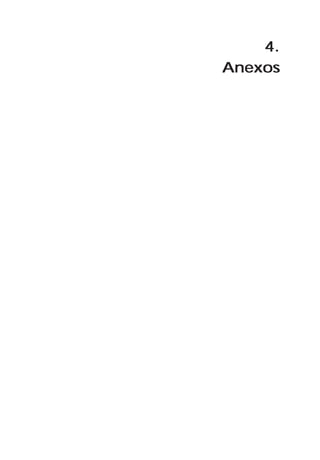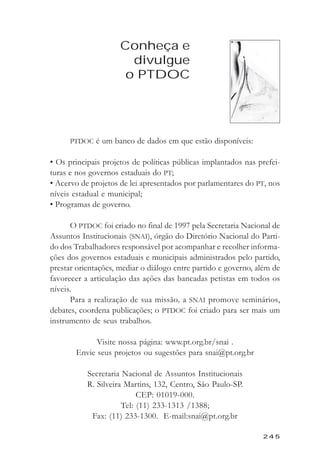Um debate estratégico sobre o significado do modo petista de governar é importante para o PT definir suas diferenças em relação a outros partidos e colocar a perspectiva do "bom governo" petista em uma estratégia socialista e democrática. O autor argumenta que um "bom governo" petista deve gerir o Estado de forma a promover a participação popular e reduzir desigualdades sociais, ao contrário de outros partidos que se limitam a prestar bons serviços públicos. Definir corretamente as
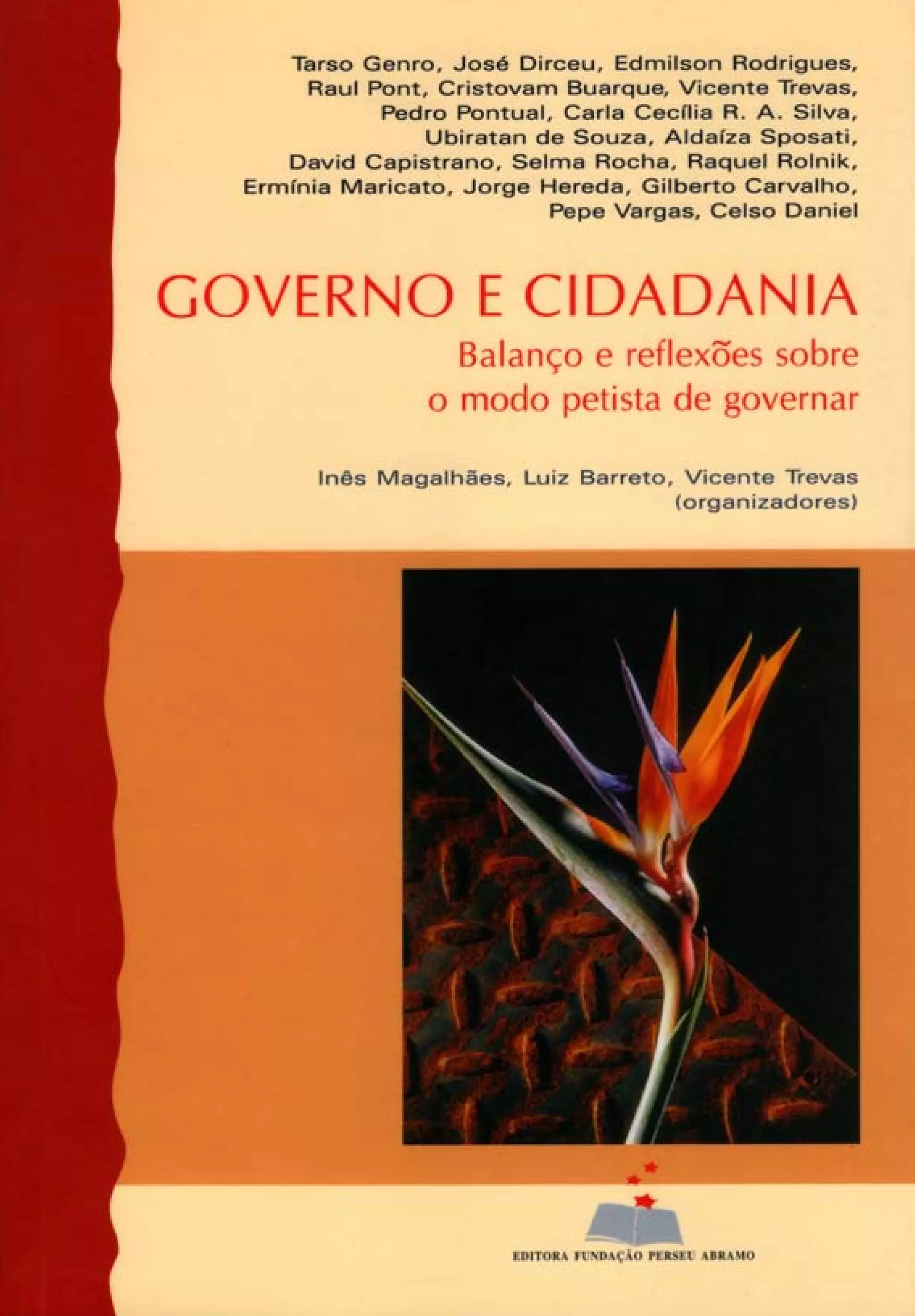

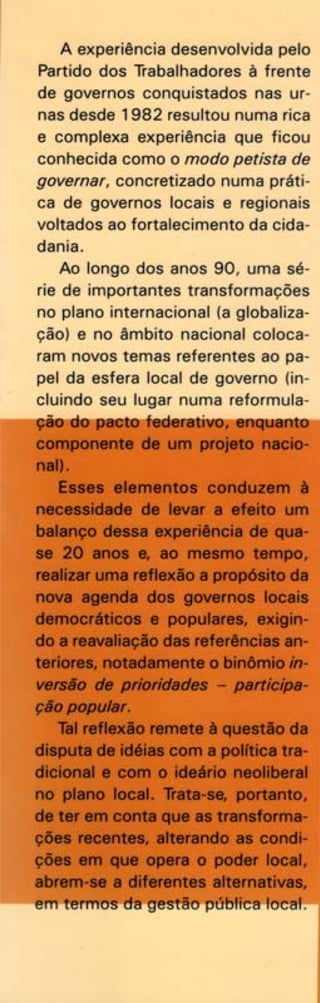
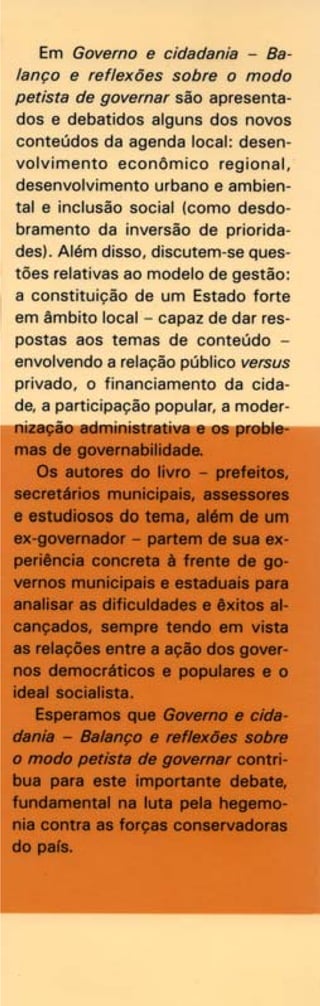















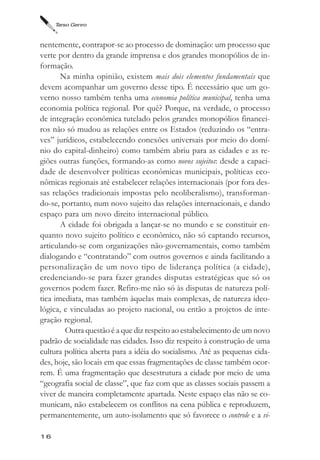







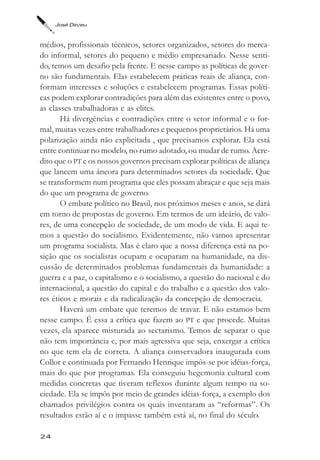


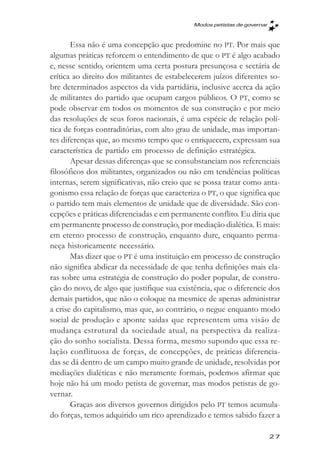
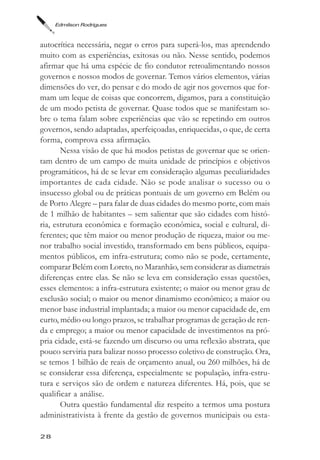








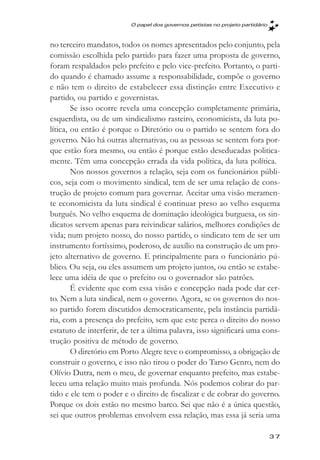


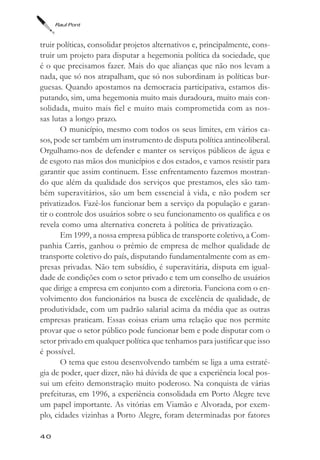



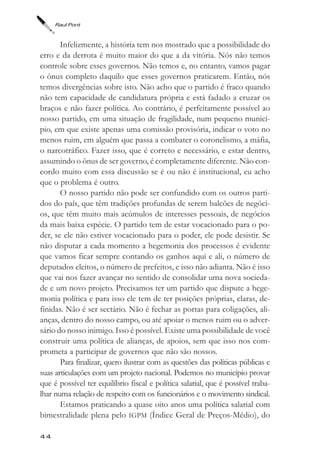







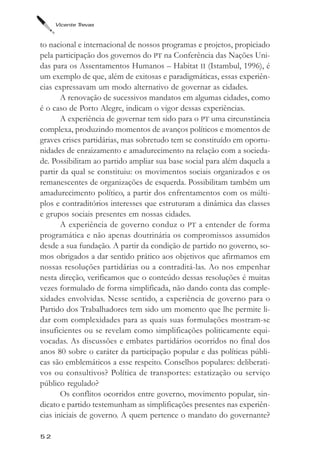

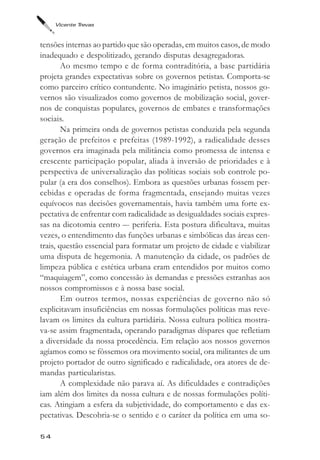


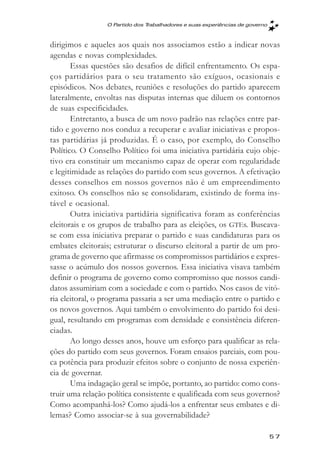

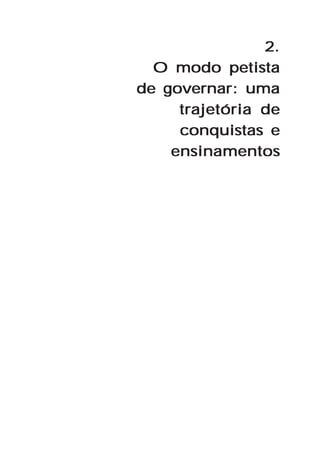


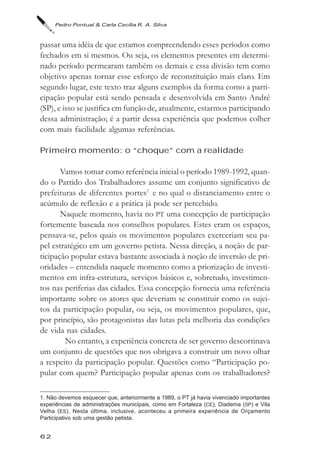

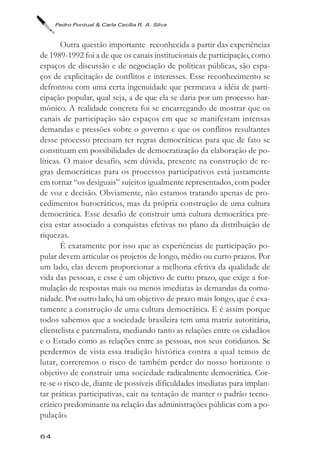

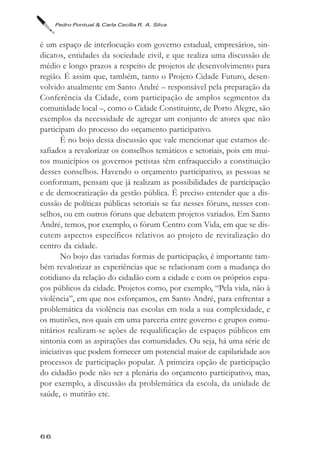


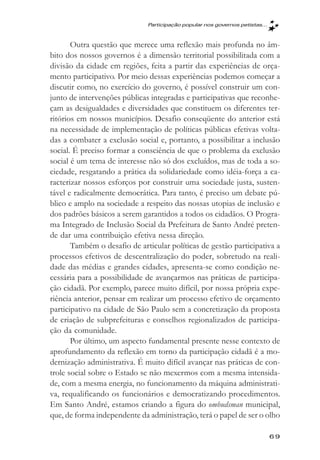


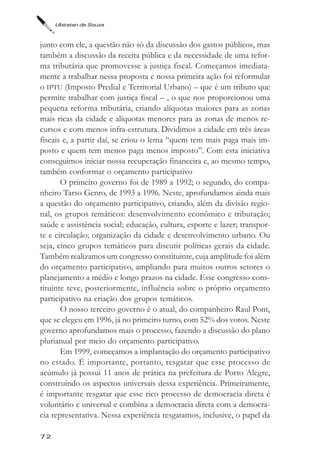

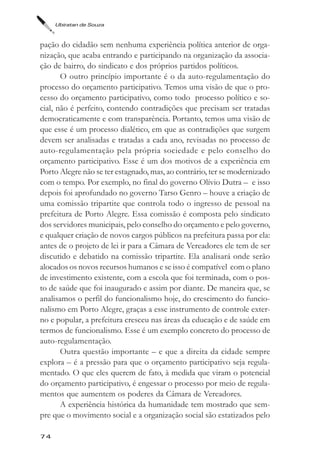
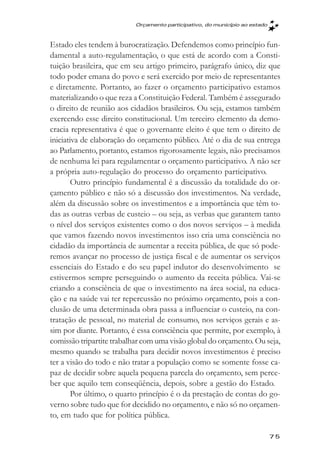
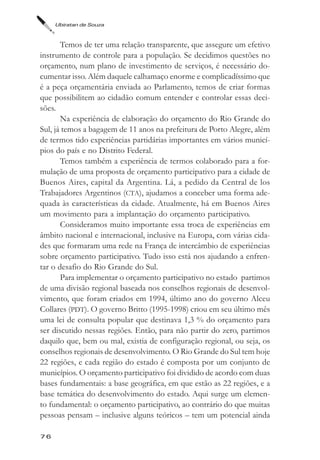




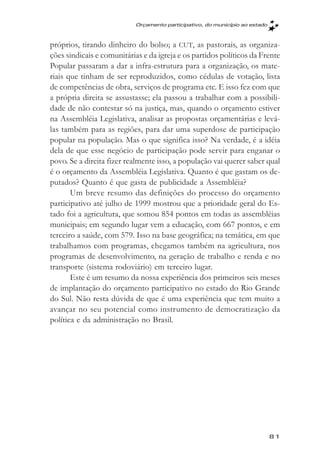



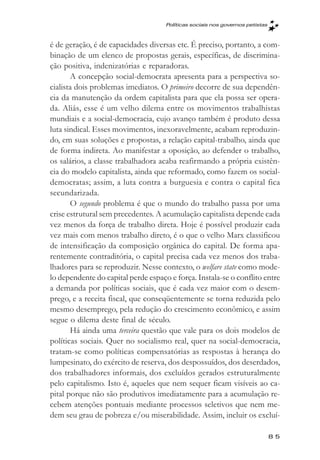


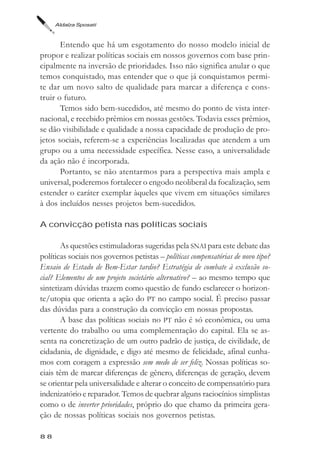

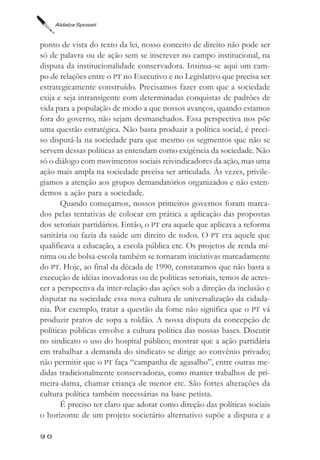






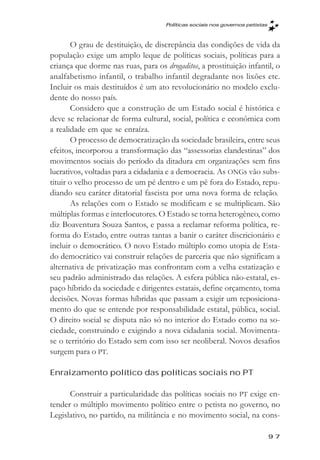

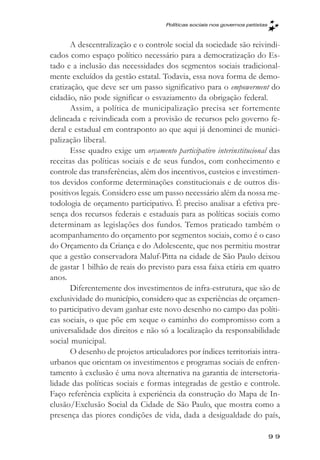

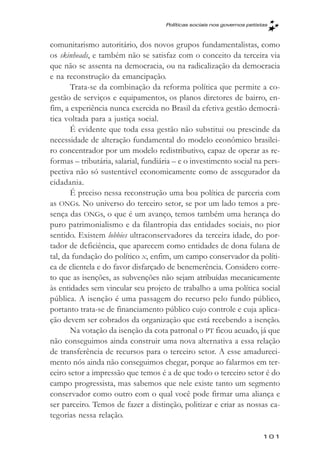


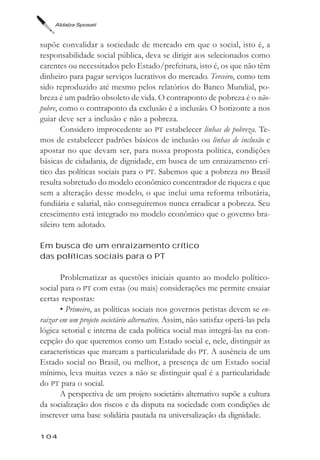

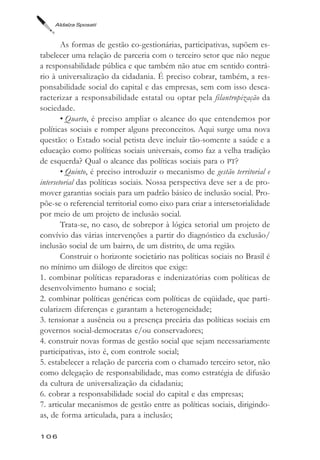
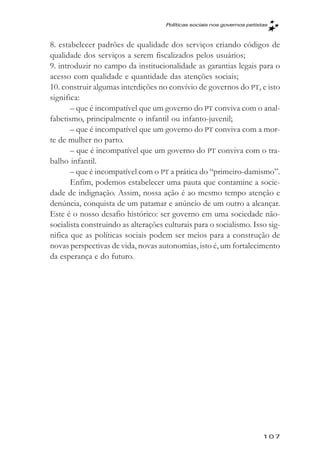





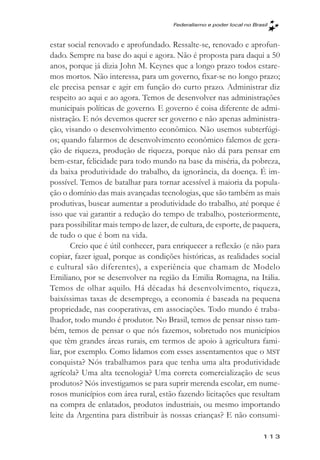
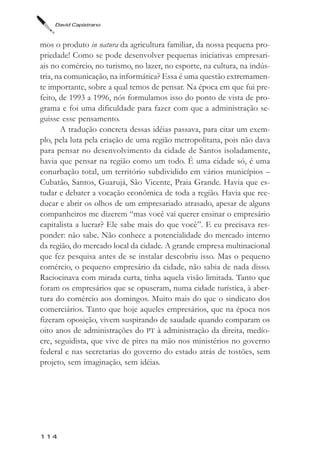





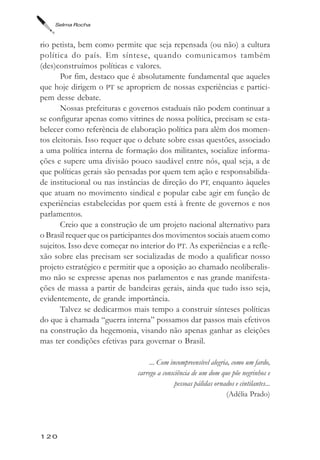

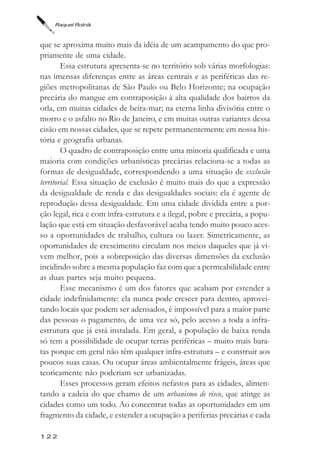



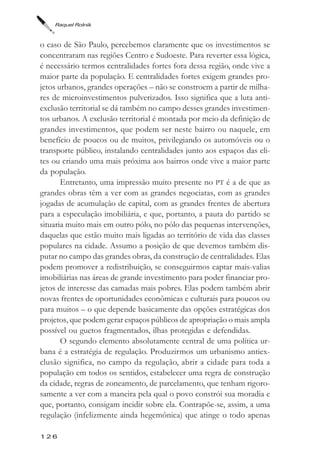







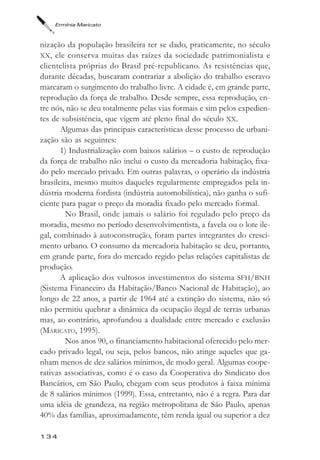














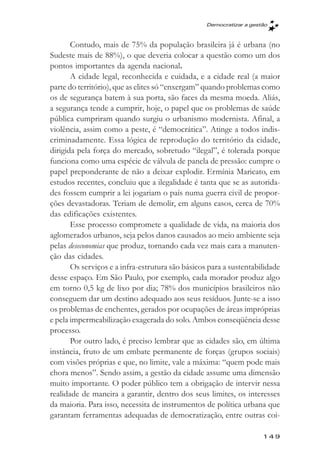





![Democratizar a gestăo
excluída da sociedade que habita o que se convencionou chamar de
cidade real. Significa, em última instância, ter também como resultado
desse processo a incorporação da cidade real à cidade legal, garantin-
do qualidade de vida e preservando o meio ambiente.
É óbvio que uma tarefa como essa não será realizada pelo mer-
cado. Hoje, o neoliberalismo hegemônico e o desenvolvimento susten-
tável são, portanto, incompatíveis, principalmente no nível dos gover-
nos centrais que vivem tutelados pelo FMI. Vem daí a ênfase dada às
iniciativas locais. A fragmentação resultante do processo de globaliza-
ção coloca também mais essa tarefa nas mãos do poder local.
A busca de alternativas de desenvolvimento endógenas com a
participação da sociedade é o único caminho. Se será uma saída viável
é uma questão que só o tempo dirá. Pode até não ser suficiente, mas é
o que resta ser feito neste nível, mesmo sabendo dos limites que estão
dados a essa esfera, que não tem como interferir diretamente nos as-
pectos macroeconômicos.
Tarso Genro, em 1997, num artigo para a Folha de S. Paulo, apre-
sentou muito bem a questão: “A postura dos partidos de esquerda pe-
rante os governos locais e provinciais [...] naquilo que se refere às no-
vas exigências abertas pela internacionalização capitalista, deve ser
reformada para sairmos de uma política de perplexidade negativa para
uma ação de disputa estratégica”.
Sob esse prisma, não cabem aqui conceitos como “fazer o bolo
crescer para depois dividi-lo” ou “estabilizar a economia e depois pro-
mover o desenvolvimento”, muito menos podemos prescindir da in-
tervenção do Estado (poder público) no processo, menos pelos inves-
timentos diretos, mas pelo seu papel mobilizador e regulador na garan-
tia da democracia no processo.
Queiramos ou não, estamos no meio desse tiroteio e somos obri-
gados a sobreviver nesse ambiente, sem, contudo, cair nas armadilhas
dos que, sob o manto de uma pseudomodernidade, tentam igualar a
todos numa mesma “geléia geral”.
Outra vez, Tarso Genro, desta vez no jornal O Estado de S. Paulo,
de 30/10/96, no artigo “Prefeituras: continuidades diferentes”, cha-
ma a atenção para um aspecto importante daquele momento:
155](https://image.slidesharecdn.com/governoecidadania-110223095708-phpapp01/85/Governo-e-cidadania-159-320.jpg)
![Jorge Hereda
“Não desdenho nenhum dos governos que fizeram seus sucesso-
res [...] Mas o governo que o PT e seus aliados fizeram em Porto
Alegre não tem nenhuma identidade com seus métodos de gover-
nar e de relacionar-se com a cidadania em geral e com as classes
populares em particular [...] jamais poderão dizer que somos idên-
ticos. Isso seria o mesmo que dizer que as diferenças entre esquerda
e direita não fazem mais sentido, quem diz isso [...] quer, na verda-
de, se abrigar no ‘fim das ideologias’ para traficar a sua própria como
a ideologia única de uma sociedade uniforme”.
Por tudo isso é que a tarefa que se apresenta para as administra-
ções progressistas é responder na prática como encontrar saídas para
construir um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, e dar res-
posta (dentro dos seus limites) a questões que antes não faziam parte
do seu universo, como desemprego, segurança ou desenvolvimento
econômico.
Isso significa perseguir um desenvolvimento de base endógena,
fundado no manejo sustentado dos recursos disponíveis no seu ambien-
te, além de buscar novos investimentos e a mobilização da sociedade.
A cidade tem de se preparar para “competir”, procurando seu
nicho ou vocação, não com o viés apenas do marketing (embora ele
tenha o seu papel), que só reforça as desigualdades existentes, mas
sobretudo visando garantir a diminuição da exclusão social que, como
vimos, caracteriza nossa sociedade.
Os governos do PT têm de alguma maneira tentado seguir esse
caminho. Trata-se de levar para sociedade o problema e construir o
consenso possível para enfrentá-lo. Definir a cidade desejada e estabe-
lecer coletivamente uma agenda que a construa.
Com características próprias, experiências como a Cidade Cons-
tituinte de Porto Alegre, os Fóruns de Desenvolvimento de Santo André
(1989-1992), Diadema (1993-1996), Ribeirão Pires, Mauá e do Fórum
Cidade do Futuro de Santo André (1997-2000), além da Agenda 21 de
Betim, são iniciativas que, entre outras, pretendem mudar a cultura e
começar a encaminhar democraticamente a questão.
Analisando especificamente o caso de Ribeirão Pires, cidade de
cerca de 100 mil habitantes no ABC paulista, é possível identificar um
156](https://image.slidesharecdn.com/governoecidadania-110223095708-phpapp01/85/Governo-e-cidadania-160-320.jpg)