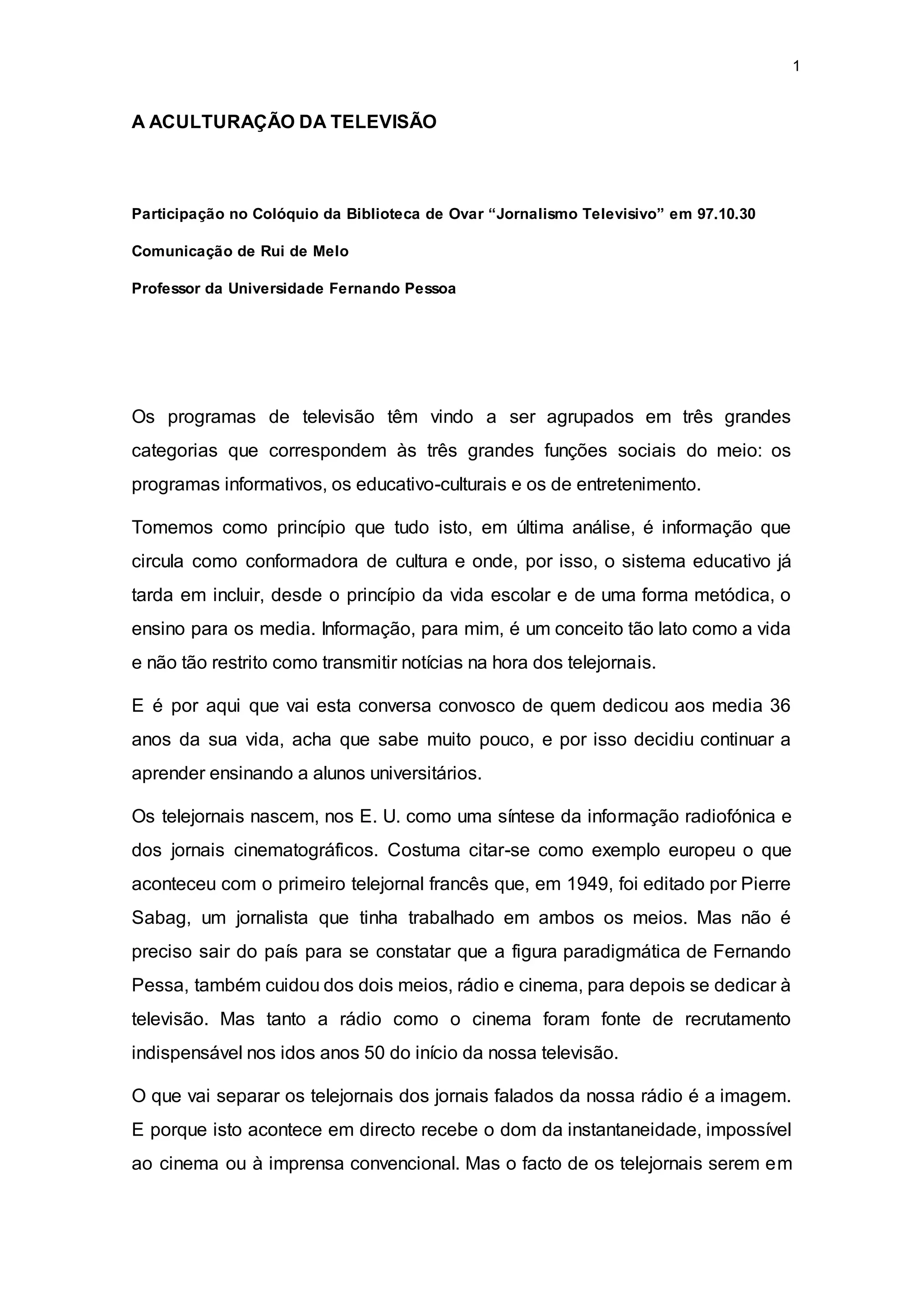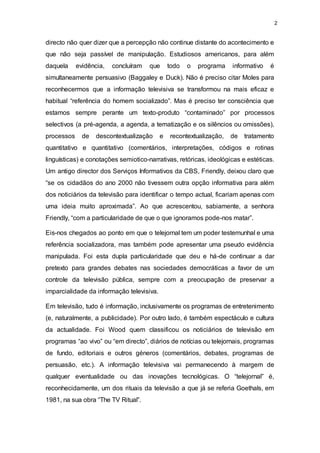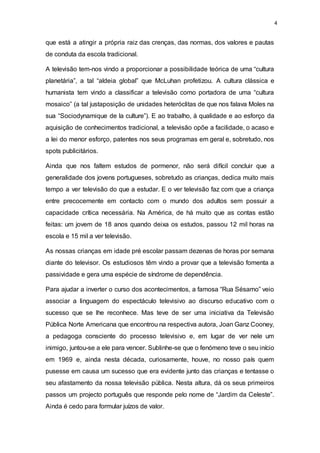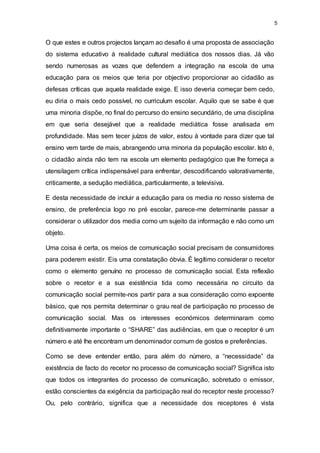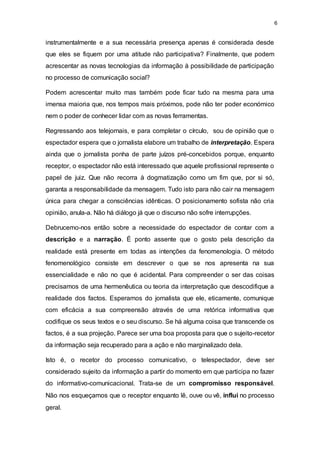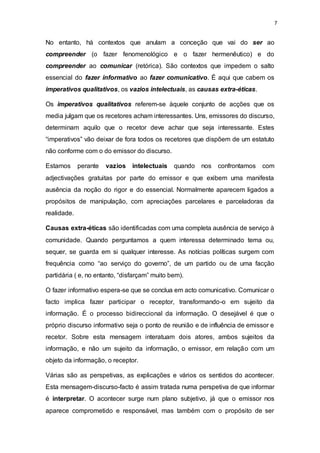O documento discute a evolução e o impacto da televisão na sociedade, especialmente no que se refere à educação e à formação crítica dos receptores de informação. Destaca a dualidade da televisão como meio de informação e entretenimento, enfatizando a necessidade de integrar a educação para os media no currículo escolar para promover cidadãos críticos. Por fim, aborda a dinâmica entre emissor e receptor no processo de comunicação, enfatizando a importância de considerar o espectador como sujeito ativo na construção da informação.