1. O artigo analisa a espetacularidade corporal do praticante de meditação, descrevendo como a prática meditativa exige a construção de um corpo diferenciado do cotidiano, fruto de um treinamento psicofísico.
2. Alguns praticantes possuem uma presença que os destaca, decorrente de processos de controle e desenvolvimento da atenção fundamentados em princípios como boa postura, atenção ao corpo e equilíbrio entre eixo e base corporais.
3. A boa postura envolve diversos fatores


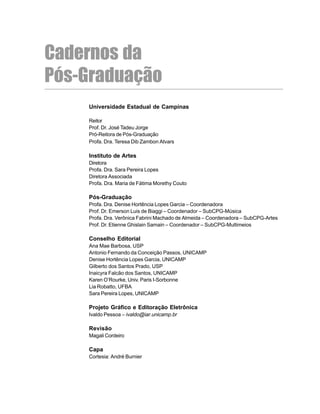

















![instituto de artes
21
A questão da simultaneidade de con-
teúdos nos remeteram ao contexto de hiper-
texto para contextualizar esse saber parado-
xal e a hiper-realidade na qual, nós artistas,
trabalhamos: uma realidade hipertextual em
significados e expressões.
A hiper-realidade pode transformar o
processo em algo criativo a ser delimitado sob
o risco de escorregar num abismo sombrio do
inconsciente e beirar a não recuperação do
caminho de volta à elaboração consciente. No
entanto, a performance art contemporânea tem
desafiado limites, não apenas corpóreos, es-
téticos, significantes, mas também limites psí-
quicos.
Pressupondo a arte como totalidade, e
entidade autônoma como alma que se expan-
de em possibilidades dinâmicas e complexas,
entendemos que a arte, numa linguagem poé-
tica, tem sua própria psique desprendida da
psique do artista como entidade e, portanto,
dialoga e sofre interferências do meio. Assim,
não a reduzimos a uma expressão do incons-
ciente, pois não basta só expressar; isso é
uma parte, mas não é só. Há a elaboração sim-
bólica e de integração; a questão deste estu-
do foi tentar identificar como isso ocorre. O que
acrescenta transforma, para não virar massifi-
cação e ser algo único?
A extensão da definição de performance
é muito vasta, exige recortes, e, como o inte-
resse maior foi apenas a mediação entre in-
consciente e consciente apresentando-se
plasticamente, pretendemos falar da individua-
ção abordando estados alterados de percep-
ção; de alteridades corporais e de consciên-
cia.
Polissemias: o hipertexto, a performance
e o inconsciente.
Também observamos em vários auto-
res, que, ao conceituarem a performance con-
temporânea, trazem similaridades com o con-
ceito de hipertexto. Encontrando a liberdade de
investigação e de experimentação para
aprofundar experiências intensas, identificamos
materiais configurados como um labirinto in-
terligado de informações que nos amparou di-
ante do desconhecido, seja o desconhecido
do inconsciente, seja da expressão que esse
conteúdo inconsciente encontra para atualizar-
se como arte.
De forma pragmática, pode-se definir
hipertexto como um texto organizado de for-
ma não linear ou não seqüencial. Souza Filho6
destaca como característica marcante do
hipertexto, eventos aninhados no tempo atra-
vés de elos sincronizados espacial e tempo-
ralmente, contando com a possibilidade e fle-
xibilidade de representar referências arbitrári-
as entre partes quaisquer de um documento e
pontos de “ancoragem” como marcas para que
o navegante não se perca. Segundo Levy7 “Os
itens de informação não são ligados linearmen-
te, cada um deles, ou a maioria, estende suas
conexões em estrela. Navegar em um hiper-
texto significa, portanto desenhar um percur-
so em uma rede que pode ser tão complicada
quanto possível. Porque cada nó [link] pode,
por sua vez, conter uma rede inteira”.
O autor supracitado aponta ainda não
apenas às possibilidades de associações,
mas também a de dissociação e à metamor-
fose perpétua de sentidos. Seria uma rede de
interfaces.
Ratificamos, portanto, a validade da
polissemia, associando ou não os links
circundantes, trazendo então a possibilidade
de percepção única e de inteireza a cada
fruidor, no nosso contexto o fruidor de si-mes-
mo.
A performance contemporânea captou
essas características de justaposição de per-
cepções e informações, sincronizações tem-
po-espaciais, de topos e dimensões e a com-](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-21-320.jpg)



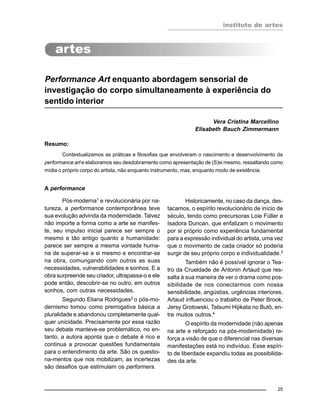

![instituto de artes
27
seus trabalhos ao próprio conceito de hiper-
texto em que a participação do “espectador” é
fator de interação e transmutação da obra.
Nos anos 90 a performance é uma im-
portante referência, não apenas na história da
arte, mas também em muitas das últimas tra-
jetórias da cultura contemporânea, seja na fi-
losofia, na fotografia, na arquitetura, na antro-
pologia ou na midialogia, seja a performance
autobiográfica, monólogo, ritual, pessoal ou na
dança teatro, os artistas unem a psicologia à
percepção, o conceito à prática, o pensamen-
to à ação; evocam a participação ativa, uma
colaboração física na construção de idéias.12
Resgatar o arcaico no contemporâneo
É fundamental a nova forma de pensar
o teatro que se consolida no período dos anos
60 e 70 a partir do trabalho de Jerzy Grotowski
e de Peter Brook para demonstrar o
envolvimento do artista na obra de arte13
, apre-
senta:
Nosso método não é dedutivo, não se
baseia em uma coleção de habilidades. Tudo
está concentrado no amadurecimento do ator,
que é expresso por uma tensão levada ao ex-
tremo, por um completo despojamento,
desnudamento do que há de mais íntimo – tudo
isso sem o menor traço de egoísmo ou de auto
satisfação. O ator faz uma total doação de si-
mesmo. Esta é uma técnica do transe e de
integração de todos os poderes corporais e
psíquicos do ator, os quais emergem do mais
intimo do seu ser e do seu instinto, explodindo
numa espécie de transiluminação14
.
Jerzy Grotowski apresenta seu méto-
do resgatando a essência dos ritos que envol-
ve o indivíduo por completo, o que definirá como
teatro pobre:
“O homem, num elevado estado espiritual usa
símbolos articulados ritmicamente, começa a dan-
çar, a cantar. O gesto significativo, não o gesto
comum, é para nós a unidade elementar de ex-
pressão. Procurando a quintessência dos sím-
bolos pela eliminação daqueles elementos do
comportamento que obscurecem o impulso puro.
Se a situação é brutal, se nos desnudamos e
atingimos uma camada extraordinariamente re-
côndita, expondo-a, a máscara da vida [diária]
se rompe e cai.” 15
A essência desse método que busca o
gesto significativo, a quintessência dos sím-
bolos, essa ousadia, casa-se perfeitamente e
contribui para inaugurar os novos conceitos de
arte que vão se apresentando ao longo da pós-
modernidade que se instaura no séc. XX.
No prefácio de Em busca de um teatro
pobre Peter Brook aponta:
“Ninguém investigou a natureza e a ciência de
seus processos (teatrais) mental, físico-emocio-
nais tão profunda e completamente quanto
Grotowski. O trabalho dessa natureza só é livre
se baseado na confiança, e a confiança para
existir não pode ser traída. O trabalho é essenci-
almente não verbal. Ele está criando uma forma
de culto... É um relacionamento unindo o privado
e o público, o íntimo e a multidão, o secreto e o
aberto, o vulgar e o mágico.
Seu trabalho nos deixa um desafio diariamen-
te.” 16
É Peter Brook também quem nos apre-
senta as bases para elaborarmos conceitos
como o da linguagem performática que pre-
tendemos utilizar, fundamentada nos extremos
da experiência interior. Assim, a expressão
dramática torna-se apenas conseqüência des-
sa vivência como exercício de favorecer a flu-
ência entre o invisível e este invisível que con-
tém todos os impulsos escondidos do homem,
atualizar-se na obra.
Nas entrelinhas de sua obra Peter Brook
nos apresenta vários conceitos que se conso-
lidam na performance contemporânea e que](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-27-320.jpg)










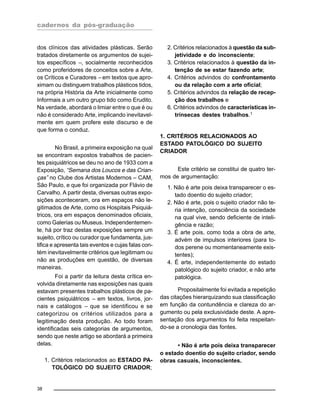




![instituto de artes
43
estabelecer paralelos com a produção de ar-
tistas modernos contemporâneos, levando-
nos ao seguinte questionamento: qual das ex-
pressões plásticas é doente e qual é sã?” 19
O fato de serem parecidas com obras
de artistas modernos implica em dois desdo-
bramentos cabíveis neste raciocínio. Ou os
pacientes fizeram arte e não são loucos, ou
os artistas têm um quê de loucura. No texto
apresentado anteriormente, já temos a fala de
Dubuffet questionando a questão da normali-
dade ou sanidade e desvinculando esta como
não-condição no sujeito criador. Mas, e a ou-
tra questão, o paciente deixaria de ser louco,
de ter esta experiência no seu repertório pes-
soal, apenas por apresentar um trabalho se-
melhante a uma obra modernista? Há a
fragilização do argumento da complexidade
formal dos trabalhos quando Silva coloca a
produção plástica do paciente psiquiátrico em
semelhança, ou em função, da sanidade ou
não de outros artistas. O elemento carac-
terizador dos trabalhos como arte não seria
nem a questão da sanidade, nem a semelhan-
ça entre as obras de pacientes e artistas do
sistema erudito de arte. A questão central se-
ria, na verdade o elemento formal destes tra-
balhos.
“Se dirigirmos a questão, sob a ótica formal, pou-
co restará do patológico como argumento sus-
tentável diante de criações elaboradas por indiví-
duos denominados de ‘loucos’, que representam
qualidadesformaiscomparáveisàsproduçõesdos
artistas da oficialidade...” 20
Novamente afere-se à obra uma força
plástica passível de ser apreendida por uma
análise formalista, mas o autor peca novamen-
te ao vincular este fato à semelhança a outros
trabalhos aceitos no sistema erudito da arte.
Neste outro trecho, sim, há a valoriza-
ção do trabalho pelo seu conteúdo expressivo
e formal: “Esta expressão criadora do ‘louco’,
nos remete a reconhecer [...] experiências de
relevância expressiva, constituídas de estru-
turas formais de qualidade incontestável.” 21
O crítico de arte, Agnaldo Farias, em
entrevista por nós realizada em 2004, refere-
se a esta questão da importância do elemento
sanidade e insanidade no campo da arte, refe-
rindo-se ao trabalho de Arthur Bispo do Rosá-
rio:
“E ficou difícil você marcar a linha de quem é
louco e quem não é. Mesmo porque até aonde
isto interessa para justificar ou não a qualidade
de um trabalho. O trabalho dele é bom porque
em razão de suas particularidades. O fato dele
ser louco fala-nos da condição psíquica dele, um
problema que ele tinha e que, ainda que marque
profundamente o trabalho, não deve ser tido na
conta de algo que rebaixa seus predicados esté-
ticos.”
Neste sentido, a questão da loucura
passa a ser vista como uma contingência da
história do sujeito criador.
Assim, dentro do critério analisado re-
ferente à patologia do sujeito criador é possí-
vel identificar, ao longo tempo, uma significati-
va mudança de argumentos, passando a ser,
o estado patológico, de claramente limitador
de qualquer possibilidade artística para uma
contingência de sujeitos que possuem em
suas vidas a história da patologia. Esta argu-
mentação de forma intensa se relacionará com
outros critérios de legitimação identificados,
como a questão da subjetividade e do incons-
ciente, a questão da intenção de se estar fa-
zendo arte e aos critérios advindos de carac-
terísticas intrínsecas destes trabalhos, como
se pode identificar na íntegra desta pesquisa.](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-43-320.jpg)































![instituto de artes
75
“A procura de leis pelos professores-diretores é
mais uma necessidade de fazer do que uma ne-
cessidade teórica do saber. A pedagogia como
um ato criativo é uma realização da necessidade
de criar uma cultura teatral, uma dimensão do
teatro cujos espetáculos somente satisfazem
parcialmente, e que a imaginação traduz em ten-
são vital. É por isso que o teatro, nas primeiras
décadas do século, existiu primariamente por in-
termédio da pedagogia [...] e porque a pedago-
gia deve ser vista como uma linha direta na con-
tinuidade da maioria das experiências teatrais
significantes da época.”3
Para Cruciani esta “... apaixonada pro-
cura, frenética e insatisfeita, pela verdade em
situação pedagógica” realizada nos estúdios
do TAM funda uma cultura teatral que será
extremamente significativa na fundação das
escolas de teatro posteriores.4
Encontrar uma nova maneira de fazer
teatro ou reencontrar um sentido para o ofício
era, portanto, um anseio que encontrava sua
expressão inicial na atividade pedagógica.
Reformar o teatro dar-lhe sólidas bases artís-
ticas, significava, inicialmente, criar uma ver-
dadeira pedagogia teatral pensada sobre ba-
ses sólidas e operativas. Esta constatação
aparece de maneira clara nas práticas e nos
escritos de todos os grandes reformadores te-
atrais do início do século XX.
Cabe ressaltar que esta especial impor-
tância dada à atividade pedagógica também é
resultante de um ideal mais amplo: reformar,
renovar o homem e a sociedade. À tentativa
de reconstruir o teatro e de redefinir a função
do ator relaciona-se um ideal utópico de
reformulação e aprimoramento das relações
humanas e das estruturas sociais. Rompem-
se as fronteiras do que se entendia por espe-
cificamente teatral para buscar reencontrar um
sentido para um fazer teatral esvaziado.
Em relação ao trabalho do ator, esta
questão se reflete na dificuldade de definição
de limites entre o trabalho técnico especifica-
mente teatral e o trabalho de aprimoramento
do humano. Esta é uma característica presen-
te em muitos dos experimentos pedagógicos
do século XX, como ressalta Marco de Marinis.
Os escritos de Copeau, as práticas de Laban,
a condução do Primeiro Estúdio por Sulerjítski
são exemplos da ligação entre o projeto de for-
mação de um novo ator e o projeto de forma-
ção de um novo, e melhorado, ser humano.
Nesta perspectiva, o trabalho sobre si mesmo
não pode ser visto como um acúmulo de habi-
lidades e truques do ofício, mas, pelo contrá-
rio, como um processo de auto-revelação, de
fuga dos clichês para reencontrar o contato
com a autenticidade da vida. Esta abordagem
do treinamento encontraria eco no trabalho que
Grotowski iria desenvolver durante as décadas
de 60 e 70.
As relações entre o grupo e a individua-
lidade dos participantes são fatores decisivos
nos aportes estéticos e pedagógicos de cada
coletividade teatral. Neste sentido é exemplar
o funcionamento do Primeiro Estúdio e sua
abordagem particular dos ensinamentos de
Stanislávski mediada, principalmente, pela
inquietude do espírito artístico de Vakhtângov.
Esta aparente insubmissão do Primeiro Estú-
dio é manifestação da necessidade de desen-
volver os procedimentos organicamente, res-
peitando individualidades e aproveitando o
material humano disponível. Isto só confirma
o que Stanislávski, e posteriormente Grotowski,
afirmaram a respeito da impossibilidade de se
chegar a um sistema possível de ser aplicado
como uma receita infalível para se chegar à
criatividade em diferentes grupos e contextos.
Os estúdios, por meio da aparente rebeldia de
Vakhtângov e de outros atores-diretores, de-
monstraram a afirmação de Sulerjítski de que
é impossível separar rigidamente procedimen-
tos técnicos daquilo que de essencial reside
no humano.](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-75-320.jpg)
![cadernos da pós-graduação
76
A experiência dos Estúdios do TAM tam-
bém demonstra que a coesão em torno de uma
proposta comum não implica na eliminação das
individualidades. Ao Primeiro Estúdio estava
integrado um forte grupo de jovens atores que,
aos poucos foram desenvolvendo seus esti-
los e suas concepções sem uma subordina-
ção servil aos caminhos então traçados por
Stanislávski. Talvez esta visão da formação
teatral não como uma reprodução de procedi-
mentos, mas como uma constante busca
centrada em um sólido núcleo de princípios
norteadores seja uma das principais e menos
assimiladas contribuições dos Estúdios à pe-
dagogia do século XX.
O surgimento dos estúdios também
marca o surgimento da figura do diretor-
pedagogo, que não se limita a ter uma função
de gerador de uma interpretação cênica da
obra dramatúrgica. Passa a ser um pesquisa-
dor da pedagogia e de propostas estéticas em
estreita colaboração com os participantes do
núcleo. Para Mollica a perspectiva do surgi-
mento desta nova abordagem do trabalho do
diretor foi criada por Stanislávski ao fundar seus
estúdios. Ele vê, neste momento, a possibili-
dade de estabelecimento de um corte historio-
gráfico entre as figuras de diretor-intérprete e
diretor-pedagogo.5
Marco de Marinis propõe que se inverta
a relação normalmente estabelecida entre en-
cenação e pedagogia e que se passe a “...
pensar a pedagogia teatral como um ponto de
chegada da encenação no século XX, o resul-
tado da transformação de diretor-demiurgo em
diretor-maiêuta, [...] ou diretor-pedagogo.” 6
Marinis observa esta transformação em qua-
se todos os grandes homens de teatro do sé-
culo XX, geralmente quando se envolveram
mais profundamente no trabalho teatral práti-
co e, em particular, no trabalho com o ator. Na
trajetória de Stanislávski esta mudança tem
como sintoma e como catalisador o trabalho
realizado dentro dos estúdios.
Nas cartas de Stanislávski e nos rela-
tos de Minha Vida na Arte é possível observar
que o foco de suas inquietações vai progres-
sivamente distanciando-se das questões for-
mais do espetáculo em favor de um aprofun-
damento em problemas relativos ao ofício do
ator. Um dos pilares do pensamento teatral de
Stanislávski é o de que o saber do ator é um
saber prático, adquirido de modo ativo. Por-
tanto, tanto a construção deste saber, quanto
a sua transmissão só podem se dar por meio
da auto-exploração por parte do ator de proce-
dimentos práticos que lhe guiem no caminho
de um domínio cada vez mais complexo e pro-
fundo de seu ofício. Fica clara, assim, a ne-
cessidade do trabalho sobre si mesmo, do
exercício, do treinamento. Para Ruffini, o apa-
recimento dos exercícios como parte consti-
tuinte do trabalho do ator foi uma revolução do
teatro do século XX, já que tradicionalmente o
trabalho do ator limitava-se ao ensaio e ao es-
petáculo.7
Os estúdios foram, por excelência, os
locais de surgimento e desenvolvimento dos
exercícios. São, portanto, fundamentais para
compreendermos o surgimento de uma nova
dimensão do trabalho do ator, que sem dúvi-
da, revolucionou também a maneira de se pen-
sar o fazer teatral. O sentido do ofício, aquilo
que permite a alguém se intitular ator passa a
não mais residir, ou pelo menos não mais so-
mente, na apresentação de espetáculos pú-
blicos. Afirma-se pela primeira vez de manei-
ra explícita a necessidade de uma prática coti-
diana de exercícios como base para o traba-
lho criativo do ator. E, principalmente, este es-
paço do exercício, do trabalho cotidiano passa
a ser visto como o espaço de construção da
identidade profissional e artística do ator. Este
novo enfoque teve profunda influência sobre o
desenvolvimento da prática e da teoria teatral
do século XX.
Colocando-se como espaços de cria-
ção de uma nova maneira de fazer teatro, os](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-76-320.jpg)
![instituto de artes
77
estúdios rompem os limites do que até então
se compreendia como teatro, expandem as
fronteiras do trabalho do ator e do diretor-
pedagogo e absorvem elementos extrateatrais.
Isto também pode ser visto como uma respos-
ta teatral às rápidas transformações pelas
quais passava a sociedade da época.
A propósito, ao tecer comentário sobre
as pesquisas dos renovadores do teatro do
início do século XX, Cruciani diz: “... o novo
teatro não era nascido do teatro e no teatro,
mas pela recuperação da complexidade cul-
tural, social e humana do teatro, como uma
forma de comunicação expressiva e como um
meio para a realização do homem.” 8
Para Marco de Marinis isto também
implica numa profunda ressignificação da vi-
são sobre a possibilidade de relação do teatro
com o contexto sócio-cultural. O esforço pe-
dagógico de transformação também busca
afastar o teatro da limitação de ser uma mera
atividade de entretenimento. O teatro passa a
ser visto como produção de saber, como um
instrumento cognitivo. Reconstruí-lo também
significa redescobrir meios para torná-lo, ou
fazer com que ele voltasse a ser, um instru-
mento eficaz para a compreensão do homem
e do mundo. Marinis diz:
“[O teatro do século XX] é um teatro que se dila-
ta, que transborda materialmente e metaforica-
mente de seus espaços tradicionais e, ao fazê-
lo, transmuta e se regenera, tanto nos proces-
sos materiais e criativos quanto nos princípios
estéticos, seja nas formas artísticas e expressi-
vas seja – sobretudo – nos pressupostos e na
finalidade do próprio operar. Partindo do horizon-
te tradicional [...] do divertimento e da evasão
[...], o Novecentos Teatral tende a desenvolver
sólidas ambições pedagógico-ético-político-espi-
rituais, chegando [...] a fazer do ator e do grupo
criativo os modelos ideais respectivamente para
o homem e para a comunidade do futuro...”9
Nos programas e nas práticas dos es-
túdios é evidente a busca por conhecimentos
e procedimentos extrateatrais. Elementos de
práticas esportivas, de outras áreas da cria-
ção artística e até mesmo da ciência são “em-
prestados” e recontextualizados para fazer
com que o teatro deixasse de ser um objeto
decorativo e conseguisse acompanhar, ou
mesmo provocar as mudanças da sociedade.
Para Pradier, este caráter transdisciplinar é
imprescindível para o desenvolvimento do sa-
ber teatral:
“... o saber não progride sobretudo dentro de uma
disciplina. As grandes idéias nascem no lado de
fora ou nas fronteiras [...]. A intelligenza do tea-
tro deve nutrir-se de desviações exteriores ao
teatro, do mesmo modo que uma cultura não
sobrevive a não ser através de contaminações,
empréstimos e erros.” 10
Evidentemente o que motiva a forma-
ção dos estúdios é a insatisfação com os
modelos de formação instituídos. A necessi-
dade de fundar novos ambientes pedagógicos
é um resultado da incapacidade das escolas
e teatros tradicionais em dar uma formação
ao ator que não fosse uma mera reprodução
de padrões fixados e de truques do ofício. Para
Cruciani, na base da formação dos estúdios
está uma “tentativa de dar sentido e dignidade
ao teatro”, que tem como ponto de partida a
“luta contra as instituições teatrais de seu tem-
po, seu conservadorismo vagaroso e a luta
contra o desinteresse da profissão teatral.” 11
Odette Aslan ressalta o processo de
isolamento, de afastamento do centro da pro-
dução teatral da época para poder gerar no-
vos procedimentos e novas visões do fazer
teatral. Esta é uma característica que marca a
organização dos estúdios e núcleos: fechar-
se em núcleo, criar procedimentos sólidos e,
somente então, dividir o conquistado.](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-77-320.jpg)



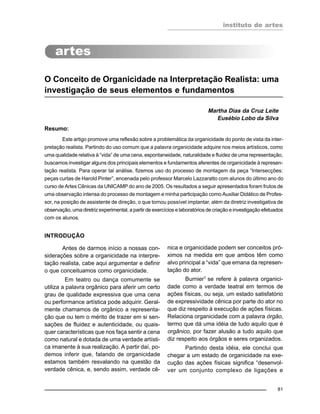

















![instituto de artes
99
Expressionismo e Contemporaneidade
Fábio de Bittencourt
Luise Weiss
Resumo:
Este artigo trata do Expressionismo na contemporaneidade, ao relacionar alguns de seus aspectos
à produção do autor, a qual pode ser descrita por características como a desconstrução espacial, ênfase na
deformação das figuras, expressividade técnica e liberdade temática enfatizando o cotidiano, concernentes
à poética expressionista .
Abordar o Expressionismo, a partir de
seu surgimento na Europa, poderia ser enten-
dido como uma tarefa no campo da História
da Arte, contextualizando-se manifestações de
um ponto de vista historiográfico e linear, tan-
tas vezes já cumprida por autores competen-
tes e obras clássicas da literatura em ques-
tão.
Pretende-se aqui, por outro lado, tecer
considerações de outra ordem, isto é, situar e
analisar um contexto que diz respeito a minha
formação e produção artística, demonstrando,
desse modo, a contemporaneidade de corren-
tes de ordem “expressionista”, ao apontar nas
obras de alguns de seus participantes, carac-
terísticas comuns ao meu trabalho.
Antes de mais nada, segundo Cardinal1
,
no prefácio de seu livro “O Expressionismo”,
este seria um movimento trans-histórico,
atemporal. Por outro lado, pode-se afirmar que
o “expressionismo” se desdobra em três prin-
cipais momentos: Expressionismo Histórico,
até a década de 20, com os grupos “A Ponte”
[Die Brücke] formado por Kirchner e seus se-
guidores, e “O Cavaleiro Azul” [De Blaüe
Reiter],
encabeçado por Kandinsky; Expres-
sionismo Abstrato, a partir da década de 50 e
Neo-Expressionismo, da década de 80 até a
atualidade [Novos Selvagens, Bad-Painting,
Transvanguarda ou Nova Figuração]. De uma
maneira ou outra, já tomamos como pressu-
posto que se pode falar numa contempo-
raneidade do Expressionismo na qual situo
minha formação como artista e minha produ-
ção.
Uma nascente importante da corrente
expressionista na Europa foi a obra do norue-
guês Edward Munch, com uma poética inti-
mista. Ainda ligado a correntes impressio-
nistas, revelou uma grande influência na for-
mação do expressionismo germânico, expon-
do e indo morar na Alemanha, ainda no final
do século XIX. O começo da escola moderna
alemã, isolada e distinta da escola parisiense,
está na arte de Munch, segundo Read.2
Em Berlim, expondo e participando ati-
vamente dos movimentos, influiu na formação
do grupo “Die Brücke”, em 1905. As caracte-
rísticas essenciais da poética expressionista
estão assim colocadas na declaração de
Maillard sobre este grupo:](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-99-320.jpg)
![cadernos da pós-graduação
100
“...Todos estes artistas são inquietos, de sensi-
bilidade doentia, atormentados de obsessões
religiosas, sexuais, políticas e morais. Paisagens
e nus dramáticos, composições místicas e visi-
onárias, cenas rurais e urbanas, de circo, de café-
concerto, de gente suspeita, tais os temas prin-
cipais. As cores puras brilham em ácidos estri-
dentes, cercados de contornos abruptos nos
quais se traduz a influência da arte negra e das
madeiras gravadas primitivas. Através das varie-
dades dos meios pintura, escultura, gravura em
madeira, litografia, água-forte, cartazes, impres-
são em pano, etc.” 3
Para Lopera4, é na obra de Picasso,
“Les Demoiselles D’Avignon”, que se encon-
tra o germe do expressionismo, um conjunto
justificável de fatores que iniciam a poética
expressionista, como a exacerbação de reali-
dades existentes ou até, como afirma este
autor, mulheres nuas e esquálidas que
“... eram uma forma de realismo emocional tão
neurótico como se deseje, mas da extirpe dos
realismos”. Argan5
, analisando a obra citada
acima, observa a contribuição de Picasso na
fundação de uma nova abordagem temática
com relação a realidade do artista e ao aspec-
to sócio-cultural, presente nas obras dos
expressionistas.
A partir de então, vê-se uma avalanche
de obras modernistas com características di-
tas “expressivas” e de início centro minha aten-
ção no grupo “Die Brücke” [A ponte]. Observo
já nesta formação aspectos emergentes que
são fundamentais para a descrição de meus
trabalhos: o universo temático de caráter so-
cial e cotidiano, a predominância da gestuali-
dade através de fortes e decisivas pinceladas
na constituição de uma fatura acidental e co-
loração instintiva e uma composição truncada;
lotando de elementos o espaço pictórico a fim
de causar uma atmosfera conflitante, tensa e
sinuosa que contextualize o sujeito represen-
tado.
Reforçando, Argan6
coloca que os ar-
tistas do grupo “A Ponte” resgatam as origens
do Romantismo frente a sua realidade e defi-
ne a condição do artista como fecundo ou
emergente, anti-burguesa, recusando as lin-
guagens já constituídas, justificando a sua ru-
deza técnica e temática.
Devo ressaltar em minha formação ar-
tística a importância da obra do artista russo,
radicado no Brasil, Lasar Segall pois, desde a
minha infância, a partir dos meus oito anos fre-
qüentei as dependências do Museu Lasar
Segall, próximo a minha residência em São
Paulo, capital. Desde então tive um aprendi-
zado através da apreciação de suas obras
expostas e posteriormente vim a estudar, fa-
zendo os cursos de desenho artístico e mo-
delagem no atelier do museu. Destaco a liga-
ção direta deste expoente do expressionismo
no Brasil com as primeiras correntes expres-
sionistas, citando seus próprios comentários,
a seguir:
“Minhas melhores e mais preciosas horas, po-
rém, vivi-as em meu miserável quartinho dum
bairro popular de Berlim, em que, inflamado pela
possibilidade de pintar sem fórmulas e restrições
asfixiantes, tentava encontrar minha própria ex-
pressão artística.”
“[...] Foi nessa época crítica que tomei contato
com alguns jovens pintores que pertenciam a
Secessão de Max Liebermann como também a
de Lovis Corinth. Juntei-me a eles. Meus qua-
dros foram aceitos na Secessão, ganhei o prê-
mio Liebermann.” 7
Em seu livro “A forma difícil”, o historia-
dor Naves comenta a relação de Segall com o
expressionismo germânico, afirmando o as-
pecto incisivo do expressionismo na realida-
de:
“Para o expressionismo - sobretudo o germânico
-, a arte era muito mais do que um aspecto da
atividade humana. Em última análise, ela circuns-](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-100-320.jpg)
![instituto de artes
101
crevia o único momento em que a subjetividade
podia dar provas da sua potência e integridade,
num mundo em que os limites impostos pelos
processos objetivos praticamente anulavam qual-
quer autonomia do sujeito. Mesmo que o resul-
tado final desse ato de rebeldia testemunhasse
acima de tudo a incapacidade da arte para con-
verter o real a sua dinâmica, restavam os indíci-
os de um empenho desmesurado para manter
viva a possibilidade de uma nova existência.” 8
Com relação a minha formação, cabe
lembrar a importância da obra de Oswaldo
Goeldi, notando o rigor de seu trabalho e seu
esforço no sentido de apurar uma linguagem
própria através de seus desenhos e gravuras.
De uma maneira direta e poética, Goeldi nos
fala de seu cotidiano, transformando a paisa-
gem do Rio de Janeiro em um lugar sombrio e
claustrofóbico, repleto de seres abandonados
e ameaçadores, numa paisagem noturna e
marginalizante.
Suas intenções expressivas e técnicas,
enquanto a conformar uma forte poética, que
viria depois a se assemelhar com a dos
“expressionistas”, são relatadas por Reis:
[...] “O domínio da técnica, a ponto de, através
dela e com os próprios dados da realidade, recri-
ar o mundo subjetivo, lírico ou trágico, com força
comunicativa comovedora, é a transcendente
aspiração do artista, aspiração dramática que lhe
inflige cruciante labor. Mais padecem essa tortu-
ra os artistas de aguda sensibilidade, donos da
vida interior exuberante, original e por isso mes-
mo, tirânica. Cada trabalho realizado é uma
súmula de esforços despendidos para que a cor-
respondência entre a emoção e sua representa-
ção plástica se torne intrínseca.” 9
Afirmando a ligação de Goeldi com as
raízes do expressionismo, Reis lembra que:
[...] “A obsessão de que a obra de arte seja a
representação dos impulsos subjetivos, da von-
tade artística que subordina a própria razão, é
característica essencial do expressionismo.”[...]
“incluem-se todos os grandes artistas, todos os
que contaram o seu drama, com toda a força de
vontade artística. Nele situa-se Goeldi, não por
influências de seus contatos com os expressio-
nistas germânicos, mas por seu temperamen-
to.” 10
No segundo momento do expressio-
nismo, a partir da década de 40, na América e
na Alemanha do pós-guerra ressalto a impor-
tância de dois artistas, basicamente figurati-
vos que trabalharam uma poética intimista,
reanimando preocupações dos primeiros
expressionistas, enfrentando a problemática da
expressão em grandes pinturas figurativas,
com relação a sua realidade. São eles Philip
Guston e Markus Lüpertz. Ambos trabalharam
com um universo temático voltado para a figu-
ra humana, seja simbolizando ou expressan-
do esse universo íntimo do sujeito [artista] fren-
te a sua realidade espelhada no universo par-
ticular do ateliê, nos objetos, na rua, na paisa-
gem, ou num universo lírico, limiar entre estas
realidades figurativas e simbólicas. Esta es-
colha foi fortemente direcionada em virtude de
manifestações ocorridas nas décadas de 80
e 90 em torno da pintura, as quais acompa-
nhei pessoalmente, que fizeram parte do meu
cotidiano e da minha formação artística. No de-
correr destas décadas, identifiquei pressupos-
tos importantes, citados a seguir, na obra des-
tes dois artistas, que serviram como paradig-
mas na análise das produções pictóricas da
época. Em entrevista, Guston descreve seu
processo de criação, através da escolha do
seu campo temático, restrito e cotidiano, liga-
do ao dia a dia, mais especificamente a sua
relação com seu universo íntimo, no caso, o
próprio ateliê, e da ligação com a tradição da
pintura, citando alguns importantes pintores da
Historia da arte como Matisse e Bonnard por
Hopkins11
.](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-101-320.jpg)
![cadernos da pós-graduação
102
Além da questão temática, pode-se ver
na obra de Guston, a tensão entre a lingua-
gem abstracionista e a figuração, pois no pro-
cesso de construção, emergem imagens do
que ele chamaria de “sujeira colorida”, tal como,
usando sua própria metáfora, o “Golem”, figu-
ra da mitologia germânica, que surge do bar-
ro. Objetos retirados do dia a dia, pintados em
pequenas telas são recompostos em forma-
tos maiores, num movimento de permutação
e metamorfose, como por exemplo, blocos de
prédios de uma paisagem urbana se transfor-
mando nas duas partes de um livro por Storr12
.
Assim, as imagens criam uma dualidade, si-
tuando-se entre o campo abstrato e o figurati-
vo.
Storr chama atenção, entretanto, para
o cuidado em se atribuir à obra de Guston ca-
racterísticas do que se veio a conhecer como
neo- expressionismo pois isso poderia ignorar
complexidades de sua arte. Apesar do conteú-
do biográfico, ele não estava preocupado com
a auto-expressão nem estava apenas reagin-
do contra o formalismo crescente no abstra-
cionismo que predominou os anos 60/70. Ele
era convicto, por exemplo, segundo este au-
tor, da importância de um Mondrian e outros
abstracionistas nos quais identificava uma
“idéia fixa”. Os limites entre o representacional
e o abstrato são tênues em sua obra pois a
questão para ele não era escolher entre um e
outro mas em como manter a identidade do
autor e preservar o momento - o instante na
construção da obra - contra a tendência do
enrijecimento de fórmulas.
Na Bienal Internacional de São Paulo,
nas edições de 1981 e 1983, respectivamen-
te, pude apreciar “in loco” as obras de Philip
Guston e Markus Lüpertz, apenas para citar,
estes precursores do ressurgimento da pintu-
ra nos anos 90, entre outros. Observo que por
serem suas poéticas construídas nas déca-
das de 60 a 80 são estas as fontes deste mo-
vimento.
O artista alemão Markus Lüpertz me
despertou interesse desde 1992, quando pude
acompanhar através de um vídeo13
uma amos-
tra significativa do seu processo de trabalho.
Neste vídeo, vê-se nitidamente o procedimen-
to particular adotado pelo artista na concep-
ção e construção de suas pinturas que ser-
vem de paradigma para cercar algumas ba-
ses ou princípios que a meu ver coincidem com
proposições contidas em algumas de minhas
obras. Considero importante ressaltar a apre-
ciação deste artista em ação no vídeo citado,
visto acompanhar visualmente com detalhes
a confecção da fatura da pintura e a gestua-
lidade requerida no fazer de suas obras.
Lüpertz é um artista vigoroso, em ação,
age de maneira enérgica, intensa e usando de
uma ampla gestualidade na construção de
suas pinturas. Sua medida é a intuição, é ela
que guia suas ações e escolhas quanto a op-
ções temáticas e colorísticas.
Assim como outros pintores expressio-
nistas, ele se atira num embate com a maté-
ria, a tela é um espaço onde o artista esta in-
serido, sua dinâmica é tomada por ações
repetitivas onde ele arremete incansavelmen-
te com grandes pinceladas e esguichos de tin-
tas na obtenção de um descanso do olhar. O
gesto, a sua gestualidade é de suma impor-
tância nesta realização. Zweite assinala que
“o gesto de realização triunfa sobre o motivo,
mas sem o extinguir totalmente, sem o desfi-
gurar absolutamente. Embora Lüpertz pinte no
estilo concreto[objetivo temático] ele tem mais
interesse no próprio pintar do que no motivo
representado pela própria pintura”14
e reforça
dizendo “[...] Especialmente as pinceladas rá-
pidas e largas cobrem todos os pormenores e
coagem o material heterogêneo numa forma
total que aparece como natural, anulando a fi-
xação e o conteúdo dos elementos individuais
sem os extinguir totalmente. [...]”15
No desenvolvimento da obra de Lüpertz
percebemos uma atitude notavelmente ines-](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-102-320.jpg)
![instituto de artes
103
perada e oscilante com relação a aspectos
temáticos. Suas grandes telas gestuais mui-
tas vezes são iniciadas com uma atitude ab-
solutamente abstrata e informal, chegam a
conformar uma realidade figurativa, ainda que
crua. E velada, camuflada, na constituição de
uma rica matéria pictórica, até que, como num
embarque seguro, resolvem-se em formas
biomórficas ou zoomórficas reunindo univer-
sos distintos como objetos e figuras [huma-
nas ou não], objetos e paisagens ou figuras e
paisagens.
Neste sentido, observamos a abertura
temática e processual na obra de Lüpertz,
quando permite esta rica variação em torno de
temas e as adequações técnicas possíveis no
processo de conformação da obra.
Segundo o historiador Klaus Honnef16
,
esta nova geração de artistas que surge no
final da década de 70, mesmo alguns que já
tinham sua produção madura em andamento
desde a década anterior, como é o caso de
Markus Lüpertz, George Baselitz, Anselm
Kiefer e A. R. Penk, na Alemanha e Francisco
Clemente, Enzo Guchi e Sandro Chia, na Itá-
lia, encabeçam toda uma lista de artistas eu-
ropeus, especialmente italo-gêrmanicos.
Esta nova geração apresentava em
suas obras, em grande parte pinturas de gran-
de formato, telas maiores que a escala huma-
na, na sua maioria ultrapassando em suas di-
mensões a faixa de 2 metros, no sentido des-
te suporte potencializar valores expressivos e
gestuais da imagem representada.
Com o aumento da produção de obras
pictóricas, produtos artísticos facilmente ad-
quiridos pelo mercado, aconteceu uma gran-
de expansão do mercado de arte e conseqüen-
temente a proliferação de galerias pelo mundo
a fim de comercializar a nova produção, tão
divulgada pela mídia mundial a partir da déca-
da de 80. Neste momento, o Brasil também
vai receber as influências desta produção con-
temporânea através do seu maior evento ar-
tístico que é a Bienal Internacional de São Paulo
onde, a partir da sua XVI edição, no ano de
1981, recebe os primeiros representantes des-
ta nova geração de pintores destacando-se,
entre eles, o canadense Philip Guston. Em sua
edição seguinte, a Bienal apresentaria obras
significativas dos artistas alemães Markus
Lüpertz e A.R. Penk.
Outras Bienais de extrema importância
foram a XVII e XVIII edições nos anos de 1985
e 1987, respectivamente, reunindo, em 85,
grande parte da produção emergente européia
na concepção de um grande corredor de pin-
turas de artistas internacionais. Apresentavam-
se, lado a lado, na chamada “A grande tela”,
estrangeiros, em sua maioria europeus, e bra-
sileiros. Pude apreciar obras representativas
de pintores como: Walter Dahn, Helmut
Middendorf, Jorg Immendorff, Georg Dokoupil,
Peter Bommels, Rainer Fetting, Martin Kippen-
berger, Sandro Chia, Enzo Guchi, Salomé e
Martin Disler entre outros. Em 87, a XVIII Bienal
apresentaria uma mostra individual importan-
te com grandes telas de Anselm Kieffer, ale-
mão, um dos pintores mais representativos da
nova pintura alemã pela especificidade da sua
obra.
Estes acontecimentos repercutiram for-
temente em minha produção, permitindo, a
partir de então, maior aprimoramento técnico
e expressivo na linguagem que se desenvol-
via.
Com estas considerações e relatos
sobre a obra de expressionistas em diferen-
tes épocas de um movimento trans-histórico
e atemporal, tentei situar a minha própria tra-
jetória e produção, contribuindo para uma re-
flexão sobre a coexistência de diversas cor-
rentes artísticas no cenário contemporâneo
das artes plásticas e sobre processos de for-
mação do artista neste campo.](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-103-320.jpg)

![instituto de artes
105
Notas sobre uma Estética Goetheana
Cláudio de Souza Castro Filho
Maria Lúcia Levy Candeias
Resumo:
O texto aborda algumas das principais diretrizes estéticas que perpassam a obra, tanto literária
como teórico-filosófica, de Johann Wolfgang von Goethe. Não se trata de delimitar conceitos norteadores
da produção goetheana, mas de identificar a manifestação de idéias, próprias da escrita de Goethe, que
apontam para o conflito entre romantismo e neoclassicismo. Do lado romântico, temos um Goethe que se
deixa levar pelas aspirações subjetivas, tal como vemos em Werther. Já do lado neoclássico, temos um
Goethe influenciado pelo pensamento de Winckelmann, inspirado nas ruínas greco-romanas e numa rela-
ção salutar entre o homem e a natureza.
Um conflito primordial marca a obra de
Johann Wolfgang von Goethe. Ser ou não ser
romântico – ou, ser ou não ser neoclássico –,
eis a questão. Ser romântico, no caso, signifi-
ca ser fiel aos ideais do Sturm und Drang
[Tempestade e Ímpeto], grupo pré-romântico
do qual Goethe é um dos fundadores e que
tem em Os Sofrimentos do Jovem Werther
sua mais legítima expressão. Ser neoclássico,
por sua vez, significa acreditar na idéia de que
uma legítima modernidade só pode fazer sen-
tido se balizada na resignificação, em tempo
presente, das ruínas da antigüidade. A re-
presentificação do ambiente clássico greco-
romano no contexto do século XVIII encontra
no pensamento de Winckelmann seu mais
ilustre representante.
Em ambos os casos, pode-se pensar
num Goethe que dialoga com a idéia de
transcendência, ligada a uma paisagem poéti-
ca. Cabe destacar que a idéia de paisagem,
em Goethe, suplanta a noção de pintura de
paisagem e abarca a imagética paisagística
evocada em tantas modalidades artísticas: a
paisagem poética dá-se, assim, em relação à
literatura, à música, à pintura, ao teatro de
Goethe. Há, portanto, uma equivalência, em
termos de formulação de belas imagens, en-
tre a construção plástica e a construção literá-
ria, que comparecem, ambas, como formas
possíveis de poetização da natureza. Mas a
poesia é, para Goethe, a mais imagética das
artes literárias, equivalendo à pintura no que
se refere a uma especial relação com a natu-
reza. O poeta compreende tal relação tanto
pelo viés artístico como pelo viés científico, já
que, em última instância, o homem, ao produ-
zir toda sorte de saberes, estabelece com a
natura uma relação de espelhamento e
integração: a moderna finalidade do sujeito
conhecedor é a harmonia com a natureza.
Há na idéia romântica (ou hegeliana) de
transcendência um interessante contra-senso
no que diz respeito a uma intuição de Deus à
qual a arte pode nos convocar. Existe, em tal
pensamento, uma nítida perspectiva de](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-105-320.jpg)


![cadernos da pós-graduação
108
saber) para experienciar a verdade sensual da
vida mundana, Fausto (a personagem) é
conduzida por Mefistófeles à Hexenküxe [Co-
zinha da Bruxa], onde sorverá uma poção ca-
paz de lhe fazer rejuvenescer. Tal experiência
funde, assim, aspectos místicos – marcados
pela atmosfera cerimoniosa da cena – com
elementos científicos – já que a Bruxa elabora
todo um procedimento (um método) para pre-
parar e servir a poção. No entanto, ao abordar
Fausto procurando observar os já expostos
contrastes entre elementos neoclássicos e
aspectos românticos, o fragmento em que se
encontrará com maior reverberação tal gama
de tensões será, sem dúvida, a clássica
Walpurgisnacht [Noite de Valpúrguia]. A primei-
ra versão conhecida de Fausto data mais ou
menos de 1775 e foi apresentada por Goethe
como Urfaust [Fausto Original ou Pré-Fausto].
Será apenas na terceira fase de confecção da
obra, entre 1797 e 1808, que a Noite de
Valpúrguia se mostrará. Embora a Walpurgis-
nacht vá, futuramente, ganhar novos contor-
nos e desdobramentos no Segundo Fausto, a
cena à qual aqui nos referimos é, com preci-
são, a apresentada por Goethe no Faust I [Pri-
meiro Fausto].
A Noite de Valpúrguia, dentro da estru-
tura épica do texto como um todo, marca um
significativo episódio da Gretchentragödie [Tra-
gédia de Gretchen]. Fausto abandonou
Gretchen após os consecutivos assassinatos
da mãe e do irmão dela, este por uma apu-
nhalada de Fausto, aquela por veneno servido
pela própria jovem. Além disso, Gretchen está
grávida de Fausto, é condenada à guilhotina
pelo matricídio e, já na prisão, enlouquece.
Como culminância de seu suplício, ela, no pró-
prio cárcere, dá à luz o bebê, mas o mata, afo-
gando-o com o leite materno ao sufocá-lo jun-
to ao seio. Simultaneamente a tão doloroso
percurso, a Noite de Valpúrguia marca a radi-
cal alienação de Fausto frente ao padecimen-
to da amante. Goethe constrói, na peculiar
cena, um nicho poético rico em imagens
oníricas. Se, como vimos, para o poeta, a po-
esia equivale imageticamente à pintura, pode-
mos equiparar a Noite de Valpúrguia aos mais
célebres quadros de Pieter Bruegel ou de
Hieronymus Bosch. Trata-se de uma fuga da
realidade que, contrastivamente, abrirá os
olhos de Fausto para o sofrimento de Gretchen,
que comparecerá na cena como uma espécie
de imagem espectral, sintetizando, num mes-
mo momento, os múltiplos crimes e expiações.
As imagens sacrificiais da Noite de
Valpúrguia são inúmeras e, embora o tom de
fantasia com que são imaginadas (isto é, tor-
nadas imagem) aproximem a cena dos ideais
românticos de transcendência, é preciso ver
na composição da cena ecos do projeto clás-
sico goetheano de constituir uma arte legitima-
mente alemã. Tal legitimidade é pensada, no
Goethe neoclássico, não ainda no âmbito de
uma unificação nacional, mas na esfera de uma
síntese da cultura européia, que abarca tanto
elementos nórdicos como heranças mediter-
râneas. O elemento mediterrâneo, na Walpur-
gisnacht, talvez esteja, basicamente, na pró-
pria estrutura épica (de fundo homérico) da
cena, aliada a seu conteúdo trágico-sacrificial,
que parece rememorar, em alguma medida,
as Dionisíacas gregas. Já o elemento germâni-
co encontra-se, certamente, na tradicional ce-
lebração popular que inspira a escrita da cena.
Até os dias de hoje, a ocasião é anualmente
celebrada, com música e vinho, nos vilarejos
alemães da região montanhosa de Schierke e
Elend. Diz a tradição que as meninas que,
nessa noite, nascem com o cordão umbilical
envolto no pescoço, são, na verdade, bruxas!
Goethe parece lançar mão dessa imagem para
descrever, em sua Noite de Valpúrguia, a mi-
ragem que convoca Fausto à lembrança do
sofrimento de Margarida:
“Não posso desse olhar libertar-me um momen-
to! / É pouco natural; no pescoço adornada / Traz](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-108-320.jpg)





















![cadernos da pós-graduação
130
7. Refiro-me a nosso, no plural, porque apesar de estar em
campo sozinha, a todo o momento os passos tomados em
campo, foram dirigidos por minhas orientadoras.
8. Entrevista de Roberto Oliveira concedida a SAMMAIN e MEN-
DONÇA. www.scielo.br/pdf/ra/v43n1/v43n1a05.pdf, (Con-
sultado dia 29 de março de 2006).
9. SATO, op. cit., p. 14.
10. SPINK, 2003.
11. Capelinhas utilizadas nas procissões da Semana Santa.
12. MIRANDA, 2000, p. 31.
13. SPINK, op. cit.
14. SATO, op. cit., p. 13.
Referências Bibliográficas
MALINOWSKI, B. e E. Durhan (org). Malinowski, Série Antro-
pologia. São Paulo: Ática S.A. 1986.
MARCUS, George E. “O intercâmbio entre arte e antropologia:
como a pesquisa de campo em artes cênicas pode informar
a reinvenção da pesquisa de campo em antropologia.” Re-
vista Antropologia. 2004 vol. 47, n. 1, pp. 133-158.
MIRANDA, Evaristo Eduardo. O corpo, território do sagrado.
São Paulo: Loyola. 2000.
OLIVEIRA, C. J. P. de. Fé, Esperança e Caridade. São Paulo:
Paulinas, 1998.
SATO, Leny e SOUZA, Marilene Proença Rebello de. Contribu-
indo para desvelar a complexidade do cotidiano através da
pesquisa etnográfica em psicologia. Psicol. USP, 2001,
vol.12, no. 2.
SPINK, Peter Kevin. Pesquisa de campo em psicologia social:
uma perspectiva pós-construcionista. Psicol. Soc. [online].
jul./dez. 2003, vol.15, no. 2. Acesso em: 06 de janeiro de
2006.
ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e
ciência. Campinas, São Paulo: Autores associados, 2001.
Entrevista de Roberto Oliveira concedida a SAMMAIN e MEN-
DONÇA. www.scielo.br/pdf/ra/v43n1/v43n1a05.pdf (Con-
sultado dia 29 de março de 2006).](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-130-320.jpg)

![cadernos da pós-graduação
132
bal”, partindo do pressuposto de que a
globalização é um processo “atuante numa
escala global, atravessa fronteiras nacionais,
integrando e conectando comunidades e or-
ganizações em novas combinações de espa-
ço-tempo, tornando o mundo, em realidade e
em experiência, mais interconectado.”2
Stuart
Hall afirma que “A maioria das nações consis-
te de culturas separadas que só foram
unificadas por um longo processo de conquis-
ta violenta [...] as nações são sempre com-
postas de diferentes classes sociais e diferen-
tes grupos étnicos e de gênero [...] sendo
‘unificadas’ apenas através do exercício de
diferentes formas de poder cultural [...] As na-
ções modernas são, todas, híbridos culturais.”3
Desse modo, dentro deste contexto
globalizado, acredita-se que na sociedade con-
temporânea os procedimentos de modificação
corporal como a tatuagem, os piercings e as
escarificações podem ser observados na gran-
de maioria das nações do mundo, não sendo
exclusividade de uma única cultura nacional.
Além do foco específico desta reflexão,
podemos ter outra discussão como pano de
fundo, algo que não se pretende explorar nem
se aprofundar no momento, mas apenas deixá-
la como uma questão, sem qualquer preocu-
pação de respondê-la. A partir dos exemplos
que se seguirão, como pensar as identidades
nacionais no período pós-moderno ou contem-
porâneo? Stuart Hall formula três hipóteses para
responder a esta questão: “primeiramente,
coloca como possibilidade que as identidades
nacionais estão se desintegrando, como re-
sultado do crescimento da homogeneização
cultural e do ‘pós-moderno global’. Em segun-
do lugar, que possivelmente as identidades
nacionais e outras identidades ‘locais’ ou
particularistas estão sendo reforçadas pela
resistência à globalização. E finalmente, que
as identidades nacionais estão em declínio,
mas novas identidades – híbridas – estão to-
mando seu lugar.”4
Acredita-se que no decor-
rer do texto, estas hipóteses serão relembradas
pelas discussões que faremos.
Corpo
Segundo Le Breton em seu livro “Adeus
ao Corpo”, o corpo não é mais apenas, em
nossas sociedades contemporâneas, a deter-
minação de uma identidade intangível, a
encarnação irredutível do sujeito, o ser-no-
mundo, “mas uma construção, uma instância
de conexão, um terminal, um objeto transitório
e manipulável suscetível de muitos empare-
lhamentos [...] onde o corpo é escaneado, pu-
rificado, gerado, remanejado, renaturado,
artificializado, recodificado geneticamente,
decomposto e reconstruído ou eliminado [...]
Sua fragmentação é conseqüência da frag-
mentação do sujeito [...] Nunca o corpo-simu-
lacro, o corpo-descartável foi tão exaltado como
na contemporaneidade [...] Boca, seios, olhos,
pernas, genitália esfacelada, moldada: não se
trata mais de um corpo, mas de um acumula-
do de órgãos colados em algo que se denomi-
na corpo.”5
Outros autores como Deleuze & Guat-
tari em um texto intitulado “Como criar para si
um corpo sem órgãos”, afirmam que “O corpo
é o corpo. Ele é sozinho. E não tem necessi-
dade de órgãos. O corpo nunca é um organis-
mo. Os organismos são inimigos do corpo. O
corpo sem órgãos não se opõem aos órgãos,
mas a essa organização dos órgãos chama-
da organismo.”6
Para compreender a concepção do
corpo nas sociedades indígenas brasileiras,
retiramos um trecho do artigo “A construção
da pessoa nas sociedades indígenas brasilei-
ras”, onde os autores afirmam que “Na maio-
ria das sociedades indígenas do Brasil, o cor-
po ocupa posição organizadora central. A fa-
bricação, decoração, transformação e destrui-](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-132-320.jpg)
![instituto de artes
133
ção dos corpos são temas em torno dos quais
giram as mitologias, a vida cerimonial e a or-
ganização social.”7
Além disso, Renate Brigitte Viertler tam-
bém mostra que “o mundo indígena apresenta
grande variedade de padrões estéticos e efei-
tos visuais do corpo humano criados por di-
versas técnicas: a mutilação, a pintura, a tatu-
agem, a ornamentação, a expressão facial, a
postura do corpo e os gestos.”8
Assim como para os índios brasileiros,
para a sociedade contemporânea “a anatomia
não é mais um destino, mas um acessório da
presença, uma matéria-prima a modelar, a
redefinir, a submeter ao design do momento
[...] O homem contemporâneo é convidado a
construir o corpo, conservar a forma, modelar
sua aparência, ocultar o envelhecimento ou a
fragilidade, manter sua saúde potencial.”9
De acordo com as afirmações acima,
talvez possamos sugerir que os procedimen-
tos de construção, fabricação e transforma-
ção dos corpos estão presentes tanto na rea-
lidade social indígena quanto na contemporâ-
nea. A questão que se coloca é como e por-
que estes procedimentos de construção cul-
turais são feitos em ambas as sociedades e
quais os seus significados em cada uma em
questão. Segundo Beatriz Ferreira Pires “O
maior número e a maior variedade de adornos
corporais e técnicas para modificar as formas,
as cores e os contornos do corpo tiveram ori-
gem nas tradicionais sociedades ‘pré-letradas’,
fonte de referência para os modern primiti-
ves.”10 Para Mark Dery o primitivismo moder-
no é: “uma categoria que recobre tudo, que
compreende os fãs do tecno-hard-core e da
dance-music industrial: os fetichistas da es-
cravidão; os artistas de performances; os
tecno-pagãos; finalmente os que gostam de
pendurar-se com ganchos subcutâneos e ou-
tras formas de mortificação ou de jogo corpo-
ral, que pretensamente produzem estados al-
terados [...] Todas pessoas não-tribais que re-
agem a uma urgência primal e que fazem al-
guma coisa com seu corpo”.11
“Estes indiví-
duos partilham da idéia de só se sentirem com-
pletos a partir do momento em que adquirem
suas respectivas marcas pessoais.”12
Modificações corporais
Antes de nos aprofundarmos no movi-
mento dos primitivos modernos, podemos di-
vidir os adeptos das modificações corporais
em três grupos. O primeiro foi formado por
pessoas que adquiriram marcas corporais
como um sinal de exclusão social, a exemplo
das antigas práticas recorrentes durante a
Segunda Guerra Mundial contra judeus nos
campos de concentração e nas prisões em
geral, descritos por Clastres no texto intitulado:
Da tortura nas sociedades primitivas: “Nas
colônias penais da Mordávia, a dureza da lei
encontra, como meio para enunciar-se, a mão,
o próprio corpo do culpado-vítima. O limite é
alcançado, o prisioneiro está inteiramente fora
da lei: quem o diz é o seu corpo escrito.”13
Por
muito tempo, a tatuagem foi associada a indi-
víduos sempre à margem da vida social, des-
de piratas saqueadores até prisioneiros e só
mais recentemente ela saiu da clandestinida-
de e perdeu seu caráter de exclusão. O se-
gundo seria como um sinal de inclusão aos
modismos e padrões estéticos atuais dos jo-
vens na sociedade contemporânea e a ade-
são a uma comunidade urbana particular, as
chamadas “tribos urbanas”. E finalmente o úl-
timo, no qual podemos incluir os primitivos
modernos, sendo composto por pessoas que
procuram através dos procedimentos de mo-
dificação do seu corpo adquirir marcas que
funcionam como um sinal de diferenciação,
individualidade e memória.
Para os primitivos modernos, as tatua-
gens, piercings e escarificações funcionam](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-133-320.jpg)

![instituto de artes
135
uma finalidade, a madeira Wamari serve para
sonhar, outra madeira tem a função de afugen-
tar as serpentes, outra serve ainda para pre-
venir doenças e assim por diante. Segundo
Anthony Seeger, para os Suyá e a maioria das
sociedades tribais “a ornamentação de um
órgão pode estar relacionada com o significa-
do simbólico desse órgão numa sociedade. O
ornamento das orelhas e da boca pode perfei-
tamente indicar a importância simbólica da
audição e da fala na medida em que essas
faculdades são definidas por uma sociedade
específica. Os ornamentos físicos devem ser
tratados como símbolos com uma variedade
de referentes. Devem ser examinados como
um sistema...”19
Já as escarificações podem estar rela-
cionadas com preparações para lutas corpo-
rais até métodos terapêuticos de medicina tra-
dicional. Durante o ciclo ritual do Kuarup, rea-
lizado pelas diversas etnias do Parque Indíge-
na do Xingu, após o período de reclusão e du-
rante a preparação para as lutas corporais do
huka-huka, os jovens lutadores e futuros guer-
reiros devem ter sua pele arranhada ou raspa-
da com dentes de piranha por seu pai ou avô,
como uma forma de adquirir bravura para as
disputas. Os Xavantes acreditam que as do-
enças têm geralmente duas origens: físicas ou
espirituais. No primeiro caso, considerado
como “sujeira do sangue”, a solução seria
amarrar a região dolorida ou inchada de modo
a prender o sangue neste local como num tor-
niquete. Em seguida fazer pequenos cortes
superficiais sobre a pele, dispostos paralela-
mente, usando um pequeno pedaço de bam-
bu preparado de modo a servir como uma faca
ou bisturi. Em alguns casos, além da sangria,
ainda são passadas infusões ou cinzas de
determinadas plantas medicinais na região
escarificada, não só limpando o sangue, mas
também para absorver as propriedades cura-
tivas de cada planta.
Global e tribal
Henri-Pierre Jeudy, ao discutir as com-
parações feitas por etnólogos entre as pintu-
ras corporais dos Papuas da Nova Guiné e as
práticas ocidentais da maquiagem, coloca ou-
tro ponto de vista quanto à questão da pintura
corporal como elemento de inclusão ou dife-
renciação social. “Não se sabe porque as pin-
turas corporais responderiam a uma função
coletiva nas sociedades primitivas e a uma
função de individualização nas sociedades
ocidentais. Ao contrário, a complexidade da
pintura sobre a pele liga-se ao fato de que ela
traduz simultaneamente uma expressão cole-
tiva e individual [...] como se a própria pele fos-
se lugar da manifestação coletiva daquilo que
é justamente pessoal. Pinturas corporais e
maquiagens são, cada uma à sua maneira,
provas públicas de uma socialização da pele
como texto oferecido à visão coletiva.”20
Já Le
Breton tem outro ponto de vista sobre a ques-
tão, dizendo que diferentemente da maquia-
gem, efêmera, feminina e destinada ao rosto,
a tatuagem é definitiva, é feita em homens e
mulheres e atinge essencialmente o conjunto
do corpo (ombro, braço, peito, costas, etc.),
mas raramente o rosto.21
No ritual de iniciação dos jovens Xa-
vantes, realizado em 2005, em um dia especí-
fico chamado Wanoridobe, os iniciandos tive-
ram seu corpo pintado e padronizado de acor-
do com linguagens visuais preestabe-lecidas
socialmente para a sua classe de idade, en-
quanto que seus padrinhos (iniciados aproxi-
madamente 14 anos atrás) e conhecedores
do vocabulário iconográfico presente nos de-
senhos geométricos e grafismos da pintura,
tiveram liberdade de expressar sua criatividade
e individualidade através de vários tipos de pin-
tura, embora sempre utilizando esse vocabu-
lário. Uma dinâmica entre repetição e variação,
coletividade e individualidade.](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-135-320.jpg)

































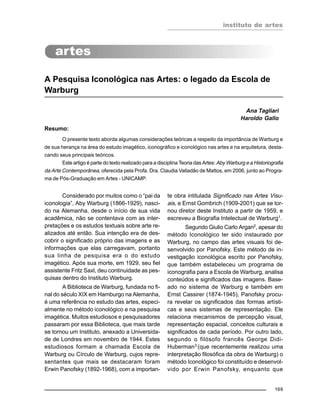




























































![cadernos da pós-graduação
230
tes. Esses lugares monstruosos são involuta-
riamente belos, posto que mágicos – uma re-
miniscência, sem dúvida, das experiências
surrealistas. É claro que esta oposição entre
beleza premeditada e involuntária deve ser ate-
nuada: a beleza involuntária, de uma cidade,
por exemplo, não é estranha a intenções. Esta
beleza é mediatizada pelo cinema, pela foto-
grafia, pela literatura. É uma beleza produzida
por palavras e imagens, que artializando nos-
sas estruturas perceptivas, mitologizam a ci-
dade e produzem a sua magia15
.
14. Tudo isto que aqui vem sendo dito
talvez possa ser equivocadamente entendido,
segundo a advertência de Rancière, como “a
nostalgia de uma arte instauradora de uma co-
presença entre homens e coisas e dos ho-
mens entre si”, num tempo em que não mais
se pode radicalmente opor “a pureza das for-
mas ao comércio das imagens”16. Mas, ao se
recusar as promessas redentoras da arte e
do pensamento, enfim da representação, tal-
vez se possa fazer uma aposta: a de não nos
rendermos à tentação de colmatar o vazio. In-
ventar, pensar, fazer arte talvez signifiquem,
cada vez mais, que temos que trabalhar nos
interstícios do vazio, nas falhas e nas brechas.
Na linguagem, no pensamento e na arte trata-
se, talvez, de assumir as coisas em sua sin-
gularidade, que, freqüentemente, está na
literalidade, antes da interpretação. Trata-se de
descobrir, como na música, uma dicção, um
timbre, uma tonalidade. Talvez seja esta a sin-
gularidade das relações da arte com a políti-
ca*
.
*Uma versão preliminar deste texto foi apresentada no coló-
quio “A dimensão estética imanente à política”, no seminário
“São Paulo S.A.- práticas estéticas, sociais e políticas em de-
bate”, promovido por EXO experimental org. e SESC, São
Paulo, 17/04/2005.
Celso Favaretto – Mestre e Doutor em Filosofia, com con-
centração na área de Estética. Professor da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo - USP. Tem vários
livros publicados entre eles Tropicália. Alegoria, Alegria
(Kairós, 1979 e Ateliê Editorial, 1996) e A invenção de Hélio
Oiticica (Edusp, 1992), além de diversos ensaios e artigos em
livros coletivos, jornais e revistas.
Notas
1. RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. São Paulo: EXO
experimental org.; Ed. 34, p. 11, 2005.
2. Idem.
3. ARDENNE, Paul. Un art contextuel. Paris: Flammarion, p.
203, 2004.
4. DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Ed. 34, p. 119,
1992.
5. RANCIÈRE, op. cit., p. 61
6. Idem, p. 60.
7. Ibidem, p. 67.
8. Cf. nosso texto, “Arte do tempo: o evento”. In: Sexta feira,
nº 5 [tempo]. São Paulo: Hedra, p. 110 e ss, 2000.
9. BRITO, Ronaldo. “Pós, pré, quase ou anti?”. Folha de São
Paulo, p. 5. Folhetim, nº 350, p. 5, 2/10/1983.
10. LYOTARD, J-F. Moralidades pós-modernas. Campinas: SP,
Papirus, p. 27 e ss.
11. RENAUD, Alain. “Nouvelles images, nouvelle culture: vers
un “imaginaire numérique” (ou “Il faut imaginer un Démiurge
heureux”). In: Cahiers Internationaux de Sociologie, v.
LXXXII. Paris: PUF, 1987.
12. FABRIS, Annateresa. “Redefinindo o conceito de imagem”.
Revista Brasileira de História [Dossiê: arte e linguagens],
nº 35, v. 18. São Paulo: ANPUH/ Humanitas, p. 221, 1998.
13. RENAUD, op. cit., p. 126.
14. GALARD, Jean. ”Repéres pour l’élargissement de
l’expérience esthétique”. In: Diogène, nº 119. Paris, 1982.
15. GALARD, Jean. “Beauté involuntaire et beauté prémédité”.
In: Temps Libre nº 12. Paris, p. 112, 1984.
16. RANCIÈRE, Jacques. “O destino das imagens”. In: Folha de
S.Paulo, Mais!, p. 16, 28/01/2001.](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-230-320.jpg)
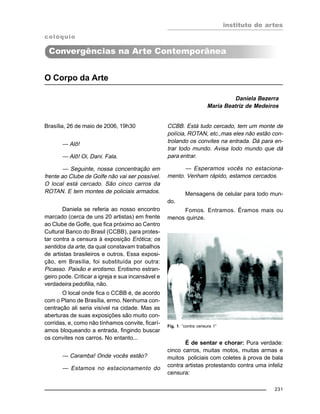


![cadernos da pós-graduação
234
dros, pessoal especializado em arte? Qual é a
política cultural do governo Lula? Qual a posi-
ção, de fato, do MINC, frente a toda essa realida-
de?
Lembremos, um novo museu foi construído em
Brasília. Projetos curatoriais e políticas públicas
para seu real funcionamento são amplamente
ignorados pela comunidade das artes.”
A alegação da presença de tantos poli-
ciais veio com a justificativa de que o Banco
temia que os artistas participantes do protesto
deteriorassem as obras de Picasso ali expos-
tas.
Será que a polícia sabe a diferença en-
tre arte, artistas, estudantes e PCC?
Cabe lembrar que a exposição Picasso.
paixão e erotismo trazia o pior Picasso que já
vi na minha vida e muito pouco erotismo.
Ainda sobre a exposição censurada,
assim explica Tadeu Chiarelli, professor da
ECA-USP, historiador e crítico de arte:
“Como a palavra ‘erotica’ na língua portuguesa é
empregada exclusivamente como adjetivo, para
dar título à exposição foi escolhida a palavra in-
glesa ‘erotica’, que também é utilizada como
substantivo. [...] Trata-se de uma Erótica na
medida em que a exposição foi pensada como
uma antologia de obras eróticas. A mostra se
vale tanto de peças arqueológicas como de obras
de arte de autores contemporâneos, modernos e
tradicionais, nacionais e internacionais, para con-
figurar uma reflexão sobre a arte e os meandros
que percorre para interpretar o impulso sexual.
[...] Respeitada a individualidade de cada peça
exibida, elas estão reunidas formando núcleos
que problematizam e potencializam noções
estabelecidas não apenas sobre sexo e erotis-
mo na arte, mas também sobre história, antro-
pologia e psicanálise.” 2
Em que país será que vivemos? De que
adianta pensar e fazer arte neste país? De que
as ‘autoridades’ e sua colega elite branca
têm medo? De tudo. Quando não se está
seguro dos passos dados, porque não há
rumo nem terreno traçado, a tudo se teme.
Esperamos sinceramente que o Corpo da
Arte possa levá-los ao paraíso para sem-
pre perdido.
Conclusão:
1- nossos projetos nunca mais serão
escolhidos para serem realizados no CCBB.
2- Márcia X e Desenhando com terços
entraram definitivamente para a história da arte
no Brasil. Ao que ficamos muito gratos.
“O artista plástico Ricardo Ventura, viúvo de Már-
cia X, acha que a decisão do BB dará uma proje-
ção que a obra talvez não tivesse se a exposição
em Brasília fosse mantida: Se o Banco do Brasil
queria evitar que a obra fosse divulgada, o tiro
saiu pela culatra. Já tem site na China comen-
tando a censura ao trabalho.” 3
Maria Beatriz de Medeiros - É artista plástica, professora
Doutora da Universidade de Brasília - UnB. Pesquisadora do
CNPq. Representante Adjunta para a área de Artes na CAPES.
Coordenadora do Grupo Corpos Informáticos. Participa do grupo
de Intervenções Urbanas de Brasília. www.corpos.org.
Daniela Bezerra - É Artista Visual /Plástica, residente em
Brasília. Diversas exposições individuais e coletivas. Seu tra-
balho faz parte do acervo do Mozarthaus Museum em Salzburg-
Áustria. Trabalha junto a diferentes grupos no Distrito Federal,
tais como 0.17, grupo de Intervenções Urbanas de Brasília,
Encontro de artistas Coração. Representante de Brasília nas
Câmaras setoriais de artes visuais, suplente da Câmara Fede-
ral.
Notas
1. CARVALHO, Mário César. BB cancela a exposição Erótica
em Brasília. Folha de São Paulo. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/folha/cotiano/ult95u121045.shtml.
Acesso em fevereiro de 2007.
2. http://www.noitesapaulo.com.br/ccbb/index.htm
3. CARVALHO, op. cit.
Imagens
Contra censura 1, 2, 3, 4 in mbm1 escritos mbm1.](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-234-320.jpg)
































![instituto de artes
267
conectam à vizinha, que recebe os letreiros
“ANTEONTEM - TER SIDO”. O trem é um ve-
ículo extraordinariamente hierarquizado, artifí-
cio mecânico, primogênito do cinema. Sua
imagem ficou no século XX definitivamente vin-
cada pelo transporte de milhares de prisionei-
ros aos campos de extermínio construídos
pelos alemães em seu país e na Polônia.
Há um embate entre o piso de linóleo
castanho claro do museu, neutro, distinto, e
cada intervenção, rude, fios à mostra, materi-
al empilhado, plantas ainda com a etiqueta do
fornecedor, leito desfeito, andaime tombado,
cerca de madeira, páginas de livro fotocopia-
das e riscadas por marcador, a parafernália
da produção cinematográfica provisória, uma
constante agressão contra a instituição que
acolhe o filho pródigo. A instalação se conver-
te em happening, numa insurreição, insubor-
dinação, insubmissão, distante de Joseph
Beuys, próxima de Allan Kaprow.
Godard está habituado a lidar com a
indústria do cinema a contrapelo, a lutar den-
tro das corporações contra a sociedade co-
mandada pelos fluxos do capital, a empregar
os canais de comunicação à revelia, suas in-
tervenções na TV aberta sempre se transfor-
mam em operações de guerrilha cultural.
Ainda na sala pequenos monitores
reconstituem os tropos do discurso cinemato-
gráfico godardiano que deveriam alimentar as
nove salas do projeto original: devaneio (=o
real), parábola (=os canalhas), inconsciente/
aliança (=totem, tabu), lição (ões) [(=o(s)
filme(s)], metáfora (=câmera), imagem (=hu-
manidade) e alegoria(=mito), fábula (=o mau-
soléu) e montagem (=sésamo, teorema).
Na floresta das palmeiras, dois televi-
sores emitem A grande testemunha de Robert
Bresson e um filme de Sacha Guitry (Não há
etiquetas na exposição que indiquem de que
filme se trata). Um trecho do chão é revestido
por tacos pretos, à maneira de uma casa em
vias de se decorar.
Na sala ANTEONTEM - TER SIDO está
escrito o verso de José Lezama Lima La luz
Figs. 3 e 4: Sala ANTEONTEM - TER SIDO
Fig. 5: Sala ANTEONTEM - TER SIDO](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-267-320.jpg)
















![cadernos da pós-graduação
284
mento crítico – “a própria palavra escrita abs-
trai propriedades do fluxo da experiência e as
fixa em forma espacial”.12
Nesse sentido, pode
ser experimentado um caminho de desenvol-
vimento das relações entre discurso e obra de
arte através da investigação das possibilida-
des dos arranjos espaciais e plásticos –
topológicos – envolvidos na operação.13
Somos conduzidos, então, para mais
um diagnóstico de crise da crítica, que parte
da necessidade de uma “mudança topológica”
para que se possa experimentar outra modali-
dade de construção argumentativa frente às
coisas – trata-se das pesquisas desenvolvi-
das a partir dos anos 1990 por Bruno Latour
(entre outros), que sugere que “ao invés de
pensar em termos de superfícies – duas di-
mensões – ou esferas – três dimensões – o
que se propõe é que se pense em termos de
nós, que possuem tantas dimensões quanto
suas conexões”.14 Tal caminho tem sido inves-
tigado por Latour a partir de sua constatação
de que, de fato, se queremos continuar desen-
volvendo alguma potência ligada ao pensamen-
to, será necessário questionar as premissas
do que foi chamado de “modernidade”: sua
afirmação, transformada em pergunta, preten-
de localizar o trabalho investigativo no quadro
das problematizações contemporâneas: “ja-
mais fomos modernos”15
, escreve. Para o au-
tor, a atual crise do pensamento se deve a di-
versos impasses decorrentes das promessas
modernas, nunca enfim atingidas em sua ple-
nitude – a “passagem do tempo”, por exem-
plo, que caracteriza o “novo regime” da
modernidade através de “uma aceleração,
uma ruptura, uma revolução no tempo”, não
permite mais, hoje, que se “mantenha essa
dupla assimetria: não podemos mais assina-
lar a flecha irreversível do tempo nem atribuir
um prêmio aos vencedores (...) nada mais nos
permite dizer se as revoluções dão cabo dos
antigos regimes ou os aperfeiçoam”. O cami-
nho que indica inclui “retomar a definição de
modernidade, interpretar o sintoma da pós-
modernidade, e compreender porque não nos
dedicamos mais por inteiro à dupla tarefa da
dominação e da emancipação”. De fato, a hi-
pótese de trabalho de Latour não implica em
simples e sumária rejeição da modernidade,
mas na compreensão de recente transforma-
ção em seus pressupostos – cujo desdobra-
mento produtivo efetivamente implicará, como
veremos, em significativa reformulação das
condições de organização do pensamento:
“(...) a palavra moderno designa dois conjuntos
de práticas totalmente diferentes que, para per-
manecerem eficazes, devem permanecer distin-
tas, mas (...) recentemente deixaram de sê-lo.
O primeiro conjunto de práticas cria, por ‘tradu-
ção’, misturas entre gêneros de seres completa-
mente novos, híbridos de natureza e cultura. O
segundo cria, por ‘purificação’, duas zonas
ontológicas completamente distintas, a dos hu-
manos, de um lado, e a dos não-humanos, de
outro. Sem o primeiro conjunto, as práticas de
purificação seriam vazias ou supérfluas. Sem o
segundo, o trabalho de tradução seria freado, li-
mitado ou mesmo interditado. O primeiro con-
junto corresponde àquilo que chamei de redes, o
segundo ao que chamei de crítica.”
O problema da modernidade residiria,
principalmente, em uma busca crítica que iso-
la uns dos outros “epistemólogos, sociólogos
e desconstrutivistas”, cada qual “alimentando
suas críticas com as fraquezas das outras
duas abordagens”, sendo que “cada uma (...)
[das] formas de crítica é potente em si mes-
ma, mas não pode ser combinada com as
outras”: entretanto, a crescente percepção de
que é necessário interconectar “natureza”, “po-
lítica” e “discurso” em busca de “uma nova for-
ma que se conecta ao mesmo tempo às coi-
sas e ao contexto social, sem contudo redu-
zir-se nem a uma coisa nem a outra” aponta,
para Latour e seus colegas, para o fato de que
“a própria crítica deve entrar em crise por cau-](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-284-320.jpg)
![instituto de artes
285
sa destas redes contra as quais se debate”.
Ou seja, ainda que reconhecendo a importân-
cia da “tripartição crítica” e sua construção
“purificada” dos “conceitos”, do “social” ou da
“retórica”, é preciso se perceber que a única
forma de compreendermos nossos próprios
impasses (e Latour indica aqui a necessidade
de realizar uma etnografia sobre nós mesmos,
“fazer uma antropologia do mundo moderno”)
se dará através da busca de “continuidade”
entre as diversas análises. Atravessando “as
fronteiras entre os grandes feudos da crítica”
– e sem ser “nem objetivas, nem sociais, nem
efeitos de discurso” –, “as redes são ao mes-
mo tempo reais como a natureza, narradas
como o discurso, coletivas como a socieda-
de”. O ponto-chave residiria, então, em traba-
lhar de maneira dupla, considerando a neces-
sidade de articular a produção de objetos –
através da purificação – com a construção de
redes – por meio de mediações produtoras de
“híbridos”:
“enquanto considerarmos separadamente estas
práticas, seremos realmente modernos, ou seja,
estaremos aderindo sinceramente ao projeto da
purificação crítica, ainda que este se desenvolva
somente através da proliferação de híbridos. A
partir do momento em que desviamos nossa aten-
ção simultaneamente para o trabalho de purifica-
ção e o de hibridação, deixamos instantaneamen-
te de ser modernos, nosso futuro comeca a mu-
dar. (...) Qual o laço existente entre o trabalho de
tradução ou de mediação e o de purificação?”
Bruno Latour considera que a tarefa de
se pensar duplamente, nos termos de “traba-
lho de mediação (...) e de purificação” nos in-
dicaria o processo de uma verdadeira “contra-
revolução copernicana”, em que ocorre uma
“inversão da inversão”, onde os “extremos”
(pólos intermediários/natureza e purificação/
sujeito-sociedade) “deslizam rumo ao centro
e para baixo, [fazendo] girar tanto o objeto quan-
to o sujeito em torno da prática dos quase-ob-
jetos e dos mediadores”: “a natureza gira, de
fato, mas não ao redor do sujeito-sociedade.
Ela gira em torno do coletivo produtor de coi-
sas e de homens. O sujeito gira, de fato, mas
não em torno da natureza. Ele é obtido a partir
do coletivo produtor de homens e coisas.” Tra-
ta-se de pensamento cuja complexidade es-
capa aos limites deste ensaio; entretanto, está
aí delineado um caminho onde os limites e
impasses de um formato de operação crítica,
voltado para o pólo purificador-disciplinar, são
contrapostos à possibilidade de reorganização
dessa modalidade de discurso.
Lembrando que o termo réseau origi-
na-se com Diderot – que o utilizou para des-
crever “matérias e corpos de modo a evitar a
divisão cartesiana entre matéria e espírito”16
–
Latour retoma a “mudança de topologia” trazida
pelo pensamento em rede, ao apontar que, “ao
invés de superfícies, tem-se filamentos (ou
rizomas)”17
; ao invés de “espaço social ou
‘real’, simplesmente associações”. É próprio
da noção de rede o desenvolvimento de uma
potência que não parte de “concentração, pu-
reza ou unidade”, mas da sensação de que
“resistência, obstinação e firmeza são mais
facilmente obtidos através de enredamento,
entrelaçamento, costura e trama de amarras
que são fracas em si mesmas”, sendo que
“não importa quão forte for a ligação, ela terá
sido tecida de fios ainda mais frágeis”. O fato
de partirem de “localidades irredutíveis, inco-
mensuráveis e desconectadas, que então, a
grande custo, conduzem a conexões provisó-
rias e comensuráveis” indica que, no caso das
redes, a “Universalidade ou ordem não são a
regra, mas as exceções”. Para Latour, está em
jogo aqui uma “reversão figura/fundo”: ao in-
vés de se trabalhar com objetos isolados, em
sua autonomia e contornos claramente defini-
dos,18
tem-se um campo de relações preen-
chido por incontáveis tramas. “Literalmente,
não há nada a não ser redes, não há nada en-](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-285-320.jpg)
![cadernos da pós-graduação
286
tre elas, (...) não há ‘éter’ no qual poderiam
estar imersas” – este seria o primeiro passo
em direção a uma “ontologia não-reducionista
e relacional”.19
Somos conduzidos assim a
percorrer um caminho argumentativo que, pro-
curando reagir à crise da crítica, busca desen-
volver um olhar diverso sobre as coisas: é im-
portante perceber que tal desdobramento de-
marca uma clara consciência de organização
espacial – ou seja, há uma elaboração
argumentativa que aposta ao mesmo tempo
em um modo de entrelaçamento entre campo
discursivo e objeto. Qualquer procedimento de
uma operação crítica, nesse caso, irá apontar
para as estratégias conceituais e
argumentativas de um funcionamento em
rede, ao mesmo tempo em que compreende
que a caracterização topológica do conjunto
discursivo a ser elaborado também trabalha,
simultaneamente, na construção material e
concreta de um tecido onde texto e obra de
arte estabelecem conexões, ligações reais e
efetivas.
Somando-se às preocupações de Bru-
no Latour, o pesquisador inglês John Law20 sin-
tetiza mais algumas características deste pro-
cedimento problematizador, desenhado a
partir das características dinâmicas próprias
das redes: trata-se de um modelo de pensa-
mento decorrente da junção de “materialidade
relacional” e “performatividade” – enquanto que
o primeiro aspecto decorre de uma “semiótica
da materialidade”, onde a noção de que “as
entidades são produzidas em relações” é “apli-
cada a todos os materiais, e não simplesmen-
te àqueles não lingüísticos”, o segundo indica
que, uma vez que “as entidades atingem sua
forma como conseqüência das relações em
que se localizam”, elas então são
“performatizadas nas relações, assim como
por meio e através delas”. A partir daí, fica
apontada a condição de se “pensar
topologicamente”, já que “a topologia se ocu-
pa da espacialidade, em particular com os atri-
butos que asseguram a continuidade de obje-
tos enquanto são deslocados através do es-
paço”: o “ponto importante é que a
espacialidade não é dada [nem] fixa, não é
parte da ordem das coisas” – logo, “a noção
de ‘rede’ é em si mesma um sistema
topológico alternativo”, já que “em uma rede,
os elementos retém sua integridade espacial
em virtude de suas posições em um conjunto
de ligações ou relações”. Ao confrontar-se com
noções do senso-comum relativas à apreen-
são do espaço, este pensamento em rede efe-
tivamente atua como “uma máquina para de-
clarar guerra ao Euclidianismo”, contribuindo
para sua “desestabilização”, uma vez que
“mostra que o que aparenta ser topografica-
mente natural, dado pela ordem do mundo, é
na verdade produzido em redes”.
Neste momento, é necessário que se
inicie um deslocamento que traga novamente
a crítica de arte para nosso campo de discus-
são: ao apontar as características de um pen-
samento em rede, indicando sua própria
estruturação topológica como ferramenta de
enfrentamento dos impasses da modernidade,
o que nos interessaria seria indicar de que
maneira o campo do debate crítico da arte con-
temporânea poderia avançar em sentido pro-
dutivo, isto é, verificar se de alguma maneira
se abrem algumas possibilidades de associa-
ção entre texto e obra de arte frente à cons-
tante presença de uma crise. Imediatamente
se destacam quatro comentários ou percur-
sos possíveis, trazidos aqui em forma de rápi-
das anotações – cada qual mereceria uma
articulação mais detalhada, assim como uma
investigação que se aproximasse da obra de
certos artistas, de modo a experimentar con-
cretamente processos de intervenção crítica.
1. O que me parece mais impactante nas teo-
rias que se propõem a trabalhar um pensa-
mento em rede21
é a utilização forte e franca](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-286-320.jpg)

![cadernos da pós-graduação
288
Ricardo Basbaum - É artista plástico e professor do Instituto
de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ.
Possui textos publicados em catálogos de exposições e em
diversas revistas especializadas, no Brasil e no exterior, entre
as quais se incluem Verve, Galeria, Guia das Artes, Gávea,
Arte & Ensaio, Trans, Lapiz, Atlantica, Poliester, Blast, Revis-
ta da USP, Porto Arte, O Carioca, Confidências para o exílio,
Número e Concinnitas. Colaborador dos livros The next docu-
menta should be curated by an artist (Nova York, Revolver,
2004), e Interaction: artistic practice in the network (Nova
York, Eyebeam Atelier e D. A. P., 2001), entre outros. Organi-
zou a coletânea Arte Contemporânea Brasileira – texturas,
dicções, ficções, estratégias (Contra Capa, 2001). Autor dos
livros de artista de G. x eu (1997) e NBPx eu-você (2000).
Notas
1. ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna, São Paulo, Cia. das
Letras, 1992. Um dos mais conhecidos diagnósticos é aque-
le relatado em diversos de seus escritos, entre os quais o
célebre último capítulo denominado: “A crise da arte como
ciência européia”.
2. DELEUZE, Guilles. Conversações. São Paulo: Editora 34,
1992. É nesse sentido o autor procura apontar indicações
de construção de um pensamento fluido de “resistência”.
Cf. “Post-scriptum sobre as sociedades de controle”.
3. HARVEY, David. “Do fordismo à acumulação flexível”. In:
Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
O autor aponta para a “passagem para um regime de acu-
mulação inteiramente novo, associado com um sistema de
regulamentação política e social bem distinta. (...) A acumu-
lação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um con-
fronto direto com a rigidez do fordismo”.
4. A expressão é de DELEUZE, op. cit.
5. CALABRESE, Omar, “A linguagem da crítica de arte”. In:
Como se lê uma obra de arte. Lisboa: Edições 70, s/d.
6. Uma rápida observação: Lucy Lippard e Frederico Morais,
entre outros, são alguns exemplos de críticos de arte que
procuraram experimentar o exercício da crítica a partir de
mediações não-discursivas. Trata-se, certamente no caso
do brasileiro, de produções pouco estudadas – F. Morais,
nos anos 1970, chegou a estabelecer diálogos com artistas
a partir da realização de exposições, além de dedicar-se à
elaboração de obras audiovisuais com a utilização de diapo-
sitivos.
7. KRAUSS, Rosalind . “A escultura no campo ampliado”. Gávea,
Rio de Janeiro, nº 1, s/d.
8. CALABRESE, op. cit., p. 18.
9. DELEUZE, Gilles. “Note pour l’édition italienne de Logique du
sens“. In: Deux regimes de fous - textes et etentretiens
1975 - 1995. Paris: Les Éditions de Minuit, 2003. As demais
citações que se seguem provém da mesma fonte.
10. DELEUZE, op. cit. Continuando a pesquisar nesta direção,
o autor relata que, a partir de seu encontro com Félix Guattari,
se dá a produção de O Anti-Édipo: neste livro, “não há mais
altura, nem profundidade, nem superfície. Ali tudo chega, as
intensidades, as multiplicidades, os acontecimentos, tudo
se faz sobre uma espécie de corpo esférico ou moldura
cilíndrica– corpo sem órgãos”.
11. JAMESON, Frederic. “The Cultural Logic of Late Capitalism.
Apud HARVEY, op. cit.
12. HARVEY, David, op. cit. Vale lembrar a formação de
Geógrafo do autor inglês.
13. BASBAUM, Ricardo. “Convergências e superposições
entre texto e obra de arte”. Dissertação de Mestrado. Orien-
tação de Rogério Luz, ECO-UFRJ, 1996. Desenvolvi uma
primeira aproximação do problema em minha dissertação de
mestrado, através de referências à antropologia e filosofia,
seguindo sobretudo os trabalhos de Foucault e Deleuze-
Guattari.
14. LATOUR, Bruno. “The trouble with Actor-Network Theory”,
disponível em <http://www.ensmp.fr/~latour/poparticles/
poparticle/p067.html>.
15. LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro:
Editora 34, 1994. “Eu seria então, literalmente, um pós-mo-
derno? O pós-modernismo é um sintoma e não uma nova
solução. Vive sob a Constituição moderna mas não acredita
mais na garantias que esta oferece. Sente que há algo de
errado com a crítica sem no entanto acreditar nos seus
fundamentos”. p.50. As citações que se seguem, salvo quan-
do indicado, têm este livro como referência.
16. LATOUR, Bruno. “The trouble with Actor-Network Theory”,
1994, op.cit. As citações que se seguem têm como referên-
cia este mesmo texto.
17. Latour menciona o trabalho de Gilles Deleuze e Félix
Guattari: “Introdução: rizoma”, in Mil Platôs. Rio de Janeiro:
Editora 34, Vol. 1, 1995. Em outro texto, Bruno Latour co-
menta acerca de como a noção de rede se tornou banaliza-
da na última década: “Este é o grande perigo de se utilizar
uma metáfora técnica antes de seu uso comum, por todos.
Agora que a World Wide Web existe, todos acreditam que
sabem o que é uma rede. Enquanto que há vinte anos atrás
havia ainda algum frescor no termo, como ferramenta crítica
contra noções tão diversas como instituição, sociedade,
estado-nação e, em geral, qualquer superfície plana, agora
perdeu seu radicalismo e tornou-se a noção favorita de
todos aqueles que querem modernizar a modernização. ‘Abai-
xo as instituições rígidas’, dizem, ‘vida longa às redes flexí-
veis’. (...) Naquele momento, a palavra rede, como o termo
rizoma, de Deleuze e Guattari, claramente significava uma
série de transformações – traduções, transduções – que
não poderiam ser capturadas por qualquer dos termos tradi-
cionais da teoria social. Com sua nova popularização, agora
a palavra rede siginifica transporte sem deformação, um
acesso instantâneo, imediato, a toda peça de informação.
Isso é exatamente o oposto do que queríamos dizer. Gosta-
ria de chamar de ‘informação de duplo-clique’ [double click
information] aquilo que assassinou a última porção de radi-](https://image.slidesharecdn.com/caderno1-140330163723-phpapp01/85/Caderno-1-288-320.jpg)









