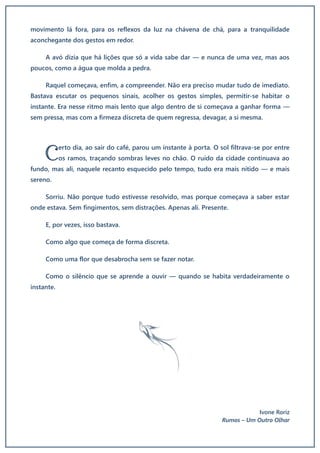Deixara o portátil fechado e o telemóvel em silêncio, como se, numa atitude de respeito, tivesse pedido licença à vida para estar ali, simplesmente.
Vinha de dias — talvez de anos — repletos de urgências.
Naquela manhã, sem saber porquê, dera por si a caminhar sem destino. Não tinha
reunião marcada, nem objetivo traçado. Apenas um cansaço diferente, mais fundo. Um
vazio que não se preenchia com interações apressadas nas redes sociais. Entrara naquele
café antigo como quem procura abrigo num tempo já quase esquecido.