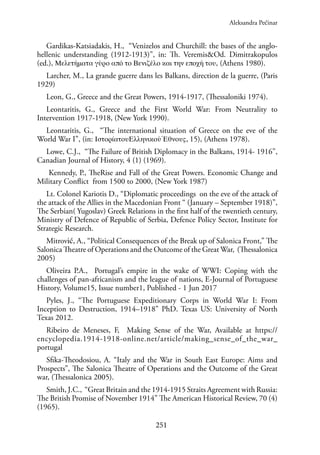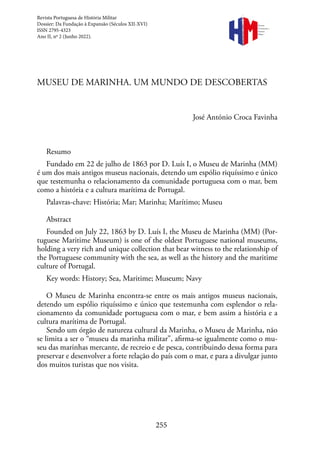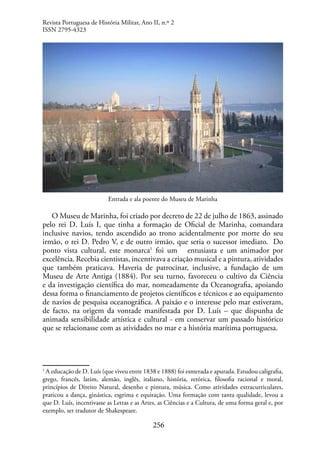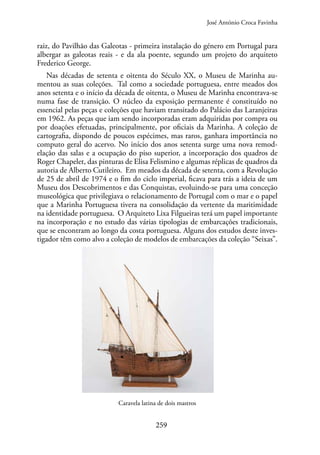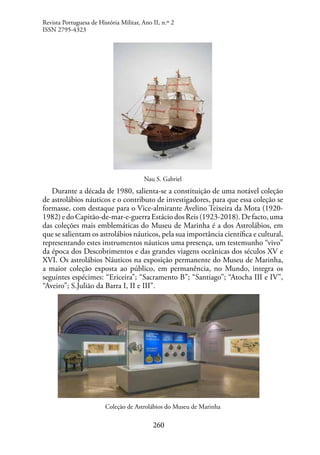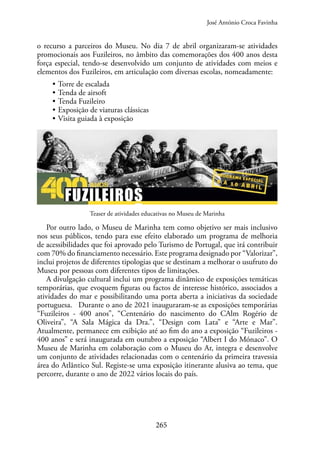Este artigo analisa as linhas de força do conceito estratégico nacional português desde a fundação até a expansão nos séculos XII a XVI, identificando como a estratégia evoluiu com os objetivos nacionais. A estratégia diplomática e militar foram os principais vetores, sendo esta última mais relevante na formação e consolidação do país e durante parte da expansão.










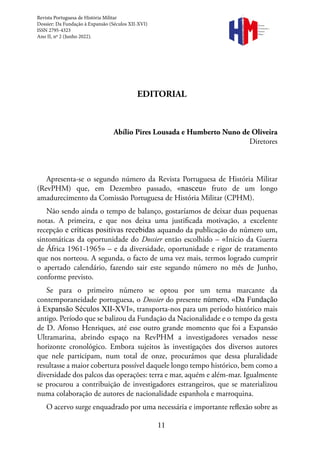
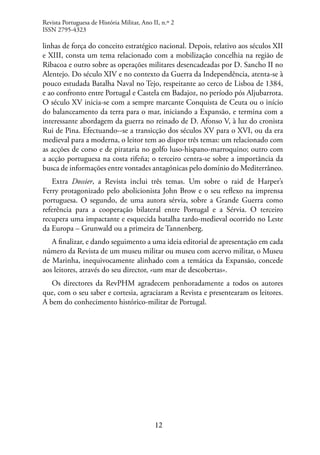


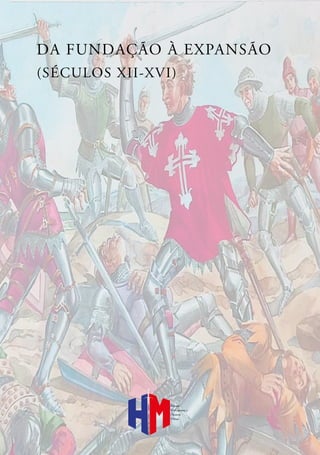

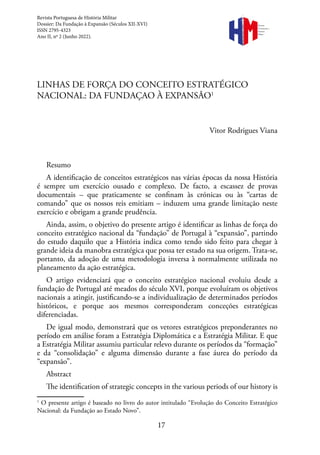


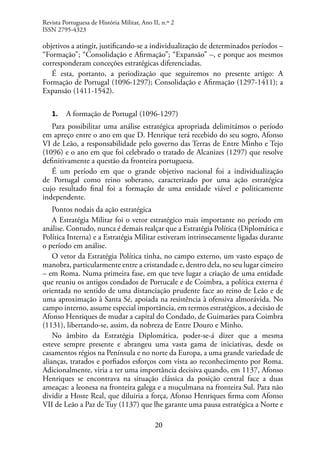

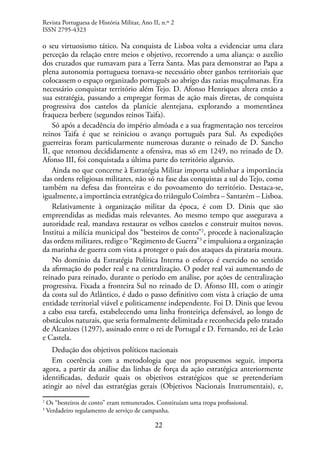


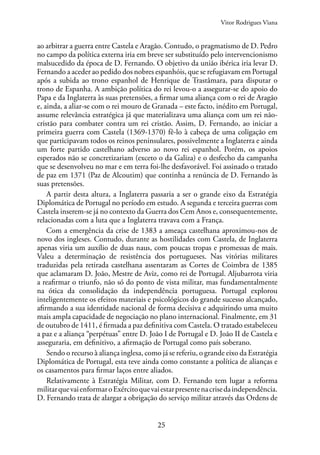

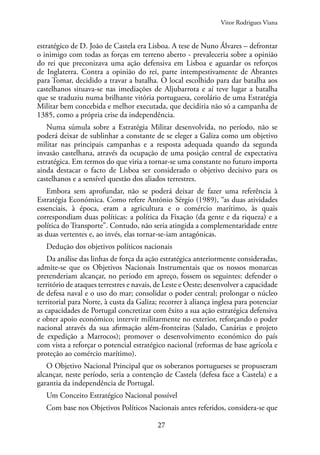








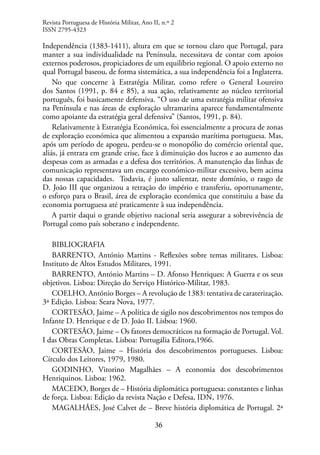



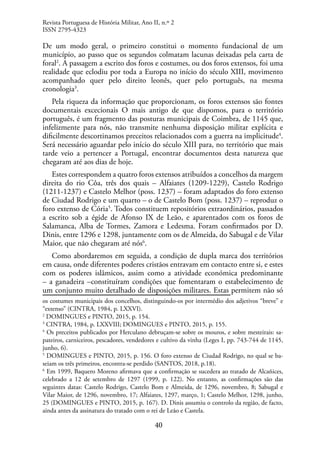






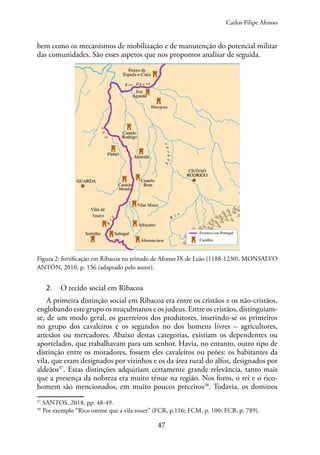



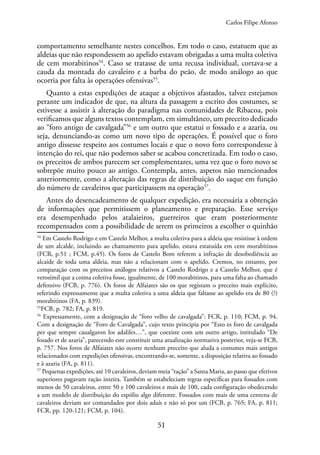


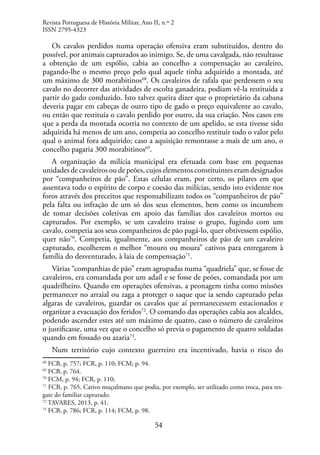



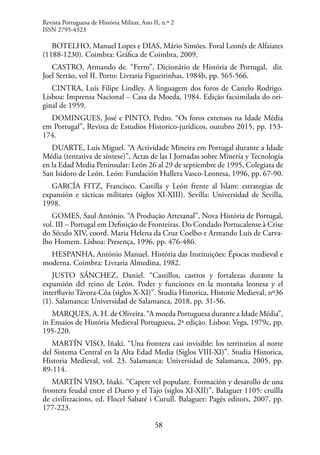
![59
MATTOSO, José. D. Afonso Henriques. Lisboa: Temas e Debates, 2007.
MONSALVO ANTÓN, José Maria. Atlas Histórico de la España Medieval.
Madrid: Editorial Sintesis, 2010.
MORENO, Humberto Baquero. “A irmandade de Ribacoa: novos
documentos”, Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in memoriam, vol. II. Porto:
1999, pp. 121-130.
OSÓRIO, Marcos. “Sabugal Velho e Caria Talaia - duas morfologias de po-
voamento, a mesma cronologia”, Sabucale, nº2. Sabugal: Município do Sabugal,
2010, pp. 61-78.
REIS, António Matos. História dos Municípios (1050-1383). Lisboa: Livros
Horizonte, 2007.
REIS, António Matos. Origens dos Municípios Portugueses. 2ª edição.
Lisboa: Livros Horizonte, 2002.
REIS, António Matos. Foros e Costumes, [em linha]. 2011 [Consult. 29
agosto, 2021] Disponível em https://sites.google.com/site/forosecostumes/.
SANTOS, João Marinho dos. Costumes e Foros de Castelo Bom. Lisboa:
Colibri, 2018.
TAVARES, Maria Alice da Silveira. Vivências quotidianas da população urba-
na medieval: o testemunho dos Costumes e Foros da Guarda, Santarém, Évora e
Beja. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2007. Dissertação
de mestrado.
TAVARES, Maria Alice da Silveira. Costumes e Foros de Riba-Côa – Norma-
tiva e Sociedade. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2013.
Tese de doutoramento.
VIANA, Mário. “Os cavaleiros de Santarém nos séculos XII e XIII”, Arquipé-
lago, História, 2ª série, IX. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2005, pp.
577-598.
VIANA, Mário. Foros de Castelo Melhor. Contributos para o estudo da nor-
mativa municipal. Ponta Delgada: Centro de Estudos Humanísticos da Univer-
sidade dos Açores, 2020.
DE LA TORRE RODRÍGUEZ, José Ignacio. “La sociedad de frontera de
Ribacoa, fueros y modelos de poblamiento”, Revista da Faculdade de Letras.
História, nº15, 1, Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1998,
pp. 783-800.
OLIVEIRA, Luís Filipe. “Os cavaleiros de carneiro e a herança da cavalaria
vilã na Estremadura. Os casos de Arruda e Alcanede”, Medievalista [em linha],
nº1. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, 2005b, pp. 1-18 [consult. 22 junho
Carlos Filipe Afonso](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-59-320.jpg)
![60
2020]. Disponível em: https://medievalista.fcsh.unl.pt/MEDIEVALISTA1/me-
dievalista-cavaleiros.htm.
POWERS, James. “The creative interaction between Portuguese and Leonese
Municipal Military Law, 1055 to 1279”, Speculum, vol. 62/1. Chicago: The
Medieval Academy of America: University of Chicago, 1987, pp. 53-80.
CARLOS FILIPE AFONSO
Nasceu em Lamego, em 1975. É oficial de infantaria
do Exército Português, tendo tomado parte em missões
na Bósnia-Herzegovina, Kosovo e Iraque. Foi docente
de História Militar no Instituto Universitário Militar.
É doutor em História, área de especialização de
História Medieval, pela Faculdade de Ciências Sociais e
HumanasdaUniversidadeNovadeLisboa,investigador
Integrado no Instituto de Estudos Medievais, sócio-
fundador da Associação Ibérica de História Militar e
membro do Gabinete de Estudos sobre a Ordem de
Santiago.
Citar este texto:
AFONSO, Carlos Filipe – A Mobilização Concelhia na Região de Ribacoa
Entre os Séculos XII e XIII. Revista Portuguesa de História Militar - Dossier: Da
Fundação à Expansão (Séculos XII-XVI). Lisboa. ISSN 2795- 4323. Ano II, nº
2 (Junho 2022), https://doi.org/10.56092/YNLT8398
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-60-320.jpg)


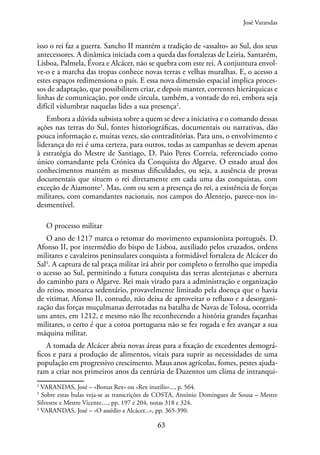







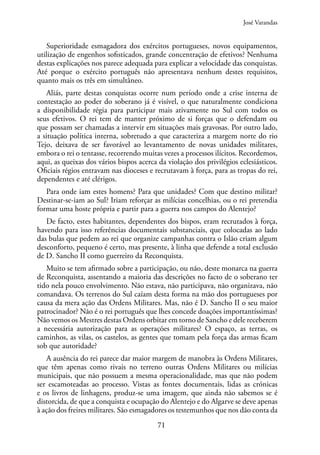
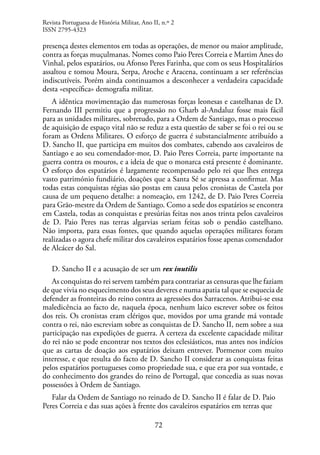

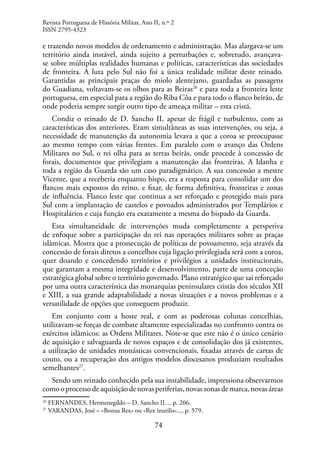



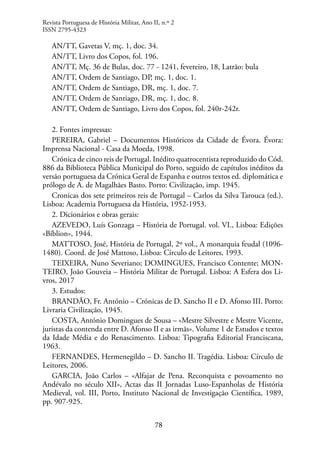


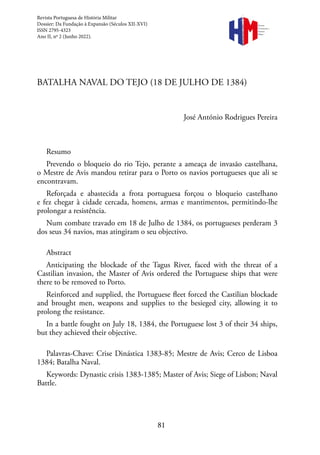





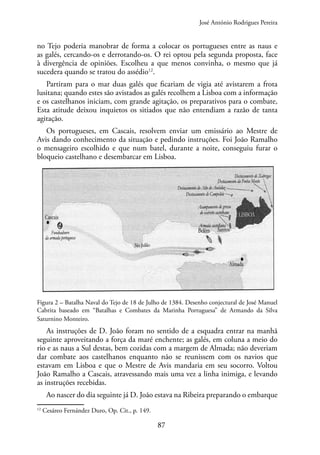






![94
hecho que la inmensa mayoría de potencias europeas, a través de sus analistas
y medios de comunicación, se pregunten cómo ha podido ocurrir algo así en el
seno de estructuras políticas que sobrentendemos como maduras y democráticas.
Una posible respuesta es que, quizá, los grupos de poder continúan haciendo del
uso de la fuerza un arma política con la que alcanzar sus objetivos a corto y medio
plazo. Aunque en realidad, la verdadera cuestión es si en algún momento de la
historia esto no ha sido así.
En su ya clásico axioma, Carl von Clausewitz argumentaba que la guerra
no era un mero enfrentamiento entre dos contendientes cualesquiera, sino una
estrategia más que los hombres han desarrollado para regular sus relaciones1
.
Según este postulado, la guerra es la manifestación más alta a la que llega un
conflicto entre opuestos, su resolución por medio de la violencia2
. Gerardo
Martínez sostiene a este respecto que allí donde existen dos bandos enfrentados
por distintos intereses (políticos, económicos, ideológicos, etc.) surgen enemigos
que terminan chocando entre sí por el sometimiento del contrario3
. Por su
parte, Rodríguez de las Heras apuntaba que la guerra, o si se quiere, la actuación
armada, ha gozado siempre de un especial significado como factor regulador de
todos aquellos conflictos que han amenazado la propia existencia de cualquier
poder a lo largo de la historia4
.
En lo que concierne a la Edad Media, las investigaciones realizadas por Pascua
Echegaray5
, García Fitz6
o Mitre Fernández7
han puesto de manifiesto que,
más allá de las posibles diferencias geográficas, o las distancias coyunturales y
temporales, la guerra tuvo una gran relevancia en el conjunto de las relaciones
políticas del momento, desde las monarquías feudales del siglo XII hasta la
Guerra de los Cien Años8
.
1
CLAUSEWITZ, Carl von - De la guerra, Barcelona: Labor, 1992, p. 13 y 48-49.
2
TELLO, Ángel - La teoría de las relaciones internacionales desde un punto de vista político-
polemológico, Universidad Nacional de la Plata: [s.n.], 2010, p. 239. Tesis doctoral.
3
Según Gerardo Martínez, la guerra actúa como un proceso de carácter violento, donde las
facciones enfrentadas intentan imponerse unas a otras mediante la conflagración, buscando la
aniquilación total del contrario, o al menos su sumisión y sometimiento con el uso de las armas;
MARTÍNEZ, Julio Gerardo - Acerca de la guerra y de la paz, los ejércitos, las estrategias y las
armas, según el libro de Las Sietes Partidas, Cáceres: Universidad de Extremadura, 1984, p. 22.
4
RODRÍGUEZ de las HERAS, Antonio - Las regulaciones del conflicto, Norba. Revista de
historia, 2, 1981, p. 273-280.
5
PASCUA, Esther - Guerra y pacto en el siglo XII. La consolidación de un sistema de reinos en
Europa Occidental, Madrid: CSIC, 1996, p. 18-25.
6
GARCÍA FITZ, Francisco - Relaciones políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente al
Islam. Siglos XI-XIII, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2002, p. 17-25.
7
MITRE, Emilio - La Guerra de los Cien Años, Madrid: Alba Libros, 2005, p. 42.
8
En palabras de Philippe Contamine, este fue el tiempo de las grandes confrontaciones, como La
Guerra de los Cien Años; las guerras entre Escocia e Inglaterra; la guerra de sucesión en Bretaña;
las campañas de Felipe el Bueno y de Carlos el Temerario; las guerras civiles, dinásticas y entre
reinos de la Península Ibérica; las rivalidades señoriales italianas; la recuperación temporal del
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-94-320.jpg)






![101
uso de la fuerza se convirtió por aquellos entonces en una pieza de ajedrez más
que las monarquías utilizaron en el siempre complejo tablero de las relaciones
internacionales.
ANEXO DOCUMENTAL
[1397] Carta de Enrique III al maestre de Santiago, Suárez de Figueroa,
transmitiéndole la orden de hacer la guerra a aquellas poblaciones portuguesas
que no siguiesen la voz del Infante D. Dionís.
Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, m.6, fol. 322.
Yo el Rey embío mucho saludar a vos el Maestre de Santiago como aquel que
mucho amo e precio e de quien mucho fío. Vien sabedes en como vos embié
dezir con vuestro ome en como Ruy López era entrado en Portogal con consejo
de Martín Bazquez, por cuanto les embiaron decir que estaban en discordia en la
çibdad de la Guarda e se querían acuchillar unos con otros, e en antes que ellos
llegasen Gonzalo Vázquez llegó a la dicha çibdad e pidioles que lo acogiesen en
la dicha çibdad, e ellos non lo quisieron acoger. E requirioles luego, de parte de
su señor, que pues ellos non lo querían acoger que lançasen fuera de la dicha
çibdad a los parientes que ay estavan de Martín Bázquez, pues que era tornado
castellano. E ellos dijeron que los non lançarían, más que tomarían arrefenes de
ellos, e tomaron luego sus mugeres y otras personas sus parientes e posieronlos
en el castillo de la dicha çibdad. E después de esto, a poca de ora, llegaron a la
dicha çibdad el dicho Martín Bázquez con çierta compaña de la que iva con Ruy
Lópes. E los de la çibdad non les osaron fablar nin los acogieron, por lo qual se
ovieron de tornar. E por quanto algunos les dixieron que vernía allí el Ynfante
D. Donís les respondieron que quando lo viesen lo crerían. Así que fue acordado
de se tornar a Çibdad Rodrigo. E entornando se fallaron mucho ganado, e non
quisieron tomar nin traer ninguna cosa de ello, nin façer otro mal en la tierra, so
fiuça30
que quando entrase el Ynfante D. Donís tomarían su boz.
E agora, he acordado con los de mi Consejo que se comience reçiamente la
guerra contra todos los logares de Portogal que non quisieren tomar la boz del
Ynfante D. Donís, robando e cativando y façiendo todo el mal y danno que ser
pudier, salvo que non pongan fuego nin quemen cosa alguna. Porque vos ruego e
mando que luego, vista esta mi carta, fagades guerra y todo quanto mal y danno
podieredes en Portogal, salvo que non consintades poner fuego, pues aquel
traydor me quebrantó las treguas e me tomó malamente la mi çibdad de Badajoz,
y la robó y la destruyó, de lo qual fío en Dios que muy çedo me fará enmienda. E
fazed requerir a los mas de los logares de Portogal que pudierdes si querrán tomar
la boz del Ynfante D. Donís y darse a él. E los que lo façer quisieren, mandad
que los non sea fecho mal nin enojo; e los que non lo quisieren façer, mandadles
30
Confianza
Carlos Rodríguez Casillas](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-101-320.jpg)

![103
______ A arte da guerra em Portugal. 1245 a 1367, Coimbra: Universidade
de Coimbra, 2014.
MCGLYNN, Sean - A hierro y fuego. Las atrocidades de la guerra en la Edad
Media, Barcelona: Crítica, 1994.
MITRE, Emilio - La Guerra de los Cien Años, Madrid: Alba Libros, 2005.
MONTAÑA CONCHIÑA, Juan Luis de la - «E levaram captivos, e
derribaram o logar todo»: la guerra en la frontera castellano-portuguesa, siglos
XIV-XV, Norba. Revista de historia, 21, 2008, p. 11-28.
MONTEIRO, João - Aljubarrota (1385). A batalha real, Lisboa: Tribuna da
Historia, 2003.
______ Nuno Álvares Perira: guerreiro, senhor feudal, santo. Os três rostros
do condestável, Lisboa: Manuscrito, 2017.
NISA, João - Um palco e um cenário. A frontaria alentejana e as Guerras
Fernandinas (1369-1382), Juvenes - The Middle Ages seen by young researchers,
Évora, 2020.
OLIVERA SERRANO, César - Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avis-
Trastámara, La Coruña: CSIC-XUGA, 2005.
PASCUA, Esther - Guerra y pacto en el siglo XII. La consolidación de un
sistema de reinos en Europa Occidental, Madrid: CSIC, 1996.
RODRÍGUEZ AMAYA, Esteban - Don Lorenzo Suárez de Figueroa: Maestre
de Santiago, Revista de Estudios Extremeños, Tomo VI, 1-2, 1950, p. 241-302.
RODRÍGUEZ CASILLAS, Carlos J. - La batalla campal en el Edad Media,
Madrid: La Ergástula, 2018
RODRÍGUEZ de las HERAS, Antonio - Las regulaciones del conflicto,
Norba. Revista de historia, 2, 1981, p. 273-280.
SUÁREZ BILBAO, Fernando - Enrique III 1390-1406). Reyes de Castilla y
León, Palencia, 1994.
SUÁREZ, Luis - Juan I (1379-1390), Palencia: La Olmeda, 1994.
______ Auge y caída de un hombre nuevo: el condestable Ruy López Dávalos,
Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CXCV, I, 1998, p. 43-80.
TELLO, Ángel - La teoría de las relaciones internacionales desde un punto
de vista político-polemológico, Universidad Nacional de la Plata: [s.n.], 2010,
Tesis doctoral.
Carlos Rodríguez Casillas](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-103-320.jpg)


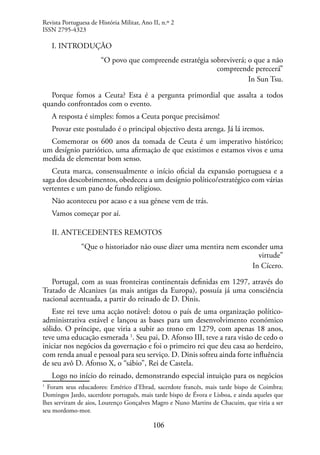
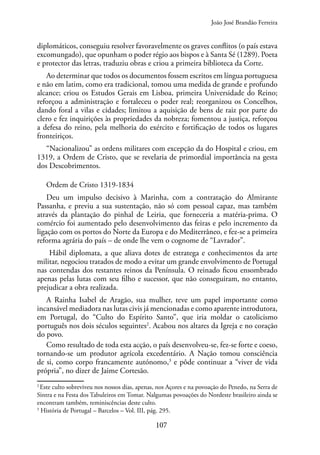



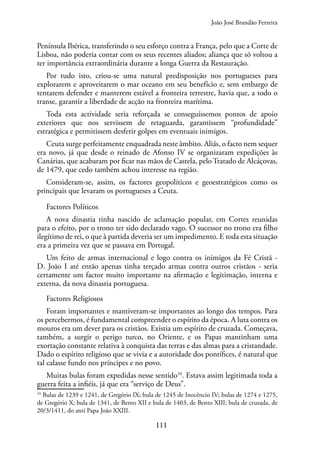

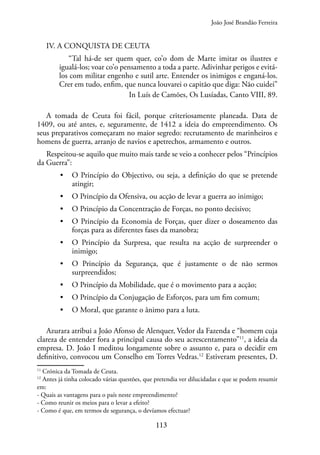

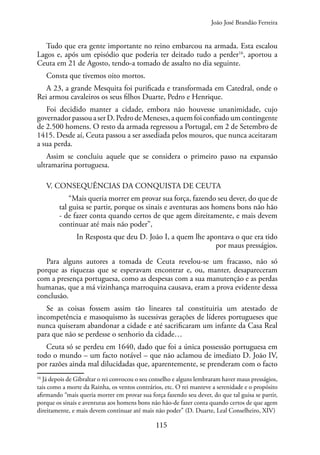




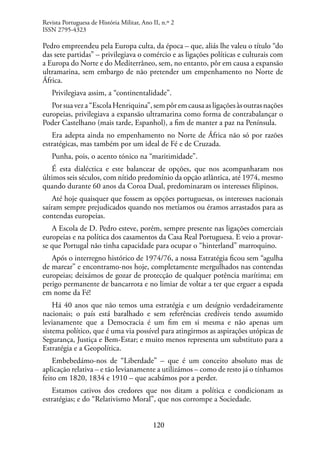


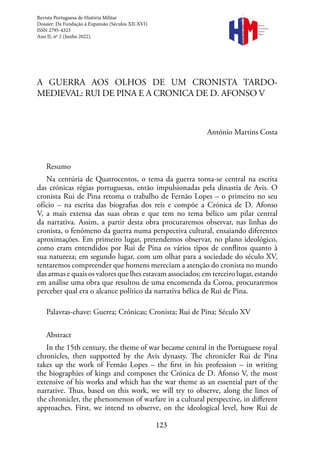
![124
Pina understood the various types of conflicts, regarding their nature; second,
with a look on the society of the 15th century, we will try to understand which
men were focused by the chronicler in the world of warfare and what values
were
associated with them; third, as a work that resulted from a commission by the
Crown is being analysed, we will try to understand the political intention of Rui
de Pina’s warfare narrative.
Keywords: War; Chronicles; Chronicler; Rui de Pina; 15th Century
Introdução
No século XV, a corte régia tomou a dianteira na produção da cultura escrita
em Portugal. A dinastia de Avis, sob a sombra da ilegitimidade, impulsionara
uma estratégia de afirmação que ao nível intelectual, para além de uma literatura
moralista para modelar senhores, passou pela construção sistemática da memória
da realeza através das crónicas. Assim, ainda na primeira metade da centúria, foi
inaugurando o cargo de cronista régio por Fernão Lopes. Este deu então início a
uma prosa que, em relação às tradicionais formas de registo dos acontecimentos,
se impunha como “uma narrativa ordenada (diacronicamente), de estrutura e
apresentação internas mais complexas e apurada no manuseamento de materiais
informativos diversificados”1
. Mas à medida que se consolidava, como notou
Teresa Amado, o discurso cronístico foi anunciando um dos seus temas de
eleição: a guerra2
.
Até ao final de Quatrocentos, sucederiam a Fernão Lopes: Gomes Eanes de
Zurara, Vasco Fernandes de Lucena e Rui de Pina3
. A este último, na viragem para
o século XVI, coube retomar a escrita da Crónica do Senhor Rey Dom Afonso
V, que nos é apresentada com uma forte marca das armas na sua narrativa, sendo
ainda hoje uma fonte incontornável para o estudo da arte militar na transição
entre a Idade Média e o Renascimento.
Nessa linha, através da prosa de Rui de Pina, procuraremos observar neste
artigo o fenómeno bélico numa perspectiva cultural, ensaiando diferentes
aproximações. Em primeiro lugar, propomo-nos compreender como, no plano
ideológico, era(m) entendida(s) a(s) guerra(s) por quem sobre elas escrevia; em
segundo lugar, tentaremos perceber, com um olhar sociológico, que homens
1
MONTEIRO, João Gouveia – Fernão Lopes: texto e contexto. Coimbra: Minerva, 1988, pp.
85-86
2
AMADO, Teresa – A guerra até 1450: ideia e prática, a imagem do inimigo. Coord. Teresa
Amado. Lisboa: Quimera, 1994, p. 6.
3
SERRÃO, Joaquim Veríssimo – Cronistas do século XV posteriores a Fernão Lopes. [Lisboa]:
Instituto de Cultura Portuguesa, 1977, pp. 9-11.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-124-320.jpg)


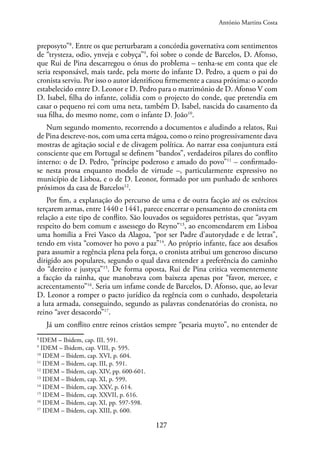
![128
Rui de Pina18
. Mas entre monarquias seguidoras de Cristo existia forma, como
era do seu conhecimento, de “justamente fazer guerra”19
. Em toda a crónica, os
capítulos que nos permitem um olhar mais próximo sobre a percepção desta
“maneira” de conflito correspondem, sem dúvida, aos que narram a origem
da contenda que opôs D. Afonso V aos Reis Católicos, entre 1475 e 1479, na
disputa pelo trono castelhano20
.
Como é notório na composição da prosa, Rui de Pina procura apresentar
com o maior cuidado o “fundamento que ElRey Dom Affonso teve pera entrar
em Castella”. Segundo o cronista, morto Henrique IV, em Dezembro de 1474,
chegara à corte portuguesa o seu “sollene e acordado Testamento”21
. Sucede
que o documento aludido na crónica foi negado por D. Isabel, meia-irmã do
defunto monarca e rival do rei português, além de permanecer desconhecido
dos historiadores até hoje. Ter-se-ia Rui de Pina baseado nalgum relato sobre o
testamento ou, no limite, foi capaz de forjar a sua existência para compor a sua
narrativa?
Como quer que tenha sido, o alegado documento revestia-se da maior
importância, pois no seu conteúdo radicava a legitimidade do rei português para
intervir em Castela: segundo nos diz a crónica, através do testamento Henrique
IV declarava a princesa D. Joana de Castela como sua filha e herdeira, apelando
a D. Afonso V para assumir a “governança” do reino e se casar com a princesa22
.
Note-se como a narrativa do cronista, assente ou não em acontecimentos reais,
obedece a uma lógica que enquadra qualquer acção bélica de D. Afonso V em
Castela numa perspectiva de defesa – senão de recuperação – de bens e direitos
– no caso, a coroa castelhana, a qual D. Isabel e D. Fernando de Aragão, seu
marido, não perderam tempo em cingir à cabeça.
Ainda assim, Rui de Pina salienta a ponderação de D. Afonso V antes de
combater uma monarquia cristã: logo em Dezembro de 1474, escuta o conselho
régio português; na viragem para Janeiro, expede um mensageiro para recolher
certidões dos que, no reino vizinho, se dizem seus apoiantes; por fim, em
Fevereiro, “per conselho que pera ysso teve”, enviou uma embaixada a D. Isabel
e D. Fernando. A descrição desta missão diplomática completa o cuidado do
cronista. Em Valhadolide, o doutor Rui de Sousa ter-se-á dirigido aos Reis
Católicos, segundo a crónica, notificando-os da legitimidade da princesa D. Joana
e do seu casamento, e exigindo o abandono daqueles reinos. Só então, esgrimida
a “justifycaçam de Leis” – ou não fosse a baixa Idade Média um periodo de (re)
afirmação do direito –, o trono de Castela pôde, como nos diz Rui de Pina, ficar
18
IDEM – Ibidem, cap. LXXIX, p. 684.
19
IDEM – Ibidem, cap. LXXVIII, p. 683.
20
Leia-se, a propósito da Guerra Luso-castelhana de 1475-1479 : ENCARNAÇÃO, Marcelo
Augusto Flores Reis da – A Batalha de Toro. Porto, [Policopiado], 2011.
21
PINA, Rui de – Ob. Cit., cap. CLXXIII, p. 829.
22
IDEM – Ibidem, cap. CLXXIII, p. 829.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-128-320.jpg)




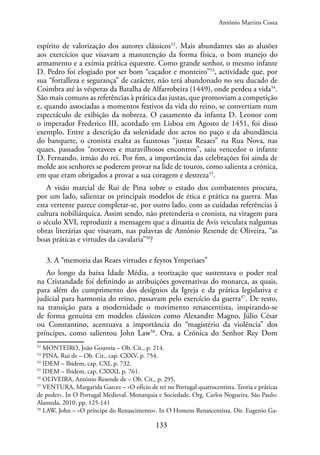
![134
Afonso V parece inscrever-se neste paradigma, como dá a entender Rui de
Pina no prólogo, desde logo, ao afirmar que a sua obra tinha como finalidade a
“memoria das Reaes virtudes e feytos Ymperiaaes”59
. Assumida uma dimensão
política de propaganda régia pelo cronista, para quem “a Estoria he hum vivo
espelho” no conhecimento daqueles “boõs exempros”, à semelhança do que se
fazia na Antiguidade, procuremos descortinar a preponderância marcial nesta
perspectiva de representação60
.
Observando a crónica de uma forma global, apurámos que mais de metade
dos capítulos versa sobre a guerra. A esmagadora maioria refere-se, como seria
de esperar, às guerras travadas pelo reino de Portugal. Se considerarmos apenas
estes, vislumbramos uma clara orientação do cronista na narrativa: o relevo dos
conflitos que contaram com a participação régia. Veja-se, a título de exemplo, os
sete capítulos relativos ao conflito que culminou na Batalha de Alfarrobeira de
144961
, os onze capítulos que descrevem a campanha marroquina de 1463-146462
ou os trinta e cinco capítulos respeitantes à empresa castelhana de D. Afonso V
que teve ponto alto na Batalha de Toro de 147663
. Em contraponto, é notória a
menor importância atribuída pelo cronista às campanhas conduzidas por nobres,
como seja o caso da resistência liderada em Alcácer Ceguer pelo conde D. Duarte
de Viana no cerco de 145964
ou da expedição conduzida pelo conde D. Afonso de
Arraiolos em torno de Ceuta em 146065
, uma e outra empresa, respectivamente,
com somente um capítulo dedicado. Já no que concerne ao conflito que em
redor de 1450 foi travado nas costas da África subsaariana, onde a realeza jamais
marcou presença, é sintomático que nem um capítulo – ou sequer uma menção
– tenha merecido a atenção de Rui de Pina66
. Consideraria o cronista que essas
escaramuças frente às tribos negras, na exploração de novas terras, correspondiam
a uma contenda irrelevante – senão menos digna – para a propaganda régia?
Como quer que tenha sido, parece evidente nesta narrativa a exaltação de
uma realeza guerreira. Nesse sentido, Rui de Pina apresenta-nos um paradigma
de monarca que não hesita em tomar armas no exercício daquilo que, segundo
o estudo de José Varandas, Margarida Garcez Ventura e Inês Araújo, eram
consideradas competências do poder real: a protecção dos bons e o castigo dos
maus, a defesa do reino e a luta contra o infiel67
. Senão, vejamos. D. Afonso V
rin. Trad. Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presença, 1991, pp. 20-24.
59
PINA, Rui de – Ob. Cit., prólogo, p. 584.
60
IDEM – Ibidem, prólogo, 583.
61
IDEM – Ibidem, cap. CXVI-CXXIII, pp. 738-749.
62
IDEM – Ibidem, cap. CXLVII-CLVII, pp. 787-814.
63
IDEM – Ibidem, cap. CLXXIII-CCVII, pp. 829-872.
64
IDEM – Ibidem, cap. CXLII, pp. 787-789.
65
IDEM – Ibidem, cap. CXLIII, pp. 790-791.
66
DUARTE, Luís Miguel – Nova História Militar de Portugal. Vol. 1, p. 441.
67
VENTURA, Margarida Garcez, et al. – «Representações dos modelos clássicos militares no rei
medieval português». História [online]. N.º 31 (2012), p. 32.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-134-320.jpg)
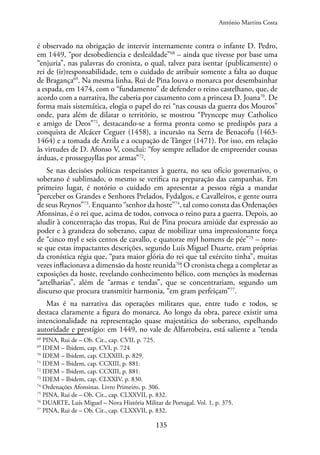

![137
Conclusão
Escrita na viragem para a centúria de Quinhentos, numa fase de consolidação
da cronística régia, a Crónica do Senhor Rey Dom Afonso V corresponde a uma
fonte privilegiada para o estudo do século XV português e, em particular, da
arte da guerra na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O cronista
Rui de Pina, como tivemos ocasião de constatar, transparece um signicativo
conhecimento do mundo bélico, da organização à formação militar, da estratégia
à táctica, do recrutamento ao armamento. Para narrar os acontecimentos
marciais terá levado a cabo um trabalho heurístico notável que, tanto quanto
apreendemos, passou pela recolha de relatos, cartas e documentação, para além
do recurso à memória e do conhecimento de alguns locais. Ciente do papel do
seu ofício, pôde assim compor a crónica, tocado por um conjunto de influências
culturais, às quais já não era alheio o movimento renascentista.
A observação da narrativa bélica, no plano ideológico, levou-nos a considerar
que Rui de Pina, pela forma e pelo conteúdo da prosa, apresenta consciência das
doutrinas que nos finais da medievalidade definiam as guerras “civil”, “justa”
e “santa”. Mais, tomando posição pela unidade do reino, pela concórdia entre
monarquias cristãs e pelo combate ao infiel, o cronista vai ao encontro, em última
instância, da mensagem da cronística régia de que, segundo Susani França, “fazia-
se a guerra pensando na paz”85
.
Numa perspectiva sociológica, o mundo das armas que a crónica nos revela
é, por excelência, o da nobreza. Esse enfoque decorreria, por um lado, da
mentalidade que concedia aos nobres um lugar privilegiado numa sociedade de
ordens; mas a sua exaltação no serviço ao rei, na guerra ou na (boa) prática da
sua cultura marcial, parece significar uma chamada de atenção para a essência da
vocação nobiliárquica quando o império português, “em tytullos e Senhoryos
mayores”86
, se alargava do Brasil à Índia.
Por fim, ao descortinarmos o alcance político da narrativa da guerra por Rui
de Pina, deparamo-nos com uma clara função de propaganda régia, visível em
perspectivas tão diversas como a selecção das lutas, o elogio das virtudes régias e a
representação em campanha concedida a D. Afonso V e, com ele, a outras figuras
da realeza. Afinal, D. Manuel I sucedera a D. João II, em 1495, oriundo de um
ramo colateral, pelo que se revestiria da maior importância a sua associação a
uma modelar dinastia guerreira.
85
FRANÇA, Susani Silveira Lemos – Os reinos dos cronistas medievais (século XV). [São Paulo]:
Annablume, 2006, p. 203.
86
PINA, Rui de – Ob. Cit., cap. CLXI, p. 817.
António Martins Costa](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-137-320.jpg)
![138
Bibliografia
1. Fontes:
PINA, Rui de – Crónicas de Rui de Pina. Introd. e rev. de M. Lopes de
Almeida. Porto: Lello & Irmão, 1977.
Ordenações Afonsinas. 5 vol. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1998.
2. Dicionários e obras gerais:
AMADO, Teresa, et al. – Dicionário da literatura medieval portuguesa.
Coord. Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993.
DIAS, Aida Fernanda – História crítica da literatura portuguesa. Dir. Carlos
Reis. Vol. 1 – Idade Média. Lisboa: Verbo, 1998.
DIAS, João José Alves, et al. – Nova História de Portugal. Dir. de Joel Serrão
e A. H. de Oliveira Marques. Vol. 5. Lisboa: Presença, 1998.
ENCARNAÇÃO, Marcelo Augusto Flores Reis da – A Batalha de Toro. Por-
to, [Policopiado], 2011.
GARIN, Eugénio – Idade Média e Renascimento. Trad. Isabel Teresa Santos
e Hossein Seddighzadeh Shooja. Lisboa: Estampa, 1989.
LAW, John, et al. – O Homem Renascentista. Dir. Eugenio Garin. Trad.
Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presença, 1991
LE GOFF, Jacques – A civilização do ocidente medieval. Vol 1. 2ª ed. Trad.
Manuel Ruas. Lisboa: Estampa, 1994.
MARQUES, A. H. de Oliveira – Nova História de Portugal. Dir. Joel Serrão
e A. H. de Oliveira Marques. Vol. 4. Coord. A. H. de Oliveira Marques. Lisboa:
Presença, 1987.
3. Estudos:
AMADO, Teresa, et al. – A guerra até 1450: ideia e prática, a imagem do
inimigo. Coord. Teresa Amado. Lisboa: Quimera, 1994.
DUBY, Georges – A Sociedade Cavaleiresca. Lisboa: Teorema, 1989.
FLORI, Jean – Caballeros y Caballería en la Edad Media. Trad. Godofredo
González. Barcelona: Paidós, 2001.
FRANÇA, Susani Silveira Lemos – Os reinos dos cronistas medievais (século
XV). [São Paulo]: Annablume, 2006.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-138-320.jpg)
![139
GOMES, Saul António – D. Afonso V, o Africano. Lisboa: Círculo de
Leitores, 2006.
GUREVITCH, Aron J. – As categorias da cultura medieval. Trad. João
Gouveia Monteiro. Lisboa: Caminho, 1991.
MONTEIRO, João Gouveia – A guerra em Portugal nos finais da Idade
Média. Lisboa: Notícias, 1998.
IDEM – Fernão Lopes: texto e contexto. Coimbra: Minerva, 1988.
IDEM – «Orientações da cultura de corte na primeira metade do século XV.
A literatura dos príncipes de Avis». Vértice. II série, 5 (Agosto de 1988).
IDEM, et al. – Nova História Militar de Portugal. Dir. Manuel Themudo
Barata e Nuno Severiano Teixeira. Vol. 1. Coord. José Mattoso. Lisboa: Círculo
de Leitores, 2003.
OLIVEIRA, António Resende de – «“Mais de pedras que de livros”: D.
Afonso, 4.º Conde de Ourém, e a cultura nobiliárquica do seu tempo».
In D. Afonso, 4.º Conde de Ourém e a sua época. Coord. Carlos Ascenso
André. Ourém: Câmara Municipal, 2004.
ROSA, Maria de Lurdes – Longas guerras, longos sonhos africanos: da tomada
de Ceuta ao fim do Império. Porto: Fio da Palavra, 2010.
SERRÃO, Joaquim Veríssimo – A historiografia portuguesa. Vol. 1. Lisboa:
Editorial Verbo,1972.
IDEM – Cronistas do século XV posteriores a Fernão Lopes. [Lisboa]:
Instituto de Cultura Portuguesa, 1977.
SOUSA, Armindo de – «Os cronistas e o imaginário no século XV». Revista
de Ciências Históricas. IX (1994).
VENTURA, Margarida Garcez – «A “Guerra Justa”: tradição, doutrina e
prática nos inícios da modernidade. O caso português». In Homo Viator. Estudos
em Homenagem a Fernando Cristóvão. Lisboa: Colibri, 2004.
IDEM – «O ofício de rei no Portugal quatrocentista. Teoria e práticas de
poder». In O Portugal medieval: monarquia e sociedade. Org. de Carlos Nogueira.
[São Paulo]: Alameda, [2010].
IDEM, et al. – «Representações dos modelos clássicos militares no rei medieval
português». História [online]. N.º 31 (2012).
VITERBO, Sousa – A cultura intelectual de D. Affonso V. Lisboa: Off. Typ.
Calç. do Cabra, 1904.
António Martins Costa](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-139-320.jpg)




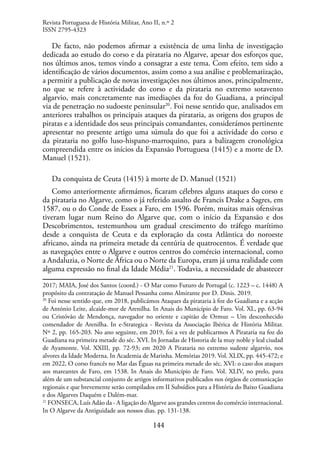



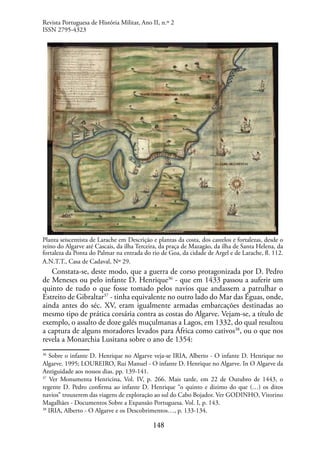



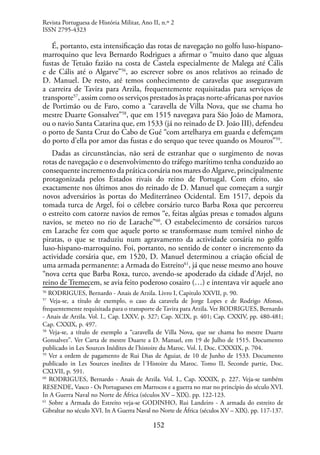




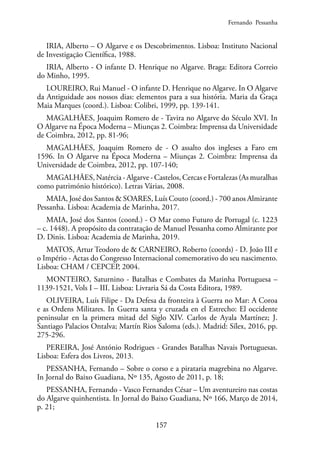
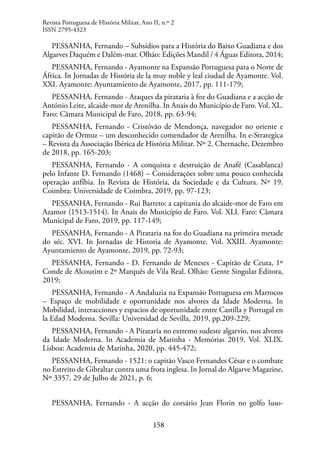









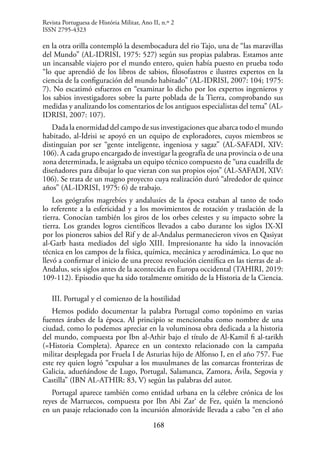
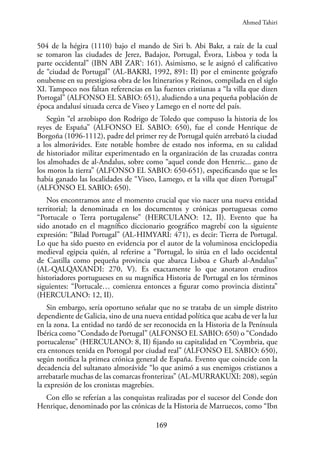
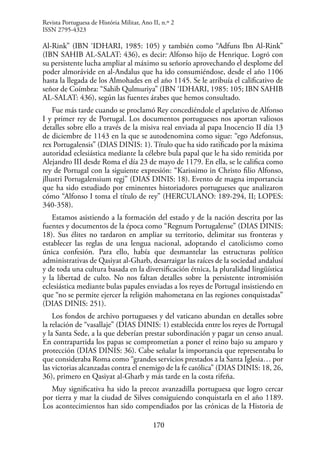
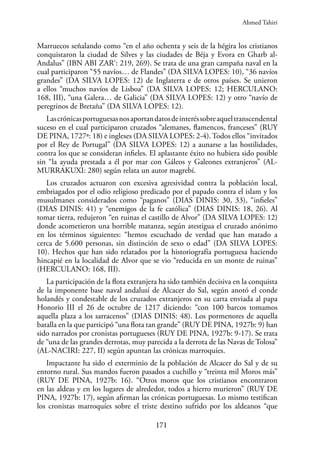
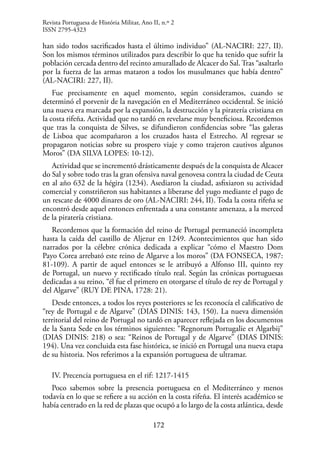



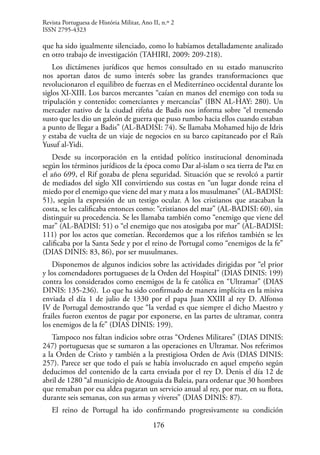


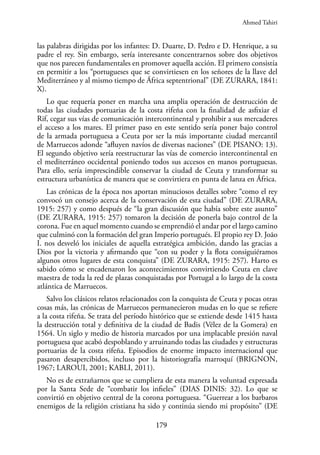
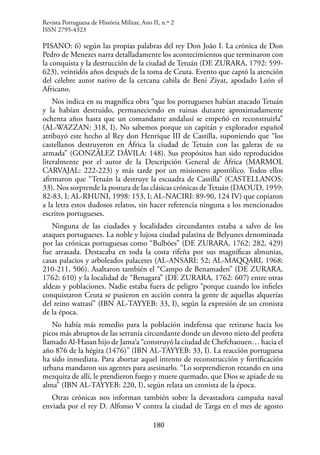
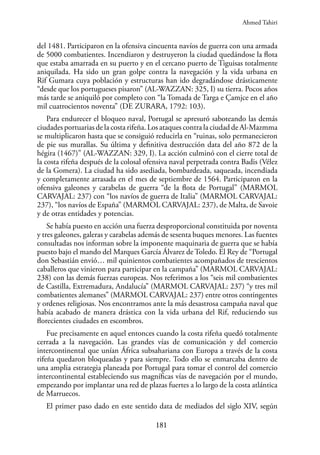

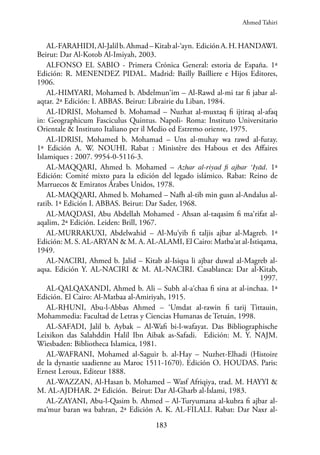
![184
ma‘rifa, 1991.
AL-ZUHRI, Mohamed b. Abi Bakr – Kitab al-Yugrafiya. Edición M. H.
Sadoq. El Cairo: Maktabat al-Thaqafa al-diniya, (s/f).
ANÓNIMO, Autor de Marrakech – Kitab al-Istibsar fi ‘aya’ib al-amsar. 1ª
Edición S. Z. ADELHAMID. Casablanca: Les Editions Maghrébines: 1985.
DA FONSECA, Luis Adão – Navegación y corso en et Mediterráneo
occidental. Los Portugueses a mediados del siglo xv, Pamplona: Universidad de
Navarra, 1978.
DA FONSECA, F.V Peixoto – “Crónica da Conquista do Algarve” in: Boletim
de Trabalhos Históricos, vol. XXXVIII, Guimrães, 1987. p. 81-109
DAOUD, Mohamed –Tarij Tetuán. Instituto Muley El-Hasan, 1959.
DA SILVA LOPES, João Baptista [Ed. &Trad.] – Relação da derrota, façanhas,
e successos dos cruzados que parti’rão do escalda para a Terra Santa no anno de
1189, Escrita em latim por hum dos mesmos Cruzados, Traducida e annotada,
Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1844.
DE PISANO, Mateus – Livro da guerra de Ceuta.Trad., R. CORRÊA PINTA.
Edición: Comissão dos Centenarios de Ceuta e Alburquerque. Comemoração do
Quinto Cetenàrio da tomada de Ceuta. 1ª Serie: Textos Históricos. Coimbra:
Academia das Scièncias de Lisboa, Imprensa da Universidad 1915.
DE ZURARA Gomes Eannes – Chronica do Conde D. Pedro de Menezes,
in: Collecção de livros ineditos de historia portuguesa dos Reinos de D. João I.,
D. Duarte, D. Affonso V, e D. João II. Lisboa: Academia das Scièncias de Lisboa,
M. DCC. XCII (1792) p. 205-635).
DE ZURARA, Gomes Eannes – Chronica do Descobrimento e Conquista da
Guiné. Pariz: J. P. Aillaud MDCCCXLI (1841).
DE ZURARA, Gomes Eannes – Crónica da Tomada de Ceuta por el Rei D.
Joao I. Edición: F. M. ESTEVES PERREIRA, Coimbra: Academia das Sciencias
de Lisboa, Imprensa da Universidad 1915.
DIAS DINIS, Antonio Joaquim [& al., Eds.] – Monumenta Henricina. 1ª
Edición. Coimbra: Comissâo Executiva do V Centenario da Morte do Infante
D. Henrique, 1960.
GONZÁLEZ DÁVILA, Gil – Historia de la vida y hechos del Rey don
Henrique Tercero de Castilla, Madrid, M.DC. XXXVIII (1638).
IBN ABD AL-BARR, Yusef b. Abdellah – Al-Qasd wal-l-umam fi al-ta‘rif
bi ansab al-‘rarab wa-l-‘ayam. Edición: I. AL-ABYARI, Beirut.: Dar al-Kitab al-
arabi, 1985.
IBN ABI ZAR‘, Ali b. Abdellah – Al-Anis al-muṭrib bi-rawḍ al-qirtas fi ajbar
muluk al-Magreb wa tarij madinat Fas, 1ª Edición. Rabat: Dar Al-Mansour,
1972.
IBN AL-ABBAR, Mohamed b. Abdellah – Al-Hulla al-Siyara. Edición H.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-184-320.jpg)
![185
MU’NIS. El Cairo: Al-Xarika al-arabiya li al-tiba‘a wa-l-naxr, 1963.
IBN AL-ATHIR, Ali b. Mohamed – Al-Kamil fi al-tarij. Edición: M. Y. AL-
DAQQAQ. Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah: 1987.
IBN AL-HAY, Mohamed b. Ahmed – Kitab al-Nawazil, Manuscrito de la
Biblioteca General de Rabat (actual Biblioteca Nacional de Marruecos), Numero
Y 55.
IBN AL-JATIB, Abu Abdellah b. Mohamed – Al-Ihata fi ajbar Garnata, 2ª
Edición: M. A. ‘INAN, El Cairo: Maktabat al-Janyi, 1974.
IBN AL-QUTIYA, Mohamed b. Umar – Tarij iftitah al-Andalus. Edición: I.
AL-ABYARI, Beirut: Dar al-Kitab al-lubnani, 1982
IBN AL-TAYYEB, Mohamed – Nachr al-Mathani li ahl al-qarn al-hadi ‘axar
wa-l-thani. Edición M. HIYYI & A. TAOUFIQ. Rabat: Dar al-Magreb: 1977
IBN BASSAM, Abu-l-Hasan Ali – Al-Dhajira fi mahasin ahl al-Jazira, 1º
Edición: I. ABBAS, Libia-Túnez: Al-Dar al-Arabiya li-l-Kitab: 1981.
IBNHAWQAL–Kitabal-Masalikwa-l-mamalikinBibiothecaGeographorum
Arabicum. 1ª Edición: M. J. DE GOEJE. Leiden: I. J. Brill, 1873. Volumen II.
IBN HAYYAN, Hayyan b. Jalaf -Al-Muqtabas V. 1ª Edición: P. CHALMETA
[& al.]. Madrid, Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1979. ISBN 84-7472-
010-9
IBN HAZM, Ali b. Ahmed – Yamharat ansab al-‘arab. 5ª Edición: A. M.
HARUN. Beirut: Dar al-Maarif, 1983. ISBN 977-02-0072-2
IBN ‘IDHARI, Ahmed b. Mohamed – Al-Bayan al-mugrib fi ajbar al-Andalus
wa-l-Magreb, 2ª Edición: G. S. COLIN & E. L. PROVENÇAL, Beirut: Dar
Assakafa, 1980.
IBN ‘IDHARI, Ahmed b. Mohamed – Al-Bayan al-mugrib fi ajbar al-Andalus
wa-l-Magreb, qism al-Muwahhidin. 1ª Edición: M. I. AL-KATTANI [& al.].
Casablanca: Dar Al-Thaqafa, 1985.
IBN JALDUN, Abd al-Rahman b. Mohamed – Kitab al-‘Ibar wa diwan al-
mubtada wa-l-jabar fi ayyam al-‘arab wa-l-‘ayam wa-l-barbar min dhawi al-sultan
al-akbar. Edición: Jalil XAHADA, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
VERNET, Tetuán: Instituto Muley El-Hasan, 1958
IBN MANDHUR, Mohamed b. Makram – Lisan al-‘Arab. Edición A. A. AL-
KABIR [& al.]. Beirut: Dar Sader, s/f.
IBN SAHIB AL-SALAT, Abd al-Malik b. Mohamed – Tarij al-mann bi-l-
imama ala al-mustadh‘afin. 3ª Edición: A. H. AL-TAZI, Beirut: Dar Al-Gharb
al-Islami, 1987.
IBN SA‘ID, Ali b. Musa – Bast al-ardh fi al-tul wa-l-ardh (Libro de la extensión
de la tierra en longitud y latitud). 1ª Edición: J.
IJWAN AL-SAFA, wa Jillan al-Wafa – Al-Ras’il. 1ª Edición: J. D. AL-
Ahmed Tahiri](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-185-320.jpg)
![186
ZARKALI. El Cairo: Al-Matba‘a al-arabiya al-misriya, 1928.
MARMOL CARVAJAL, Luis del – Ifriqiya. Traducción M. HIYYI [& al.]. 1ª
Edición. Rabat : Association des Auteurs Marocains Pour la Publication, 1989.
RUY DE PINA – Chronica do muito alto, e muito esclarecido príncipe D.
Sancho I. Segundo rey de Portugal, Lisboa Occidental: Ferreyriana, M. DCC.
XXVII (1727ª).
RUY DE PINA – Chronica do muito alto, e muito esclarecido príncipe D.
Affonso II. Terceiro rey de Portugal, Lisboa Occidental: Ferreyriana, M. DCC.
XXVII (1927b)
RUY DE PINA – Chronica do muito alto, e muito esclarecido príncipe D.
Affonso III. Quinto rey de Portugal, Lisboa Occidental: Ferreyriana, M. DCC.
XXVII (1928)
YAQUT, Yaqut b. Abd Allah – Mu‘yam al-buldan, Beirut: Dar Sader, 1977.
2. Bibliografia
BARATA, Filipe Themudo – Navegação, comércio e relações políticas: os
Portugueses no Mediterràneo ocidental (1385-1466), Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1998. ISBN 978-9723108224
BRIGNON, Jean [& al.] – Histoire du Maroc, Paris : Hatier, 1967.
CASTELLANOS, Fr. Manuel Pablo - Historia de Marruecos. 3ª Edición.
Tánger: Imprenta Hispano-arábiga de la misión católica española, 1898.
COCHERIN, Mauro (Fr.) – “Calatrava y las órdenes militares portuguesas”
in: Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 9, Ciudad Real, 1958 p. 31-47
HERCULANO, Alexander - Historia de Portugal, 3ª Edición dirigida por
David LOPES, Paris-Lisboa: Livrarias Aillaud & Bertrand, 1939.
HEERS, Jacques –“L´expansion maritime portugaise à la fin du Moyen Age :
la Méditerranée” in : Revista de Facultade de Letras. Lisboa, 1956 t. XXII, pp.
5-24
JAVIERRE MUR, Áurea Lucinda – La orden de Calatrava en Portugal,
Madrid: Editorial Maestre 1952.
KABLY, Mohamed (Présentation & Direction.) – Histoire du Maroc.
Réactualisation et Synthèse, 1ª Edition. Rabat : Institut Royale pour la Recherche
sur l´Histoire du Maroc, 2011.
LAROUI, Abdallah – L´histoire du Maghreb Un essai de synthèse. 2ª Edición
Casablanca: Centre Culturel Arabe, 2001
LOPES, David, “Os árabes nas obras de Alexandre Herculano”, Boletim da
Segunda Clase da Academia das Ciencias de Lisboa, vol. IV, Lisboa, 1910.
PAULA, Federico Mendes – Histórias de Portugal em Marrocos, Lisboa,
Argumentum Edições, 2019. ISBN 978-989-8885-10-4
PAVIOT, Jacques – « Marins et marchands portugais en Méditerranée à la fin
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-186-320.jpg)





![192
oriental. Se em 1530 iniciam a sua progressão no Índico, em 1546 expandem-se
para o Golfo Pérsico, em 1550 avançavam em direção ao Mediterrâneo central,
colocando em alerta a Espanha e Portugal, que dominava algumas das cidades
do Norte de África. Caso os otomanos alcançassem o Mediterrâneo ocidental
e aí se instalassem poderiam, através do corso, intercetar as frotas que vinham
carregadas de produtos do Oriente, e dessa forma colocar em perigo o comércio
marítimo português entre os dois oceanos, Índico e Atlântico. Porém, se o
domínio do Mediterrâneo se impunha como um objetivo realista a atingir pelo
império otomano, o mesmo já não era realizável para o Atlântico, na medida em
que não dispunham dos meios navais necessários para o efeito7
.
Na competição geopolítica e militar, e em concorrência, com o império
otomano, por mercados e lealdade de poderes, no Índico, no Subcontinente
Indiano, no Golfo Pérsico e na Insulíndia, a coroa portuguesa vai procurar obter
informações que lhe permitam alcançar vantagem nesse confronto, e ao mesmo
tempo antecipar possíveis investidas militares do adversário, sobressaindo como
informação e tema de carácter “decisivo”, os dados sobre os poderes marítimo e
naval, e todas as atividades relacionadas com estas vertentes8
, do qual dependia
em grande medida a sobrevivência do seu império português. Na correspondência
trocada entre a Coroa portuguesa e os titulares de cargos no império, na captação
de informações nos interrogatórios forçados na Inquisição, nos dados recolhidos
na redes de mercadores e nos agentes recrutados junto do império otomano,
na atividade diplomática, ressalta o objetivo de “reduzir ao mínimo a surpresa e
a impreparação”9
da máquina burocrática e militar do império português, com
destaque para as estruturas de defesa costeira e as forças novais estacionadas na
retalhada estrutura imperial territorial-marítima, que se disseminava do Norte de
África ao oceano Pacífico,
Quando nos referimos a «otomano» e «turco», do que é que estamos falamos?
Os otomanos não eram turcos, sendo esta uma designação pouco consistente e
variável. Os otomanos ou osmanli significa os que seguem “Osman”, o fundador
da dinastia; foram a classe dirigente do império otomano, que incluía indivíduos
de diferentes regiões e origens, falantes de turco10
. Por seu turno, não havia
7
Ver MACEDO, Jorge Borges de - História Diplomática Portuguesa. Constantes linhas de força.
Estudo de geopolítica, [s. loc.], Edição da Revista Nação e Defesa, [s.d.]. p. 94-95.
8
Importa diferenciar o fator “poder marítimo” (potencial no uso do mar: portos, comércio, navios
de pesca e de comércio, dinâmica económica, população vocacionada para a vida marítima),
da vertente “poder naval” (capacidades militares no mar, projeção de forças, defesa de portos,
esquadras prontas e adestradas, navios disponíveis para combate, meios de bloquear portos e
costas, e impedir o adversário de “usar” o mar e comunicar através das suas águas).
9
CARDOSO, Pedro-As Informações em Portugal, Lisboa, Gradiva/Instituto de Defesa Nacional,
2004. p. 146 e 210. O autor chama a atenção, para o facto, de entre as atividades que propiciam a
recolha de informações, a vertente diplomática é um campo profícuo de análise sobre as situações
que se desenvolvem entre poderes (p.210).
10
Para esta temática ver KUMAR, Krishan – Visões Imperiais. Cinco Impérios que mudaram o
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-192-320.jpg)
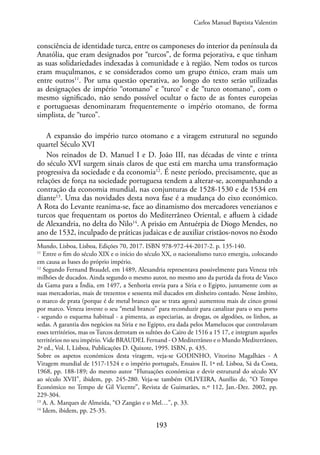
![194
para o Império Turco, é um sintoma das mutações que se estão a dar nesses anos,
precipitando e agravando mesmo a conjuntura financeira que a Europa vivia.
O encarceramento do banqueiro, um dos mais influentes da Europa seu tempo
- credor de Carlos V, Henrique VIII ou D. João III – foi, não há dúvida, um
rude golpe para os capitais internacionais que circulavam na cidade do Escalda,
pois deviam-se aos Mendes e aos italianos Affaitadi o monopólio da venda de
especiarias naquela praça financeira do Mar do Norte15
. É esta uma das razões
que leva de imediato D. João III a interceder pela libertação de Diogo Mendes
junto do seu cunhado, o imperador Carlos V.
O mundo está a mudar, no segundo quartel do século XVI16
. Às fases
depressivas seguem-se em alternância curvas ascendentes, que no seu conjunto
compõem os ciclos da vida económica, mas o que interessa aqui realçar, é que
o espaço temporal abrangido pela governação de D. João III (1521-1557)
coincide com esta fase, na qual uma depressão faz a sua erupção, vão suceder-
se implicações nefastas para o aparelho da Coroa e para a economia, incluindo
o espaço imperial, tornando difícil a recuperação. Atente-se na circulação dos
metais preciosos. Em 1525-1526 a escassez da prata alemã e o esgotamento do
ouro da Costa da Mina, metais utilizados na compra de especiarias e de outros
produtos de que Portugal era deficitário, condiciona a circulação de mercadorias.
Acresce a concorrência simultânea de dois novos espaços políticos. Na Europa
Ocidental, Carlos V reúne, numa única entidade política, os principados, cidades
e bispados alemães, a Flandres, o Franco-Condado, as Duas Sicílias, o Ducado de
Milão, a Espanha unificada e todo o seu império das Índias do Novo Mundo17
;
no Mediterrâneo Oriental, o Império Otomano conquista a Síria e o Egipto,
e abre uma porta para o Índico através do Mar Vermelho, enquanto intervém
no Norte de África. Eis dois novos atores no palco das relações internacionais.
15
Os Mendes controlam a partir de 1525 o pingue comércio das especiarias. D. João III estava
refém, no que aos aspetos financeiros e comerciais dizia respeito, destas duas Casas de mercadores
-banqueiros (Mendes/Affatadi), dependendo dos seus capitais e dos produtos que forneciam para
o comércio com o Oriente. Vide J. A. Goris, Op. cit. pp. 562-564. A. A. Marques de Almeida
estudou o papel destas famílias no comércio das especiarias, Veja-se ALMEIDA, A. Marques de
Capitais e Capitalistas no Comércio da Especiaria, ed. cit., pp. 45-47.
16
“O Mundo está a mudar, por alturas de 1521”. A Frase é de Vitorino Magalhães Godinho,
“A Viragem mundial de 1517-1524 e o império português”, p. 141. Neste ano, o primeiro do
seu governo, D. João III depara-se não só com a emergência de uma nova realidade europeia,
que já vinha tomando forma nos últimos anos do reinando do seu pai, como também mudanças
que ameaçavam abalar as estruturas socioeconómicas vigentes. As dificuldades espreitavam, na
verdade. Fontes da época registaram que foi “o ano de 1521 rico e próspero de festas […], mas tão
pobre e estéril dos fruitos da terra, não só em Portugal mas por toda a Espanha e até em África,
que deu manifesto e triste agouro da infelicidade em que havia de acabar [o reinado de D. João
III].” – ANDRADA, Francisco de introdução e revisão de Manuel Lopes de Almeida, Porto,
Lello & Irmão Editores, 1976, p. 7.
17
A Espanha imperial de Carlos V desequilibra nitidamente a seu favor todo o quadro
geoestratégico peninsular e até europeu.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-194-320.jpg)


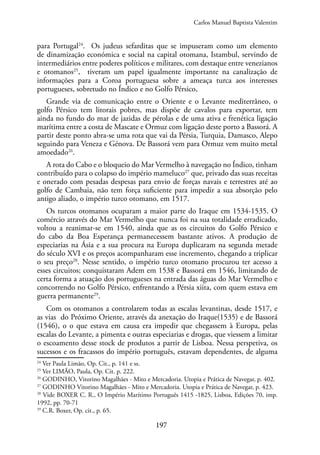
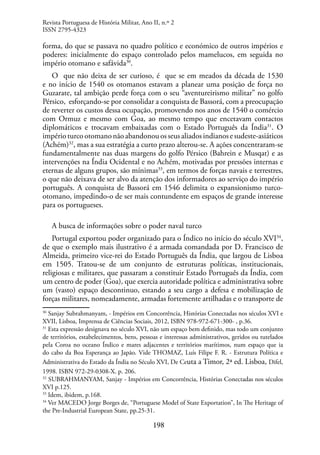
![199
homens para combater no mar e em terra.
O desenvolvimento das atividades de espionagem e da procura de informações
sobre o “turco” é um dos fatores mais evidentes do poder organizado que os
portugueses tinham exportado da Europa. As informações, sobretudo acerca
do poder naval turco otomano e das suas atividades marítimas, eram um
instrumento decisivo no confronto estratégico e na disputa comercial entre os
dois impérios, o português e o da Sublime Porta35
. Esta disputa vai levar ao
estabelecimento de uma rede de informadores, que recolhe e canaliza informações
para os centros de decisão portugueses, na corte em Lisboa, mas igualmente para
o governo do Estado Português da Índia, em Goa. Essa informação é veiculada
em inúmeras missivas, nos contactos entre governadores e entre estes e o Rei. As
informações relativas às questões navais e marítimas assumem, como referido,
particular relevância, na medida em que o poder português no Oriente assenta
fundamentalmente no mar.
Tanto no Mediterrâneo como no Mar Vermelho e Índico, ou no Golfo Pérsico
colidiam com os interesses dos Otomanos com os de Habsburgos e Portugueses.
A questão de Bassorá estava em suspenso, ocupando os interesses da diplomacia
portuguesa; muita especiaria afluía ao Levante; o poder naval turco crescia no
“mar interior”; as hostes de janízaros avançavam e subiam os Balcãs e deslocavam-
se em direção ao Ocidente. Todas estas preocupações levaram à formação de uma
rede de informações para Portugal, sobre o império turco e as suas forças navais
em meados do século XVI36.
Relativamente ao mapeamento desse confronto
militar e estratégico, a que não foram as alheias as relações diplomáticas e as
negociações37
, destaca-se a seguinte a seguinte cronologia: 1526-1546, em que
o foco está situado no Mar Vermelho e os combates e ações que têm lugar no
seu interior e a parte daí. Desde a conquista do Egipto os otomanos tinham
mostrado a sua vontade de intervirem no oceano Índico, mas os preparativos
para esta intervenção prolongaram-se, o que não deixa de causar interrogação38
,
em face de terem herdado uma esquadra pronta a navegar, forças militares e uma
base naval situada no Suez. Essa demora na projeção para o Índico ficou a dever-
se, certamente, aos combates e ações militares que se travaram até essa altura, no
35
COUTO, Dejanirah, “L’espionnage portugais dans l’empire ottoman au XVe siècle, In La
Decouvert, le Portugal, l’Europe, Actes do Colloque, Paris, Fundion Calouste Gulbenkian,
Centre Culturel de Paris, de 267.
36
Veja-se CRUZ, Maria do Rosário de Sampaio Themudo Barata de Azevedo Op. cit., p. 103 e
passim.
37
A aproximação foi efetuada por várias vias e meios, inclusive entre os dois detentores do poder,
o Rei português e o Sultão otomano. Ver ÖZBARAN, Salih – Na Imperial Letter from Süleyman
the magnificient to Dom João III Concerning Proposal for na Ottoman-portuguese armistice,
[..]m The Ottoman Response to European Expansion, Istambul, The Isis Press, 1994. ISBN 975-
428-066-5. p. 11-118.
38
Para alguns autores, como GODINHO, Vitorino Magalhães – Os Descobrimentos e a
Economia Mundial, 2ª Ed., Vol., III, Lisboa, Editorial Presença, 1994. ISBN. p. 118-119.
Carlos Manuel Baptista Valentim](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-199-320.jpg)
![200
Norte de África, no Mediterrâneo central e oriental e em território europeu, na
tentativa de expandir-se para Ocidente os exércitos do Sultão.
Em 1538 os otomanos aumentam a sua pressão no índico e levam a cabo,
sem sucesso, uma robusta ação de cerco à cidade de Diu, onde se encontram os
portugueses. A armada turca acabou por levantar o cerco sem lograr vencer os
portugueses, ao que tudo indica, por dificuldades logísticas, preparação deficiente
das forças navais e militares que integravam a expedição, e o surgimento de
desentendimentos no comando da operação de cerco, entre o capitão turco
Suleimão Paxá e o capitão das forças guzarates, Khawaga Safar39
.
Por fim, a data de 1546, os combates estendem-se ao Golfo Pérsico, após
uma campanha vitoriosa contra os persas xiitas da mesopotâmia, conquistam
Bassorá, logrando uma saída para o Golfo Pérsico e o acesso ao Índico, por
essa via40
. Contudo, os otomanos tiveram dificuldade em operar os seus navios
nesse mar, pois não dispunham de bases e instalações navais apropriadas, e o seu
equipamento naval para as primeiras campanhas teve de ser transportado a partir
das suas bases navais, do Suez e judah, situada nos Mar Vermelho41
No ano de 1539, D. João de Castro questionava-se, em carta ao rei D. João
III, “como cuyda alguém que se pode fechar ho Oçeano Indico aos turquos?”
Não seria necessário o mesmo para o Golfo Pérsico? O futuro governador do
Estado Português da Índia era da opinião que se devia recear mais o perigo turco
em Bassorá, na boca do Eufrates e em Ormuz, que o seu ataque a partir de Suez
e do Mar Vermelho42
.
D. João de Castro desaconselhava a utilização de galés nos mares do Oriente,
porque “velhas e mal repairadas”, a sua manutenção era onerosa para os cofres
da Coroa, sendo preferível o armamento de galeões e caravelas43
. De facto,
na tipologia de navios que engrossavam as esquadras portuguesas, o galeão
português surge como uma resposta ao crescente poder turco otomano nos mares,
na utilização de galeões e galés otomanas, principalmente estas44
. E as notícias
39
Veja-se JESUS, Roger Lee de – A Governação do “Estado da Índia” por D. João de Castro
(1545-1548) na Estratégia Imperial de D. João III, Coimbra, Tese no âmbito do Doutoramento
em História, especialidade História Moderna, Universidade de Coimbra, 2021. p.47.
40
Ver COSTA, João Paulo Oliveira e; RODRIGUES, Victor Luís Gaspar – Portugal y Oriente.
El Proyecto Indiano del Rey Juan, Madrid, Editorial Mapfre, 1992. ISBN. p. 205-209.
41
ÖZBARAN, Salih – The Ottoman Turks and the Potuguese in the Persian Gulf, 1534-1581,
[..]. The Ottoman Response to European Expansian, p. 130,
42
Carta de D. João de Castro a D. João III (1539?), In Obras Completas de D. João de Castro,
Lisboa, Academia Internacional da Cultura, 1982, p. 21.
43
Ibidem, pp.21-22.
44
Tal como referem os estudos recentes. Vide PISSARRA, José Virgílio– Portugal e o
Desenvolvimento das Marinhas Oceânicas. O Galeão Português, Doutoramento em História,
Especialidade História dos Descobrimentos e da Expansão Lisboa, Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, 2016. p.264.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-200-320.jpg)
![201
davam conta da expansão marítima e territorial turca. Em 1540, segundo D.
João de Castro dominavam os portos e lugares do mar arábico e controlavam
o estreito de Adem. Perante o crescente poder turco, seria necessário reforçar as
armadas e fortificar as posições portuguesas. No entanto, as notícias não eram as
melhores, segundo o roteirista, “A costa da jndia esta chea de fortalezas e castelos
homde se consomem as remdas da India e quamta fazenda vem de Portugall,
sem que della se terá outros frujtos saluo apreçõis e trabalhos […].” Para D. João
de Castro, não se poderia, também, iludir o facto de haver poucos homens para
combater, e dispersos, podendo o turco alcançar com facilidade a barra de Goa45
.
Quando os otomanos conquistaram o Egipto e se expandiram para o mar
Vermelho em direção ao Índico, passaram a enfrentar o mesmo desafio que
anteriormente os mamelucos já tinham defrontado: um poder marítimo dotado
de um claro objetivo económico, que se apoiava numa organização comercial46
.
Enquanto se aliavam com os guzarates no cerco às forças os portugueses em
Diu, em 1546, os otomanos mobilizavam forças militares na descida do Eufrates
para ocupar posições em Záquia e Bassorá, no Golfo Pérsico, o que era uma
ameaça clara à posição portuguesa em Ormuz.
Luís Falcão, informava a partir de Ormuz D. João de Castro, a 14 de dezembro
de 1546, que os rumes “trazem por mar cemto e syquoenta navyos pequenos de
seys remos por bamda, como ojá tanho espryto a Vosa S., e algumas bascasas em
que trazem artelharya; sua detrymynação não he boa e se desta vez não tomão
Baçora tenha Vosa S. por certo que nom hamde llevar mão deste neguoceo ate
ho não acabem, e por yso he necesareo acudir lhe Vosa S. com tempo[..]. Nesse
sentido era necessário reforçar o dispositivo naval na região, pelo que se enviava
uma proposta. “Meu parecer he que Vosa S. deue de mandar com muyta presteza
navyos e gemte, porque se hos rumes tomarem Baçora rrezão he que esteja esta
ffortalleza muy percebida e vyerem há tempo que nom seja tomada[…].”47
A 26 de abril de 1547, D. Manuel de Lima informava D. Álvaro de Castro,
que alguns navios turcos tinham saído de Suez e que tudo indicava que nesse
ano a “armada do turco” se iria dirigir a Ormuz, que se assim fosse, a posição
portuguesa no Golfo Pérsico ficaria vulnerável, pois em Ormuz “estaa muj pouca
gente e não estão hi mais que os casados, e os turcos que estam em Baçora são
dous mil e dizem que o passatempo que eles teem de tirar com espingardas[..].”48
45
Carta de D. João de Castro ao Infante D. Luis, 30 de outubro de 1540, in Obras Completas
de D. João de Castro, Vol. IV, p. 28.
46
ÖZBARAN, Salih, “Expansion in the Southern Seas”, in The Ottoman Response to European
Expansion, p.81.
47
Carta de Luiz Falcão para o governador D. João de Castro”, 14 de dezembro de 1546, in Luís
de Albuquerque, p. 381.
48
Carta de D. Manuel de Lima a D. Álvaro de Castro”, 26 de abril de 1547, in Luís de
Albuquerque, p. 381.
Carlos Manuel Baptista Valentim](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-201-320.jpg)
![202
No entabular de relações diplomáticas entre o capitão de Bassorá e o
governador de Ormuz, D. Manuel de Lima49
, colocava-se a possibilidade de
serem construídos muitos navios em madeira transportada do Eufrates; ficava-se
ainda a saber que no Suez se encontravam 44 galés armadas, prontas a zarpar para
qualquer eventualidade.
O bispo do Porto50
, à semelhança de outros prelados, tentava manter a corte
portuguesa ao corrente da notícia do “turco2 e das suas armadas. Em uma das
suas missivas, escreve:
[...] quoamdo me party de Veneza encomemdey muyto a Fernão
Rodriguez de Castelo Bramco que me sprevese todas as novas que
das cousas da india e do turquo podese saber das naos que hy vyesem
d’Alexamdrya e elle me spreveo duas cartas ssobre ysso que com estaa vão
polas quaes Vossa Alteza vera o que diso se pode em Veneza saber.
A cúria romana e o Mediterrêneo eram dois locais privilegiados para a recolha
de informações sobre a frota otomana. O testemunho de Tomé Pegado de Paz,
um cristão-novo, à Inquisição portuguesa, revela-nos em grande medida a
importância que as informações sobre a vertente naval e marítima turca tinham
neste tipo de interrogatório e de como funcionavam essas redes de espionagem.
O cristão-novo carreará a informação que, do seu ponto de vista, importava
à sua defesa pessoal e, claro está, aquela que os próprios inquisidores estariam
mais interessados em ouvir, relacionada com o Império turco, as suas armadas
e estratégias. Questionado sobre a eventualidade de o turco enviar uma armada
à Índia, respondeu que a única informação que tinha era a de que os turcos se
preparavam para cortar “çerto pas[s]o no ryo Nyllo pera poderem pas[s]ar muitas
gallees.”51
Refere ainda Tomé Pegado, que o embaixador do Achem se deslocara à corte
turca, em 1562 ou 1564, em busca de auxílio naval, contra os portugueses, para
a conquista de Malaca, tendo Matias Bicudo52
, um judeu de Alepo, recrutado
por Lourenço Pires de Távora, quando embaixador em Roma no ano de 1559,
vindo do Cairo para Instambul, no intuito de saber notícias sobre as galés que o
49
Veja-se ALBUQUERQUE, Luis de,“O Domínio Português no Índico e a resposta turca” In
[…], Estudos de História, Vol. V, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1977, pp. 232-233.
50
Carta do bispo do Porto a D. João III a respeito das coisas do Concílio Tridentino. Roma,
1547, Novembro, 7, in As Gavetas da Torre do Tombo I (GAV I-II), 435 II, 5-37, Lisboa, Centro
de Estudos Ultramarinos, 1960, p. 687.
51
ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo 10906, fl. 11 v.º.
52
Sobrinho de Isaac Bicudo, que passava informações sobre o turco via Veneza e Roma à Corte
portuguesa e ao vice-rei da Índia. Veja-se CRUZ, Maria do Rosário de Sampaio Themudo Barata
de Azevedo - Os Diplomatas Portugueses em Roma no Século XVI e as informações acerca
do Turco e da Índia, Separata de Portugaliae Historica, 2ª Série, Vol. I, 1991, pp. 105 e ss.; e
TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, “Judeus, Cristãos Novos e os Descobrimentos Portugueses,
Sefarad , XLVIII 2 (1988), pp. 296-297.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-202-320.jpg)
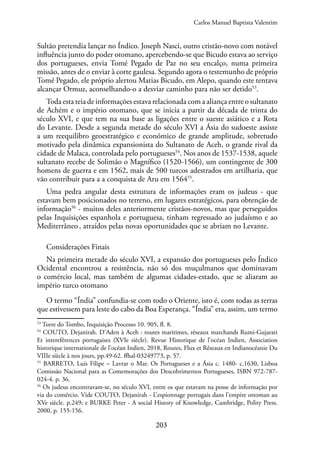
![204
usado com alguma ambiguidade. Na segunda metade do século XVI, o cronista
João Barros identifica a “regiam a que os geographos própriamête chamã Jndia,
é a térra que jáz entre os dous jllustres & celebrados rios Jndo & Gange, do qual
Indo ella tomou o nome [...].”57
A Índia estava profundamente dividida entre hindus e muçulmanos58
. O
território repartia-se numa miríade de reinos, principados e “pequenos” poderes,
muitos deles rivais e inimigos, combatendo-se mutuamente. Os mongóis ainda
não tinham atravessado as montanhas do Hindo-Kush. O Norte fora invadido e
conquistado por muçulmanos, sendo os sultanatos de Guzarate, Delhi e Bengala
um produto desse domínio. O planalto do Decão fragmenta-se politicamente
entre cinco sultanatos que se guerreavam entre si e enfrentavam um poderoso
vizinho hindu – o império de Vijayanagar, que os portugueses denominaram por
reino de “Bisnaga”. A região costeira do Malabar, a sul de Goa, encontrava-se
nas mãos de príncipes independentes, os Rajás hindus. Zinadim, um cronista
muçulmano da segunda metade do século XVI, refere a esse respeito que “Os
príncipes do Malabar estão divididos em duas parcialidades, a dos aliados do
samorim, e a dos príncipes de Cochim[...].”59
Tirando partido das rivalidades e dos jogos do poder que se teciam na Índia,
entre finais do século XV e princípios do século XVI, aliando o poder de fogo
dos seus navios, a superioridade técnica em vários domínios (construção naval,
fundição, armamento, fortalezas defensivas) e a surpresa que causaram aos
potentados locais, os portugueses adquiriram rapidamente supremacia marítima
no Índico. No curto espaço de quinze anos, numa região tão distante, ergueram
um sólido Império, controlando pontos-chave do comércio asiático
“O motivo da sua vinda ao malabar, segundo se diz, foi entrar em
relações com o país da pimenta, a fim de que monopolizassem o seu
comércio, porque antes só a podia haver comprando-a a intermediários,
que por sua vez a compravam aos que a importavam do Malabar, e estes
também indiretamente.”60
Eis uma dedução de um cronista muçulmano da época.
Na primeira metade do século XVI, os portugueses vão-se adaptando à
realidade dos mares orientais. No Índico Ocidental experimentam mais o conflito
militar e naval do que as parecerias mercantis. Esta é uma zona de comércio feito
57
Ásia de João de Barros, Primeira Década, fac-símile da edição de 1932, Lisboa, Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, 1988, p. 144.
58
Veja-se descrição política e religiosa da Índia, em meados do século XVI, feita por BOXER,
C.R., O Império Marítimo Português (1415-1825). p. 57.
59
História dos Portugueses no Malabar por Zinadím, manuscrito árabe do século XVI traduzido
por David Lopes, 2ª Ed., Lisboa, Edições Antígona, 1998, p. 44.
60
História dos Portugueses no Malabar..., p. 53.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-204-320.jpg)


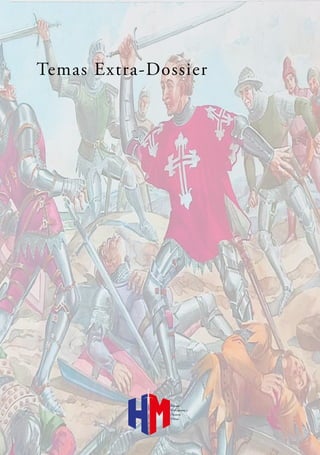

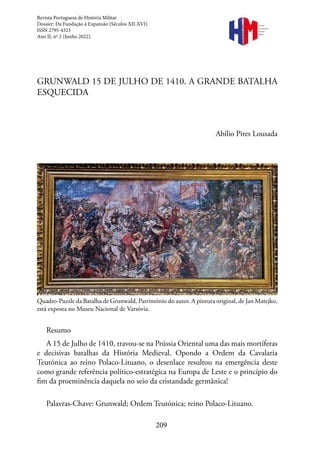









![219
das Appalachian Mountains), onde seria estabelecida uma base permanente,
desencadeando de seguida uma guerra de guerrilha contra os proprietários de
escravos.
O plano definitivo não contemplou esta última hipótese, optando pelo
excessivamente ambicioso projeto da insurreição generalizada na Virgínia.
A execução operacional correu mal devido ao facto dos insurretos, não terem
conseguido isolar o teatro de operações, permitindo a circulação dos comboios
e dos civis. Assim sendo, os rebeldes foram descobertos demasiado cedo,
despoletando uma resposta imediata das milícias locais e posteriormente dos
marines. A crença numa adesão espontânea dos escravos mostrou ser uma total
falácia, porque poucos afro-americanos estavam a par da operação. A maioria
desconhecia totalmente a identidade e objetivos dos atacantes, não estando
preparados para prestar qualquer auxílio aos rebeldes abolicionistas. A ilusão de
John Smith levou-o a adiar a retirada do grupo para as montanhas, contando
até ao último minuto com uma impossível rebelião. As forças combinadas dos
marines e das milícias locais conseguiram facilmente assaltar a engine house do
arsenal de Harper’s Ferry onde se acolhiam os raiders, matando vários deles e
capturando os feridos entre os quais se contava o próprio John Brown 2
.
O diferencial temporal e as dificuldades na receção das notícias, oriundas
do outro lado do Atlântico, explicam o atraso na chegada a Portugal das
descrições destes acontecimentos. O raid de John Brown decorreu entre 16 e
18 de Outubro de 1859, mas a primeira e sucinta informação, apareceu no
Comércio do Porto somente a 4 de Novembro de 1859. Embora, a maioria
dos periódicos tenha publicado relatos dos acontecimentos, ainda na primeira
metade do mês de Novembro, o diário legitimista a Nação apenas o fez a 31 de
Dezembro de 1859. Este lapso temporal permitiu diversas imprecisões e deu
azo à interpretação acrítica ou errada do raid, motivada pelas falsas informações
dos jornais americanos, principalmente oriundos dos estados esclavagistas.
Estas limitações informativas permitem compreender, o facto do diário oficial
do governo, o Diário de Lisboa tenha omitido na descrição do raid, a presença
decisiva do líder do movimento o capitão John Brown e a constituição mista do
grupo armado, no qual brancos e negros participavam numa situação de paridade
3
. Nesta perspetiva, o acontecimento ganhava uma dimensão arcaica, remetendo
para o subconsciente coletivo americano e europeu e acentuando o medo das
insurreições “selvagens” dos escravos. A revolta do Haiti na viragem do século
XVIII (1791-1804) e a rebelião americana de Nat Turner em 1831, no Estado
2
FIELD, Ron - Avenging Angel. John Brown’s Raid on Harpers Ferry, 1859, First Edition, Ox-
ford/New York, Osprey Publishing, 2012, ISBN: 9781849087575, p.31-63.
3
“Em Harpers Ferry rebentou uma formidável insurreição. Os negros apoderaram-se do arsenal,
intercetaram as comunicações pelo caminho de ferro, ameaçaram os condutores, e cortaram os
arames do telégrafo. O número dos revoltosos é de 700 a 800 indivíduos. De Washington foram
imediatamente mandadas tropas para o lugar da insurreição. […]”, Anónimo, Parte Não Oficial
– Notícias Estrangeiras, Diário de Lisboa, Lisboa, N.º 5, (05/11/1859), p.25
Júlio Rodrigues da Silva](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-219-320.jpg)
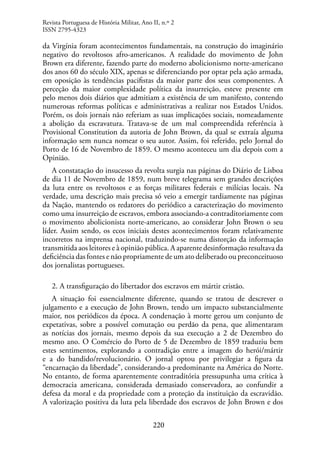


![223
DOS ESCRAVOS DA AMÉRICA DO SUL qual teve lugar em Charlestown.” 9
.
O Jornal do Porto apresentava um título semelhante: “VARIEDADES – Suplício
de Brown o libertador dos escravos da América do Sul.” e a introdução parecida:
“Esta descrição apareceu publicada por despacho telegráfico no Boston Journal,
e é pela forma que se segue: […]” 10
.
Seja como for, o relato do Diário de Lisboa é sem dúvida o mais completo e,
portanto, o mais importante, para compreendermos a imagem de John Brown
na imprensa portuguesa. O texto tirado de um despacho do Boston Journal
do estado norte-americano de Massachusetts, organizava-se de uma forma não
cronológica em três partes, da seguinte forma: a primeira narrando a sua saída da
prisão e a subsequente execução, a segunda referindo de forma extensa, o último
diálogo com os seus antigos companheiros e a terceira descrevendo execução
de maneira diferente da primeira e acrescentando novos pormenores elogiosos,
para o condenado à morte. A estas três partes acrescentar-se-ia uma transcrição
do Times dos seus derradeiros momentos com a mulher, acrescentando uma
dimensão humana e moral a John Brown.
Comecemos pela primeira parte referente à saída da prisão e dos preparativos
para a execução. A descrição começava por valorizar a sua despedida dos antigos
companheiros, aos quais se mostrava muito afeiçoado, com a exceção de Cook.
Com efeito, acusou-o de o ter iludido, garantindo-lhe o apoio dos escravos,
levando-o a pensar que estavam preparados para uma insurreição, o que era
manifestamente falso e o fez cair num engano. Podia-se considerar, também,
um elemento da construção crística da figura de John Brown, revelando a
traição de um outro “judas” na pessoa de Cook. Seguidamente apresentava-se a
sua saída estoica da prisão com um ar tranquilo e amável, saudando as pessoas
que conhecia, em oposição ao pesado dispositivo militar dos esclavagistas. O
efeito contrastante, era reforçado pela descrição da escolta, que o conduziu ao
cadafalso, das tropas que rodeavam a forca, da barreira de baionetas afastando os
cidadãos pacíficos. A descrição do estoicismo de John Brown, obrigado a esperar
longos minutos com a corda ao pescoço, realçava a crueldade do suplício. O facto
de a morte só ter sido declarada ao fim de trinta e cinco minutos, acentuava o
dramatismo do seu calvário. No entanto, a retirada do corpo do cadafalso e o seu
envio para a roça familiar era descrito de forma muito sintética, não despertando
especial interesse. Na verdade, o mais importante era a crítica ao excesso das
medidas militares, baseadas no falso boato de um ataque abolicionista.
Na segunda parte, narrava-se de forma mais extensa a reunião entre John
Brown e os seus companheiros, anteriormente referida. Em primeiro lugar,
9
Anónimo, FOLHETIM – DESCRIPÇÃO DO SUPLÍCIO DO INFELIZ BROWN, O
LIBERTADOR DOS ESCRAVOS DA AMÉRICA DO SUL qual teve lugar em Charlestown,
Porto, O Nacional, Nº 295 (30/12/1859), p.1.
10
Leão, José Barbosa, Coutinho, A.R. da, VARIEDADES – Suplício de Brown o libertador dos
escravos da América do Sul, Porto, O Jornal do Porto, Nº 12 (15/01/1860), p.4.
Júlio Rodrigues da Silva](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-223-320.jpg)


![226
tendo continuidade no dia seguinte (16/12/1859) no Português, próximo da
esquerda liberal do partido histórico. O Jornal do Comércio e o legitimista a
Nação foram os únicos periódicos de Lisboa, que ignoraram o apelo de Vítor
Hugo. Os jornais do Porto repetiram o despacho anteriormente descrito nos
jornais da capital na mesma data, dando-lhe especial relevância o Jornal do Porto,
o Comércio do Porto, o Porto e Carta e sendo a única exceção o Nacional. O
Jornal do Porto continuou a conceder relevância ao assunto no dia seguinte,
referindo-se especificamente ao conteúdo deste apelo de Vítor Hugo e criticando
a barbaridade dos Estados Unidos, ao condenar à morte o libertador dos escravos.
Estas informações, emparelhando a luta pela liberdade dos escravos com a luta
contra a pena de morte, dois dos grandes temas do humanismo de Vítor Hugo,
foram desenvolvidas dias depois, tendo o Nacional na edição de 19/12/1859
transcrito a Carta de Vítor Hugo, posteriormente copiada e republicada pelo
Português no dia 22 de Dezembro de 1859. A transcrição baseava-se numa
tradução do texto em francês, ignorava a versão inglesa, era fiel ao original e
centrava-se em torno das principais temáticas do humanismo de Vítor Hugo:
o fim da pena de morte e a abolição da escravatura. Intitulada inicialmente
“Letter to the London News regarding John Brown” e datada de Hauteville
de 2 de Dezembro de 1859, foi reproduzida na imprensa europeia em vários
idiomas, sendo publicada em francês pela primeira vez no jornal La Presse de
8 de Dezembro de 1859, endereçada “à tous les journaux libres de l’ Europe”,
subtítulo inexplicavelmente ausente dos periódicos portugueses.
O texto estava organizado de forma circular, iniciando-se e terminando com a
personagem tutelar da independência dos Estados Unidos: George Washington.
O vencedor da guerra da independência e primeiro presidente dos Estados
Unidos era a figura simbólica, que corporizava aos olhos dos americanos e
europeus, a faceta mais autêntica, exemplar e heroica do povo norte-americano.
A evocação da figura majestosa de Washington foi colocada no início do texto,
para contrastar de imediato com a negação da liberdade no Sul dos Estados
Unidos. A “pátria” de Washington não era só a terra da liberdade dos “livres”, era
também pelo menos em parte a terra da escravidão dos escravos afro-americanos.
Aqui, radicava o “caso” e a explicação da epopeia de John Brown, que ganhava
um carácter excecional, tornando-se um ato perfeitamente natural, o facto de um
homem branco ter resolvido libertar os escravos “negros” da Virgínia, iniciando
numa ambiência fortemente religiosa, a obra da “salvação”. O autor acentuava
esta perspetiva religiosa e salvacionista, ressaltando as características específicas da
sua personalidade: puritano, religioso, austero, fortemente marcado pela leitura
do evangelho, claramente expressa na expressão Christus nos liberavit [Cristo nos
livrou]. O seu espírito evangélico, tê-lo-ia levado a lançar um grito de liberdade
aos escravos da Virgínia, infelizmente não correspondido devido à apatia dos
mesmos, amolecidos por longos anos da escravidão. Abandonado de todos (como
Cristo na hora final) a não ser de um pequeno grupo de fiéis, formado pelos
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-226-320.jpg)
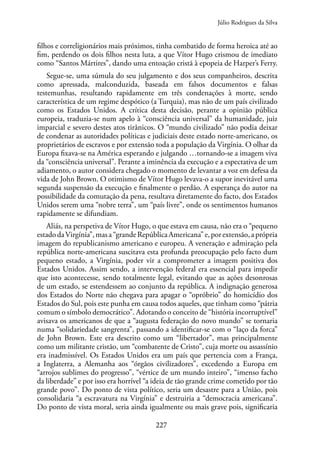
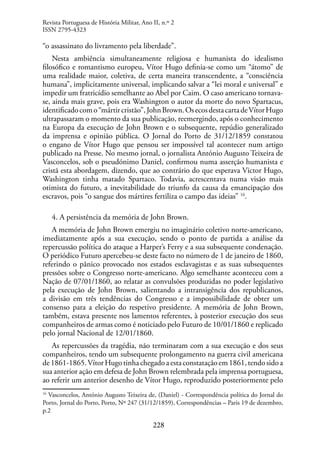

![230
de emancipação de 1863 tal como foi referido no Jornal do Porto de 13/02/1862.
Todavia, o mais importante era o facto dos fundadores do abolicionismo
americano, no início da guerra civil americana serem identificados com John
Brown e Beecher Stowe. O Jornal do Comércio de 18/07/1861 referiu este
facto, não deixando de acrescentar a responsabilidade de ambos, na rutura entre
o Norte e o Sul que conduziu à guerra civil. A situação repetia-se no mesmo
periódico dois meses depois a 18/09/1861, mas numa perspetiva mais sombria
dos acontecimentos e aparentemente negativa no referente aos unionistas e aos
habitantes dos Estados do Norte, acusados de racismo. Nesta perspetiva, os
verdadeiros abolicionistas, na linha de John Brown e Beecher Stowe são uma
ínfima minoria sem peso real no universo político nortista. A mesma questão se
colocou à Revolução de Setembro no número de 07/02/1863, quando condenava
uma possível intervenção inglesa, na guerra civil americana a favor dos sulistas,
sendo uma traição à memória de John Brown e aos abolicionistas ingleses como
Clarkson e Wilberforce.
Finalmente, no término da guerra civil em 1865, o tema reemergiu a propósito
do assassínio de Lincoln por John Wilkes Booth. A Nação e o Jornal do Porto
referiram o “testamento” do assassino do presidente e as suas referências a John
Brown. O primeiro transcreve uma tradução do mesmo, na qual este se refere
“elogiosamente” a John Brown, sendo essencialmente um pretexto ou forma de
legitimação e autoelogio do próprio John Wilkes Booth em 17/05/1865. Algo
diferente acontece com o segundo periódico na qual uma apreciação crítica e
escandalizada acompanhava o respetivo relato de 14/05/1865:
“«Estranha inversão de ideias!» - exclamava ele; e bem invertidas
estavam as suas, quando abençoava a escravidão, como um benefício da
providência, e não duvidava gloriar-se de ter contribuído para o suplício
de John Brown.”
O carrasco de John Brown era um benemérito para o assassino de
Abraão Lincoln.! […].” 20
.
O raid malsucedido de Harper’s Ferry de 1859, da autoria de John Brown e
dos seus seguidores, produziu um terramoto político nos Estados Unidos e na
Europa, tendo repercussões no período posterior da guerra civil norte-americana
e condicionaram a opinião pública ocidental. A imprensa portuguesa da época
na sua multiplicidade e diversidade, mostrou-se capaz de oferecer uma análise
fundamentada dos acontecimentos, revelando à opinião pública nacional, a
relevância de um acontecimento militar aparentemente marginal na evolução
política dos Estados Unidos. Assim sendo, foi precursora de um pensamento
estratégico moderno, ao valorizar a interligação entre as dinâmicas políticas e
militares na evolução dos conflitos armados.
20
Anónimo, Revista Estrangeira, Jornal do Porto, Porto, Nº 109 (14/05/1865), p.1
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-230-320.jpg)





![236
Great Britain from European institutions, the rise of extremist national leaders,
as well as the challenges imposed by aggressive policies of global political actors,
pose new, seemingly difficult-to-understand questions. The “neighbourhood” of
the European Union has been turned into an area of
instability in recent years,
and especially the Mediterranean area is facing uncertain political and security
situations. It turns out that Europe is far from achieving one of its main goals
contained in the revised common policy strategy - establishing security in the
EU’s neighbourhood and in the Balkans, the Mediterranean, the Middle East
and the Caucasus.
Due to the global confrontation for new distribution of power and influence
around the world, in all these scenarios Europe has been brought to the brink of a
new, modern version of the Cold War confrontation, much more dangerous than
the classic Cold War, because its actors are unable to control the consequences
of their actions.
During the Cold War, the events of the Great War were not linked to current
problems. However, the fact that the diplomatic procedures and their correlation
with military operations at the end of the WWI, the peace solution from Paris
in 1919 and the territorial changes caused by it, have been attracting attention
again lately, can be largely justified by the concern, but also by the need to figure
out our own world. Although history is so often misused to support political
ideologies, or to promote extravagant territorial demands, we conclude that it
is necessary to understand the historical perspective of contemporary political,
economic and security dilemmas we are witnessing and strategies that are more
or less successfully implemented. In itself, the question arises as to where the real
causes of such a development are.
Following the long thread of history and winding it backwards, we will get to
the tangle from when the events began. This hub bears the “stamp” of the First
World War, today only a seemingly faded event of modern history.
In time of war it is difficult to speak of diplomacy stricto sensu, in the sense
that country uses its influence to expand its` international, territorial, political,
economic or any other status. What occurs is rather an exercise in navigation and
in searching for tactical supports in the maze of conflicting interests of the Great
Powers and the peripheral interests. Nevertheless, in an attempt to emphasize
the importance of the research of WWI, we would try to correlate some military
operations and diplomatic developments during the Great War.8
The twists and turns of Serbian and Portugues war policy are briefly shown
in its international context, while the utility of certain territories and facilities
for the belligerents is summarily explained. The role of the Serbian and
8
Cyril BenthamFalls, Military Operations Macedonia from the Οutbreak of War to the Spring
of 1917. [… From the Spring of 1917 to the End of the War.], vols Ι-ΙΙ, London, HMSO,
1933-35.
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-236-320.jpg)













![250
preconditions for the complete geopolitical transformation of Europe in the
period that followed.
A more than century after the conclusion of the World War I, the reopening
of a matter of this kind for public discussion is of particular historical and moral
value. It is of historical value because it provides us with the opportunity to
arrive at a more definitive appraisal of its` significance and consequences. It is,
moreover, of moral value, because, after so many years, we commemorate once
again the thousands of dead on both sides who fought and fell during the Great
War.
Bibliography
Afflerbach, H., “Greece and the Balkan Area in German Strategy, 1914-
1918”, The Salonica Theatre of Operations and the Outcome of the Great War
(Thessaloniki 2005).
Abbot, G. F., Greece and the Allies 1914-1922, (London 1922)
Anderson, M. S., The Eastern question, 1774-1923 : a study in international
relations (London & New York 1966).
Baldocci, P., “1914-2014: From the clash of Imperialism to the Soft Power of
the European Union”, New Balkans and Europe-Peace Development Integration,
Proceedings of the Tenth ECPD International Conference on Reconciliation,
Tolerance and Human Security in the Balkans, Belgrade 2015.
Breidel Hatzhdemetriou, T., War and diplomacy in the Middle East, (Athens
2015).
BG Ciampini, M. “The system of alliances before the WWI”, ACTA 2014,
World War One 1914-1918, Proceedings of 40th
Congress of Military History,
Bulgarian Comission of Military History, (Varna 2014).
A Concise History of the Participation of the Hellenic Army in the First World
War 1914-1918, An Army History Directorate Publication, (Athens 1999).
Dutton, D.J., “The Balkan campaign and French war aims in the Great War”
English Historical Review, 94 (170) (1979).
Falls, Cyril Bentham. Military Operations Macedonia from the Οutbreak of
War to the Spring of 1917. [… From the Spring of 1917 to the End of the War.],
vols Ι-ΙΙ, London, HMSO, 1933-35.
Fotakis, Z., Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, (London & New
York 2005)
Revista Portuguesa de História Militar, Ano II, n.º 2
ISSN 2795-4323](https://image.slidesharecdn.com/expansaoportuguesa-231117211254-303483f6/85/EXPANSAO-PORTUGUESA-pdf-250-320.jpg)