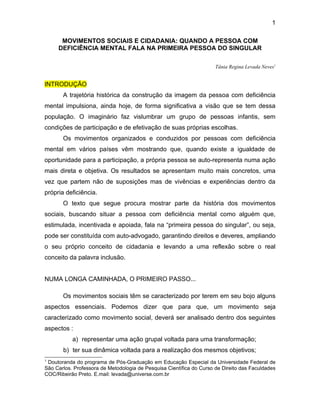
Movimentos sociais e a luta pela cidadania da pessoa com deficiência mental
- 1. 1 MOVIMENTOS SOCIAIS E CIDADANIA: QUANDO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL FALA NA PRIMEIRA PESSOA DO SINGULAR Tânia Regina Levada Neves1 INTRODUÇÃO A trajetória histórica da construção da imagem da pessoa com deficiência mental impulsiona, ainda hoje, de forma significativa a visão que se tem dessa população. O imaginário faz vislumbrar um grupo de pessoas infantis, sem condições de participação e de efetivação de suas próprias escolhas. Os movimentos organizados e conduzidos por pessoas com deficiência mental em vários países vêm mostrando que, quando existe a igualdade de oportunidade para a participação, a própria pessoa se auto-representa numa ação mais direta e objetiva. Os resultados se apresentam muito mais concretos, uma vez que partem não de suposições mas de vivências e experiências dentro da própria deficiência. O texto que segue procura mostrar parte da história dos movimentos sociais, buscando situar a pessoa com deficiência mental como alguém que, estimulada, incentivada e apoiada, fala na “primeira pessoa do singular”, ou seja, pode ser constituída com auto-advogado, garantindo direitos e deveres, ampliando o seu próprio conceito de cidadania e levando a uma reflexão sobre o real conceito da palavra inclusão. NUMA LONGA CAMINHADA, O PRIMEIRO PASSO... Os movimentos sociais têm se caracterizado por terem em seu bojo alguns aspectos essenciais. Podemos dizer que para que, um movimento seja caracterizado como movimento social, deverá ser analisado dentro dos seguintes aspectos : a) representar uma ação grupal voltada para uma transformação; b) ter sua dinâmica voltada para a realização dos mesmos objetivos; 1 Doutoranda do programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos. Professora de Metodologia de Pesquisa Científica do Curso de Direito das Faculdades COC/Ribeirão Preto. E.mail: levada@universe.com.br
- 2. 2 c) ter a orientação mais ou menos consciente de princípios valorativos comuns; d) ter uma organização diretiva mais ou menos definida. Um movimento exige uma organização pré-determinada para que possa assumir o formato de social. Um outro aspecto a ser considerado é a questão do grupo envolvido nos movimentos sociais. Na descrição de Scherer-Warrem2 podemos falar em movimentos sociais quando grupos oprimidos partem em busca de sua libertação dentro das relações sociais comandadas pela dialética opressão/libertação. Segundo Scherer-Warrem3 o ”... ideal básico que substancia o agir destes novos movimentos sociais é o da criação de um novo sujeito social, o que redefine o espaço da cidadania”. Assim definidos, podemos identificar hoje como movimentos sociais a mobilização estabelecida pelas pessoas portadoras de deficiência (grupo oprimido), organizado com o objetivo de lutar pelo estabelecimento de uma cidadania plena, dentro de uma dinâmica de movimento que leva até a sociedade como um todo as necessidades e reivindicações do grupo com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades. Definido como grupo de oprimidos, o grupo das pessoas com deficiência foi acobertado pelo silêncio histórico por muito tempo, sofrendo conseqüências por atitudes de discriminação e segregação, incompatíveis com a idéia de cidadania e direitos humanos plenos. Escondidos da sociedade pela própria família ou isolados em instituições segregadoras, as pessoas com deficiência tiveram poucas oportunidades de participação na construção social. Dessa forma, podemos verificar com facilidades fatos tais como: as cidades foram organizadas e construídas para o modelo ideal de pessoa, cujos atributos físicos, sensoriais e mentais não devem constituir impedimento para qualquer tipo de participação. As ruas, os edifícios, as igrejas são enfeitadas com longas escadarias; as beiradas de calçadas são ornamentadas com floreiras com plantas cujas folhas se espalham exigindo um desvio; os orelhões são colocados sobre 2 Scherer-Warrem, 1987 3 Scherer-Warrem, 1996, p.54
- 3. 3 suportes que não permitem dimensionar o seu tamanho real; os ônibus são todos iguais, não permitindo sua identificação pela cor; as portas de garagem não são sinalizadas com som ou com luz para alertar o pedestre. Essas citações constituem uma mínima parcela dos impedimentos que a pessoa com deficiência encontra no seu dia a dia. Por terem consciência de suas possibilidades de participação plena e dos impedimentos criados pelo próprio homem e por sentirem no próprio cotidiano os efeitos da desinformação e do preconceito, as pessoas com deficiência resolveram se unir em movimentos de reivindicação e esclarecimento, ou seja, em movimentos sociais, cujo objetivo é a luta pela igualdade de oportunidades. Essa igualdade, preconizada pelas Normas Sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência (ONU)4, tem sido incansavelmente citada. Porém, na maioria das vezes, não passa de uma lei de papel para um cidadão de papel, parafraseando Gilberto Dimenstein. E foi para fazer valer a lei, tirando do papel e trazendo para o real os direitos, que as pessoas com deficiência iniciaram uma luta que, se apenas deflagrada, já permite um novo olhar sobre essa população. No final do ano de 1978 encontramos, pela iniciativa individual de um parlamentar5, a primeira tentativa significativa de garantia de direitos às pessoas com deficiência, tentativa essa com efeitos minorizados pela não participação das bases interessadas. A própria pessoa com deficiência esteve ausente do processo, o que não permitiu um resultado mais contundente. Até 1986, com o objetivo de organizar uma proposta que envolvesse as pessoas com deficiência, seus direitos e garantias para a nova Constituição Federal, entidades de deficientes estiveram reunidas para a elaboração de um documento a ser apresentado às comissões. Entre essas entidades podemos citar a FEBEC- Federação Brasileira de Entidades de Cegos, a ONEDEF – Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, a FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (entre outras). Esse documento, com quatorze itens apontados foi acatado em sua quase totalidade, 4 ONU, 1994 5 Emenda n.12 de 17 de outubro de 1978 - Deputado Thales Ramalho
- 4. 4 passando seu conteúdo a fazer parte da Constituição Federal de 1988. Apesar dessa inclusão no texto constitucional, a grande maioria dos itens depende de regulamentação sendo para isso necessária força dos movimentos organizados, cujo poder de pressão e mobilização impulsionará o processo. Atualmente, entre os movimentos sociais organizados e que abrangem pessoas com deficiência e pessoas ligadas à deficiência por motivos variados (pessoais, profissionais), podemos destacar na realidade brasileira duas formas de organização: os Conselhos de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDDPDs) e as Organizações Não Governamentais (ONGs). Através do estudo do funcionamento, organização e objetivos dessas duas formas de mobilização da população portadora de deficiência, pode-se traçar um quadro que permitiu analisar a real participação da própria pessoa com deficiência nos movimentos, sejam eles reivindicatórios ou de prestação de serviços. CONSELHOS - UMA FORMA DEMOCRÁTICA DE LUTA POR DIREITOS Um estudo sobre a luta pela conquista da cidadania da pessoa com deficiência teve a obrigatoriedade de passar pelo conhecimento dos “Conselhos de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência” que estão sendo organizados nas várias esferas da administração pública, ou seja, federal, estadual e municipal. O estudo teve como objetivo a realização de uma análise comparativa dos Conselhos. Tal análise justifica-se pela necessidade de uma avaliação da capacidade de atuação dos Conselhos, especialmente porque se supõe que eles devam estar voltados para permitir a conquista da cidadania plena, ápice da inclusão social, garantindo a igualdade de oportunidades de participação e atendimento a necessidades de caráter coletivo. O procedimento consistiu em coletar e analisar os textos legais de implantação dos Conselhos com a finalidade de analisar potenciais influências destes na construção da cidadania do deficiente no âmbito da sociedade brasileira. Essa análise foi feita a partir de textos legais, sendo realizado um
- 5. 5 estudo comparativo dos dispositivos, especialmente no que tange aos objetivos, composição e procedimento de escolha dos representantes. 1) QUANTO AOS OBJETIVOS: De maneira geral, os objetivos constantes nas Leis e Decretos analisados dão uma idéia de organização voltada para a defesa de direitos da pessoa com deficiência, luta pela melhoria da qualidade de vida, pela transmissão de informações corretas à população como um todo e à própria população de pessoas com deficiência, proposição e fiscalização de Políticas Públicas, bem como manter a Administração Pública informada sobre as necessidades e as ações voltadas para essa população específica. 2) QUANTO À COMPOSIÇÃO: A formação do corpo de conselheiros é bastante diversificada. Enquanto alguns Conselhos têm a participação maciça de representantes de órgãos governamentais, deixando pouco espaço para a sociedade civil, outros têm como corpo de conselheiros exclusivamente pessoas com deficiência, cuja função é estabelecer contatos com os órgãos governamentais responsáveis pela implementação das políticas requeridas pelo Conselho. Interessante salientar que alguns Conselhos facultam a participação de pessoas com deficiência mental enquanto outros ou não têm essa população incluída ou autorizam apenas seus representantes legais. Também o número de conselheiros é bastante diversificado, indo de um total de oito titulares e oito suplentes até um total de quarenta membros. O que pode ser observado é que, quanto maior o número de conselheiros, menor a participação de pessoas com deficiência. 3) QUANTO AO PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS: Na representação da área governamental, a forma adotada é a indicação pelos Secretários ou pelo próprio Administrador, seja ele o Prefeito, o Governador ou outra autoridade governamental. Quanto às instituições, não existe uma forma determinada de escolha dos representantes. No que tange às pessoas com
- 6. 6 deficiência existe em alguns textos a determinação para que a escolha seja feita em assembléias realizadas por categorias. Pela análise realizada, pode-se observar que os CDDPDs constituem uma tentativa de dar à pessoa com deficiência o direito a voz e voto. Sendo que os Conselhos devem caracterizar-se pela possibilidade de participação plena das pessoas com deficiência como conselheiros, quando estarão discutindo e propondo políticas públicas, é importante garantir a qualquer pessoa o direito a voz, limitando-se o direito ao voto ao corpo de conselheiros.E, ainda que esse fato dê uma certa abertura à participação da pessoa com deficiência é importante que essa participação seja permitida nos momentos de tomada decisão. Outro ponto interessante a ressaltar é que ainda é grande o preconceito existente em relação ao portador de deficiência mental. Considerado incapaz de decidir suas necessidade e estabelecer prioridades, os textos legais limitam a participação dessas pessoas através de seus representantes legais, um equívoco a ser esclarecido, pois nem sempre o representante defende os interesses de seu representando, ainda que legalmente esteja falando por ele. Finalizando, podemos afirmar que os Conselhos constituem a marca de um processo histórico democrático. A participação da sociedade civil interessada na discussão de seus problemas e na proposição de soluções faz parte de um processo participativo do próprio cidadão, em parceria com o Estado, o que contraria qualquer orientação governamental autoritária. É, porem, importante garantir que os Conselhos estejam acima de qualquer interesse do próprio Governo ou de facções partidárias, constituindo um espaço democrático de discussão em torno de questões de interesse comum aos seus membros e à própria sociedade como um todo. Entretanto, um ponto deve ser ressaltado: muitas iniciativas de solucionar questões relacionadas a pessoas com deficiência não tiveram êxito pela exclusão dos interessados nas discussões. As soluções, discutidas nas mais altas esferas e dentro dos próprios CDDPDs por técnicos, chegam às pessoas com deficiência como soluções mágicas, o que muitas vezes não constitui a verdade. Dessa
- 7. 7 forma, inúmeras decisões passam para ao arquivo, permanecendo engavetadas e dando a impressão de um trabalho intenso. Muito ainda se deverá caminhar para chegar ao ideal retratado por ADUAN6, que afirma: “O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoas Portadora de Deficiência, composto por mulheres e homens cujas vidas demonstram que a deficiência pode tornar-se eficiência, honra a cidade por suas ações coerentes e merece, além de nossos elogios, o nosso agradecimento pela contribuição que dá ao fortalecimento de nossos cidadãos.” ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS – ORGANIZANDO A SOCIEDADE CIVIL As organizações não governamentais (ONGs) constituem hoje um importante canal de organização da sociedade civil que procura, dessa forma, suprir as lacunas deixadas pelo atendimento governamental nas mais variadas áreas de atuação. Segundo Scherer-Warrem7, as “ONGs atuam politicamente de acordo com a lógica transformadora dos movimentos sociais” devendo, por isso, ser consideradas e analisadas como movimentos que têm a possibilidade de exercer a função de defesa e garantia de direitos. A partir da década de 80, as associações DE e PARA deficientes passaram a representar um papel fundamental que veio possibilitar a participação das pessoas com deficiência (ou seus representantes) nos movimentos reivindicatórios. A análise documental das ONGs permitiu perceber como essas organizações refletem a idéia que elas incorporam da pessoa com deficiência e das necessidades dessa população. O estudo, avaliando quem são os atores que impulsionam os movimentos que elas representam, permitiu perceber a participação de pessoas com deficiências como um indicador importante da legitimidade e representatividade 6 Wanda Engel Aduan, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social – Cidade do Rio de Janeiro- 1997-GESTÃO Prefeito Luiz Paulo F. Conde 7 1999, p.80
- 8. 8 dessas instituições. Entretanto, ainda está longe de ser ideal o reconhecimento das associações como organizações de apoio e assessoramento pelos órgãos responsáveis pela elaboração e execução das políticas de atendimento. Grande parte das pessoas com deficiência continuam não fazendo parte dessas associações. Exemplificando, podemos afirmar que, em relação à pessoa com deficiência mental, apenas um documento menciona a possibilidade de participação como membro da diretoria. Dessa forma, as associações, ainda com resquícios de assistencialismo e paternalismo, permitem denunciar em parte o descrédito de que a pessoa com deficiência possa ser gerenciadora de suas próprias ações. “Esse assistencialismo cria a imagem do portador de deficiência como uma pessoa incapaz de tomar conta de seu próprio destino e fazer suas próprias reivindicações reforçando ainda mais o estereótipo já existente de que ou somos incapazes ou “apesar de tudo” somos um “exemplo de vida.” 8 A VOZ DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DOS DIRIGENTES – O ECOAR DOS DIREITOS A imagem que a sociedade faz de uma pessoa determina a atitude que se espera dela e a sua própria auto imagem. Uma pessoa estigmatizada terá poucas chances de mostrar seus atributos, uma vez que a imagem que a sociedade faz dela não é coincidente com aquilo que ela pode fazer ou dizer. Assim vamos encontrar em Goffman9: “...um indivíduo que poderia ser facilmente recebido na relação social cotidiana, possui um traço que pode se impor à atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma característica diferente da que havíamos previsto.” A pessoa com deficiência tem sido vítima desse estigma. Tidos como desviantes, desiguais, incapacitados, tiveram sua imagem freqüentemente ligada a situações que exigiam assistencialismo, pena, repulsa ou qualquer outro 8 Nascimento, SD. 9 1982, p14
- 9. 9 sentimento de desvalorização do seu lado humano, constituído pela imagem do indivíduo que pensa, escolhe, consegue estabelecer diretrizes e metas para sua própria vida. Essa imagem estigmatizada determinou a formação da identidade da pessoa com deficiência. E a partir da imagem que a sociedade criou e solidificou sobre a população de pessoas com deficiência foram organizadas todas as ações. Nesse processo de estigmatização, as pessoas com deficiência mental são as mais prejudicadas. Se ao longo da história as pessoas com deficiência mental foram vistas como incapazes. “eternas crianças” apenas merecedoras de cuidados e proteção, hoje essa imagem se modifica e se pode perceber um grupo de pessoas em busca da cidadania, buscando sua reordenação dentro da organização social, aumentando a distância entre o paradigma da exclusão e o paradigma da inclusão de forma muito evidente. Analisando assim, não seria um disparate dizer que a pessoa com deficiência mental tem plena consciência de suas necessidades e pode indicar os caminhos para a solução das injustiças às quais está exposta, bastando apenas dar a ela a oportunidade de fazer uso de sua voz nas discussões para que possa apontar suas necessidades a partir do respeito às diferenças. Quando se busca escutar a sociedade e pessoas que estão de alguma forma ligadas aos movimentos sociais voltados para as pessoas com deficiência, fica clara a idéia de que a pessoa com deficiência mental não está apta a participar de um processo reivindicatório. Essa idéia está presente na organização da maioria dos movimentos que envolvem as pessoas com deficiência e vem prejudicando sistematicamente essa população. A manutenção desse preconceito e a não oportunidade para participar efetivamente tem colocado as pessoas com deficiência mental em um círculo fechado de atuação, do qual algumas pessoas não deficientes têm amplo controle. A pessoa com deficiência mental, não conseguindo ser ouvida ou sequer levada a sério, conforma-se e acomoda-se numa situação de dependência que, longe de ser positiva, permite a infantilização extremada, transformando homens e mulheres em eternas crianças, cuja atuação
- 10. 10 fica restrita a atividades sem qualquer significado ou utilidade, numa ação inócua e improdutiva. AUTO-ADVOCACIA – UMA NOVA PROPOSTA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL A partir da década de 80 podemos observar o crescimento, nos países desenvolvidos, do movimento pela auto-advocacia iniciado pelas pessoas com deficiência mental. O termo AUTO-ADVOCACIA representa o envolvimento da própria pessoa com deficiência mental na defesa de seus direitos e na expressão de suas necessidades. E é com essa idéia que o movimento visa equipar as pessoas com deficiência mental para que possam ser gerentes de sua própria vida, fazendo valer a sua opinião nas decisões que lhe dizem respeito e que, na grande maioria das vezes, irão determinar a sua cidadania. O movimento de auto-advocacia surge revestido da idéia de organização de grupos para exercer pressão e realizar conquistas, embasado em movimentos que lutam pelos direitos humanos e garantias de grupos minoritários. São iguais que se unem para defender interesses comuns e estabelecer políticas de atendimento de cunho coletivo. O movimento de auto-advocacia representa a luta pela cidadania, num movimento praticado por pessoas com deficiência mental, individualmente ou em grupos: indivíduos e grupos que, apoiando-se mutuamente, buscam melhoria de vida e garantia de direitos para todos que se encontram nas mesmas condições, não limitando as ações a um grupo diferenciado, devendo o movimento ser aberto a todo aquele que queira participar, ainda que haja muita dificuldade inicial. O estigma da incapacidade, porém, que esteve presente durante séculos na realidade dessa população, deixou uma profunda marca difícil de ser combatida. O descrédito e a impossibilidade de exercer o direito de participação ativa constituem ainda uma realidade a ser combatida.
- 11. 11 “Pessoas com deficiência mental necessitam de tempo e um suporte forte para desenvolver habilidades para participar no processo democrático que envolve o trabalho de um grupo. O movimento People First tem mostrado que até as pessoas com deficiências mais graves podem participar. Alguns oferecem apoio com a sua presença. Outros, como pessoas com Síndrome de Down, são membros de comitês e secretarias dos grupos e competentes expositores.”10 Ainda hoje, as barreiras que se impõem a esse movimento são muitas e dificultam a concretização do objetivo das pessoas com deficiência mental em firmar-se como capazes de estabelecer suas próprias diretrizes de vida, como qualquer pessoa. Entretanto, quando se toma ciência das oportunidades que o movimento vem dando a esse grupo de pessoas no sentido de configurar-se como cidadãos participantes, é impossível negar a sua importância para o processo de inclusão social. Podemos afirmar que, estimuladas e apoiadas, as pessoas com deficiência mental conseguem mostrar a importância de terem voz própria para expor suas necessidades e expectativas, deixando claro que muitas vezes, quando são representadas, não vêem representados também seus anseios de cidadania. Quando têm a oportunidade de expor suas expectativas, diferentemente daquilo que supõe o senso comum, as pessoas com deficiência mental anseiam por oportunidades de trabalho, de estudo e de convivência em condições de igualdade em relação a outras pessoas. E a forma como isso pode e deve ser feito precisa ser estabelecida através delas próprias, pois só a elas é possível a real experiência de serem pessoas com deficiência mental, que lidam na vida diária com a atitude das outras pessoas nas mais variadas situações. Só a elas é possível a avaliação da sensação de ser um adulto tratado como criança eterna, sem possibilidade de ter seus direitos de participação respeitados. No trabalho de auto-advocacia, as pessoas com deficiência mental conseguem ganhar aquilo que mais necessitam: o respeito como seres humanos. Longe do assistencialismo, do paternalismo, da infantilização, essas pessoas querem ser vistas como adultos que podem (e devem) defender seus diretos e ter seus deveres no dia a dia como qualquer outra pessoa. 10 Williams & Shoultz,1982: p.64
- 12. 12 Como foi dito ao início, os movimentos sociais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência vêm assumindo um papel cada vez mais importante e significativo, cuja finalidade é advogar a garantia dos direitos fundamentais básicos e os serviços necessários para assegurar uma inclusão social ampla. A despeito da constatação bastante positiva da existência dessas organizações, os atores desses movimentos, apesar de reconhecerem a importância de incentivá-los, apontam ao mesmo tempo a necessidade de mudar a natureza paternalista, assistencialista, fragmentada e corporativista dos próprios movimentos a fim de ampliar a participação das pessoas com deficiências no âmbito dos mesmos. Essa natureza individualista, paternalista e assistencialista dos movimentos é mais crítica quando se trata de portadores de deficiência mental. Conforme aponta Glat11: “O poder exercido pelos especialistas sobre as pessoas com deficiência mental é de natureza autocrática e paternalista. Mesmo nas associações e movimentos em prol dos direitos dos excepcionais, a participação destes, conforme foi discutido, é praticamente inexistente.” A autora aponta ainda que o paternalismo e o autoritarismo frente às pessoas com deficiência mental estão institucionalizados: “Esse poder se manifesta de diversas maneiras: em termos administrativos, decidindo sobre a alocação de recursos e política institucional; em termos clínicos, determinando o tipo de tratamento e os métodos educacionais que o cliente receberá; em termos acadêmicos, formulando as teorias e concepções a respeito da natureza e causa das deficiências, assim como a formação da próxima geração de especialistas.”12 Tem-se, assim, uma visão da interferência excessiva de pessoas sem deficiência nos processos decisórios, em particular profissionais a quem se atribui a tarefa de decidir sobre fatos muitas vezes até corriqueiros, sem consultar a própria pessoa com deficiência mental. Acrescente-se aos profissionais que atuam com a deficiência mental os familiares dessas pessoas. Na maioria das vezes imbuídas de muita abnegação e 11 1989; 24. 12 Glat,1989;p.24
- 13. 13 voltadas para a preservação da pessoa frente à sociedade, não permitem que a pessoa participe do processo de amadurecimento do qual ela pode ser capaz, impedindo sua manifestação nos momentos de decisão sobre seu próprio destino, sobre as coisas que lhe são agradáveis (ou não), sobre as responsabilidades que lhe vão caber para que possa exercer seu direito de participação. Os familiares parecem agir sem qualquer intenção danosa, mas com a clara intenção de resguardar. Entretanto, os portadores de deficiência mental: “...continuam calados em seu canto, passivamente recebendo o que lhe é oferecido pelo conjunto de pessoas – profissionais e familiares – que atuam como intermediários em sua relação com o mundo exterior. Cristaliza-se assim um círculo vicioso: não se dá espaço para o deficiente mental falar – ele fica calado – continua-se falando por ele, pois ele não tem nada a dizer.”13 Além disso, o que se pode verificar é que, apesar do pleno conhecimento que se tem da importância do processo educacional na formação do cidadão participante, quando se trata da educação para a cidadania de pessoas com deficiência mental essa visão parece dificultada. A interação entre os movimentos educacionais e os movimentos sociais, ainda não tem o sentido abrangente que se postula. A educação, que deveria dar à pessoa com deficiência mental a possibilidade de uma visão universal de ser, estar e fazer que a libertasse do assistencialismo, limita-se a um número significativo de ações particulares, cujo objetivo é resolver problemas imediatos e individuais, muito distante do caráter universal e social . Olshansky14 afirma que muito do que se é depende da qualidade e freqüência de oportunidades. Isso aponta para a necessidade de abrir espaços para que a pessoa com deficiência mental possa participar, ela mesma, do processo de construção de políticas de atendimento com caráter não segregacionista. A falta de oportunidade de participação constatada no âmbito dos movimentos permite questionar seriamente se as pessoas com deficiência mental não estão sendo subestimadas em sua capacidade de participação. Não seriam 13 Glat-1989:p.25 14 (apud Glat,1989:p.25)
- 14. 14 os próprios movimentos (e as pessoas neles envolvidas) os responsáveis pela não concessão de oportunidades à essa população para que venham a participar de discussões e com isso conseguir desenvolver um processo de integração/inclusão muito mais concreto do que o que se tem presenciado? Negar o direito de participação nos movimentos instituídos na sociedade é negar que as pessoas com deficiência mental possam estar integradas, o que acaba por se transformar em uma idéia conflitante e incoerente. Principalmente porque, no movimento de auto-advocacia, tem-se a confirmação das possibilidades de participação coerente e segura por parte dessa população. No Brasil, estamos distantes da idéia de auto-advocacia da pessoa com deficiência mental. Ainda que muito tenha sido conquistado, que o país tenha uma das mais modernas e completas legislações, muito falta para permitir a participação plena dessa população específica. E, em tempos de inclusão e de propostas de sociedade inclusiva, constitui uma atitude conflitante negar a um cidadão a oportunidade de tomar suas próprias decisões. Pelo contrário, muito longe da idéia de incluir socialmente está a postura de não dar voz aos maiores interessados e àqueles que terão sua vida definitivamente determinada pelas atitudes que possam vir a ser tomadas. Se hoje se propagam as idéias de uma democracia participativa, determinada esta pela Constituição Federal, apontando para a concretização de um processo de construção de uma sociedade mais justa, como deixar de lado e negar o direito de participação a parcela da população constituída pelos portadores de deficiência mental que até hoje colhe as conseqüências de posturas preconceituosas? Se a meta em relação às pessoas com deficiência mental é incluir e permitir a igualdade de oportunidades sociais, não se pode nem mesmo falar de uma participação simbólica na qual o indivíduo estaria representado, mas sim de uma “participação ativa não só nas ações desenvolvidas, mas também na planificação/concepção das mesmas e nos processos decisórios.” 15 Além disso, esse conceito de participação deve estar definitivamente atrelado ao conceito de empowerment, o qual, segundo Silva (1998), permitirá 15 Silva,1998: p.194
- 15. 15 potencializar as possibilidades de participação de uma população anteriormente passiva. Assim, possibilitando que as pessoas com deficiência mental se sintam valorizadas e tenham capacidade para constituírem-se como ”agentes causais na 16 procura de soluções para os seus problemas” , permite-se que eles próprios possam constituir-se em “agentes para a resolução tanto das suas necessidades imediatas quanto da modificação das suas condições de vida” 17. Essa posição é importante se levarmos em consideração que as representações negativas que a própria pessoa com deficiência mental tem de si são muitas vezes fator de impedimento para uma inclusão ampla, com segurança e com condições de participação plena. Dar oportunidade de fazer uso de seu poder para decidir, valorizando habilidades e capacidade de participação, é a melhor forma de mostrar às pessoas com deficiência mental e à sociedade as suas potencialidades para modificar os seus contextos de vida18. A pessoa com deficiência mental deve ter a oportunidade de poder considerar a ela mesma como um indivíduo do mundo, para que se possa permitir a participação ativa. É preciso dar a ela a oportunidade de se adaptar ao que propaga Paulo Freire: “A consciência do mundo, que viabiliza a consciência de mim, inviabiliza a imutabilidade do mundo. A consciência do mundo e a consciência de mim me fazem ser não apenas no mundo mas com o mundo e com os outros. Um ser capaz de intervir no mundo e não só de a ele se adaptar. É nesse sentido que mulheres e homens interferem no mundo enquanto outros animais apenas mexem nele.”19 Ainda buscando Paulo Freire, podemos estender suas colocações sobre as classes populares às pessoas com deficiência mental: “Coerente com a minha posição democrática estou convencido de que a discussão em torno do sonho ou do projeto de sociedade por que lutamos não é privilégio das elites dominantes nem tampouco das lideranças dos partidos progressistas. Pelo contrário, participar dos debates em torno do projeto diferente 16 Payne apud Silva,1998:p.196 17 Payne apud Silva,1998:p.196. 18 Silva,1998 19 Freire, 2000:p.42
- 16. 16 de mundo é um direito das classes populares que não podem ser puramente “guiadas” ou empurradas até o sonho por suas lideranças.”20 Os movimentos de pessoas com deficiência precisam resgatar, na pessoa com deficiência mental, nos dirigentes e na sociedade como um todo, o crédito na pessoa com deficiência como cidadão com deveres e direitos. Garantias legais existem e já mostraram que, pela simples existência, não são suficientes para garantir a participação e a equiparação de oportunidades. Dar a voz a essa população talvez seja a única forma de organizar políticas públicas conscientes e coerentes com as suas necessidades de participação social. Com essa postura, demonstra-se que qualquer pessoa pode e deve ser o guia de sua própria vontade, de seus sonhos, sem limitações. Entretanto, fica no ar a pergunta exposta pelo Professor Dybwad: “Não importa perguntarmos se as pessoas estão habilitadas para expressar-se; cabe, sim, perguntar a nós mesmos: estamos preparados para ouvi-las ?”21 20 Freire, 2000:p.43 21 (Williams & Shoultz,1984:p.65)
- 17. 17 BIBLIOGRAFIA ASSEMBLÉIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS Programa ação mundial para as pessoas com deficiência – 03 de dezembro de 1982. BIELER, R. (org.) Ética e legislação: os direitos das pessoas portadora de deficiência no Brasil Rio de Janeiro: Rotary Club,1990. BORDENAVE, J.E.D. O que é participação – São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. BRASIL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Lei nº 7853/89 e Decreto nº 914/93 – Os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Brasília, 1996 BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 1998. CECCIM, S.A. Exclusão e alteridade:de uma nota de imprensa a uma nota sobre deficiência mental – in SKLIAR, C.(org.) – Educação e exclusão: abordagens sócio-antropológicas em educação especial. Porto Alegre: Editora Mediação, 1997. CLEMENTE FILHO, A.S. Participação da comunidade na integração do deficiente mental Brasília: Departamento de documentação e divulgação, 1977. COTRIM, G. História e consciência do mundo. São Paulo: Editora Saraiva, 1994. CRESPO, A.M.M. Pessoas com deficiência e a construção da cidadania www.aibr.com.com/infoserve - disponível em 18/07/1999. Declaração de Salamanca e Linha de ação: sobre necessidade educativas especiais Brasília:CORDE, 1994. Decretos e Leis de Criação de Conselhos de Defesa de Direitos de Pessoas Portadoras de Deficiência: Âmbito federal- Decreto nº 3.076/99;Âmbito Estadual- Decreto nº 2.741/83 ( Pará), Decreto nº 40.495/95 ( São Paulo), Lei nº 2.525/96 ( Rio de Janeiro); Âmbito Municipal- Lei nº 11.315/92 (São Paulo), Lei nº 35/90 (São Carlos), Lei Complementar nº 348/94 (Ribeirão Preto), Lei nº 1.041/89 (Rio de Janeiro), Lei nº 5.320/00 (Franca), Lei Municipal nº 789/98 (Santópolis do Aguapeí), Lei nº 799/91 (Santos), Lei nº 8.126/93, artigo 4º (Curitiba), Lei nº 6.953/95 (Belo Horizonte), Lei nº 7.462/96 (Santo André) DIAS, T.R.S. & OMOTE, S. A entrevista em Educação Especial in:Temas em Educação Especial 1 São Carlos: UFSCar, 1990. DIMENSTEIN, Gilberto O cidadão de papel São Paulo: Editora Ática, 1996. Estatutos e Regimentos de Associações de e para Deficientes
- 18. 18 FREIRE, P. Pedagogia da indignação. São Paulo: Editora UNESP, 2000. GLAT, R. Somos iguais a vocês: depoimentos de mulheres com deficiência mental. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1989. GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1988. MOISÉS, J.A. Cidade, povo e poder Rio de Janeiro: Co-edições CEDEC/Paz e Terra, 1985. NASCIMENTO, R.B. Inclusão e cidadania www.aibr.com/infoserve – disponível em 18/071999. Participación en le vida de la famillia y de la comunidad: toma de posición Liga Internacional de Asociaciones en favor de las Personas con Deficiencia Mental, 1985. PINSKY, J.(org.) 12 faces do preconceito. São Paulo: Editora Contexto, 1999. PINSKY, J. Cidadania e educação. São Paulo: Editora Contexto, 1999. PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO Pessoa Portadora de Deficiência – Legislação – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1997. QUEIROZ, Renato da Silva Não vi e não gostei – São Paulo: Editora Moderna, 1996. RIBAS, J.B.C.Viva a diferença ! Convivendo com nossas restrições ou deficiências. São Paulo: Editora Moderna.(1995). ____________.O que são pessoas deficientes. São Paulo: Editora Brasiliense (1994). SCHERER-WARREM, I. Movimentos Sociais. Florianópolis: Editora da UFSC. (1987) ___________________ Redes de movimentos sociais. São Paulo: Edições Loyola (1996) ___________________ Movimentos em cena... e as teorias por onde andam ? - GT3, XXI Encontro Anual da ANPED, Caxambu. (1998) ___________________ Cidadania sem fronteiras. São Paulo: Editora Hucitec (1999) SCHERER–WARREM I. & KRISCHKE,P.J “Uma revolução no cotidiano? São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. SILVA, M.D.M. Empowerment: possível estratégia da prática profissional em direção à cidadania activa in “Serviço Social autárquico e cidadania: a
- 19. 19 experiência da região centro” . Dissertação de mestrado em Serviço Social - Lisboa, ILSSL, 1998. VIVOT, A.R. Considerações sobre a situação organizacional de entidades representativas de pessoas portadoras de deficiência. Brasília: CORDE, 1994. WILLIAMS, P. & SHOULTZ,B. We can speak for ourselves. Londres Souvenir Press, 1982.
