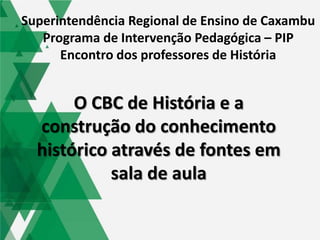
A Alfabetização Histórica e a construção do conhecimento através de fontes
- 1. O CBC de História e a construção do conhecimento histórico através de fontes em sala de aula Superintendência Regional de Ensino de Caxambu Programa de Intervenção Pedagógica – PIP Encontro dos professores de História
- 3. Como o CBC se organiza? A organização do CBC, seguindo a noção de “complexus”(aquilo que é tecido junto), abandona a visão linear de uma lista de conteúdos e se organiza em forma de uma rede (hipertexto), possibilitando a construção de diferentes caminhos a partir da sua estruturação.
- 4. O que significa um hipertexto? É um texto que bifurca, que permite que seja o leitor a eleger o melhor caminho de leitura. Trata-se de uma série de blocos de textos conectados entre si e que formam diferentes itinerários para o leitor. Com isso faz com que os blocos se distanciem da linearidade da página e se pareçam mais com uma rede.
- 5. Como se dá essa rede? 1º: Pelo recorte de EIXOS TEMÁTICOS Esses eixos expressam recortes da visão sistêmica e têm sido elaborados de modos bastante diferenciados. Normalmente não passam de três ou quatro, pois é em torno deles que giram os saberes.
- 6. HISTÓRIA Proposta de Conteúdo Básico Comum Ensino Fundamental Eixo Temático I: Histórias de vida, diversidade populacional e migrações Eixo Temático II: Construção do Brasil: Território, Estado e nação Eixo Temático III: Nação, trabalho e cidadania no Brasil
- 7. 2º: Pela seleção de temas e subtemas Representam aspectos mais abstratos em que um eixo pode ser dividido. São em número reduzido. De acordo com os PCN, um tema estruturador é “Um conjunto de temas que possibilitam o desenvolvimento das competências almejadas com relevância científica e cultural e com uma articulação lógica das ideias e conteúdos.”
- 8. Exemplo de História EF Eixo temático III – Nação, Trabalho e Cidadania no Brasil Tema 1: A Era Vargas (1930-1945): fortalecimento do Poder Central, a Nação Brasileira “re-significada” e a Cidadania Subtema 1 – A Revolução de 1930, Estado e Industrialização: os avanços e recuos da cidadania, extensão dos direitos sociais X cerceamento dos direitos políticos e civis
- 9. 3º: Dos temas decorrem os tópicos TÓPICO – compreende e ou representa a menor unidade de conteúdo a ser trabalhado em sala de aula.
- 10. Como os tópicos são selecionados? O critério principal é a relevância do tópico dentro da estrutura lógica da disciplina. O segundo e não menos importante é o critério da sua aplicação no cotidiano. Pergunta básica: o tópico envolve um conceito que é fundamental para a compreensão de outros conceitos que sustentam a rede de conhecimento da disciplina?
- 11. Exemplo de História Eixo temático III – Nação, Trabalho e Cidadania no Brasil Tema 1: A Era Vargas (1930-1945): fortalecimento do Poder Central, a Nação Brasileira “re-significada” e a Cidadania Subtema 1 – A Revolução de 1930, Estado e Industrialização: os avanços e recuos da cidadania, extensão dos direitos sociais X cerceamento dos direitos políticos e civis Tópico: 18. A Era Vargas: autoritarismo, Estado e nação
- 12. 4º: Pelo delineamento das habilidades Na visão contemporânea da seleção de conteúdo cultural, as habilidades constituem o foco do trabalho do professor, portanto, seu conteúdo de ensino.
- 13. Como compreender as habilidades? Habilidades são conjuntos de possibilidades concretas e de repertórios em ação que expressam nossas conquistas específicas em relação a determinado conhecimento. Habilidade, portanto, refere-se ao plano imediato do saber fazer (operações mentais).
- 14. 18.1. Relacionar o autoritarismo do governo Vargas com a ascensão do nazi-fascismo. 18.2. Identificar as ambigüidades da política econômica nacionalista do governo Vargas. 18.3. Relacionar a II Segunda Guerra Mundial e a industrialização no Brasil. 18.4. Analisar e compreender os avanços e recuos da cidadania nesse período: extensão dos direitos sociais (direitos trabalhistas, ampliação do direito de voto) X cerceamento dos direitos políticos e civis (autoritarismo). 18.5. Analisar e compreender o processo de constituição de uma nova identidade nacional ligada à industrialização e à centralização do poder. 18.6. Analisar o papel da propaganda oficial para difusão do novo ideário nacional, utilizando os meios de comunicação (rádio) e as expressões artísticas (música, literatura, cinema).
- 15. O QUE É UMA REDE? http://goo.gl/r7jkc
- 19. PROJETO EM REDE O “segredo” está nas relações, nos infinitos caminhos que permitem ligar os conhecimentos uns aos outros Há que se ter um “ponto de partida” Os alunos têm que ser autores É fundamental a intencionalidade do trabalho docente.
- 20. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Compreender é apreender o significado Aprender o significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-lo em suas relações com outros objetos ou acontecimentos Os significados constituem , pois, feixes de relações As relações articulam-se em redes Conhecer é enredar (individual e coletivamente) Na rede não há hierarquia ou privilégios Rede não é cadeia
- 25. Como devem acontecer o ensino e a aprendizagem de História? Com teoria e metodologia apropriadas!
- 26. A Alfabetização Histórica. O CBC de História pauta-se sobre cinco diretrizes fundamentais: - Sintonia com as renovações historiográficas. -Desenvolvimento do Raciocínio Histórico. -Desenvolvimento da Perspectiva Temporal. -História-Problema - Projetos Interdisciplinares.
- 27. A Alfabetização Histórica. A alfabetização histórica se constitui na utilização de documentos no ensino-aprendizagem de História. Leva-se ainda em consideração a problematização como ponto focal da disciplina e não a exposição de conteúdo.
- 28. Acredita-se que o aluno, ao refletir e se posicionar diante de um documento, exercita habilidades necessárias para “se posicionar diante dos materiais que geralmente passam despercebidos no dia-a-dia, como fotografias, peças publicitárias, recortes de jornais, histórias em quadrinhos, caricaturas”, etc., uma vez que os pressupostos da leitura e interpretação de documentos são basicamente os mesmos necessários ao entendimento dos conteúdos e linguagens do mundo atual.
- 29. Alfabetizar historicamente é, ressalta-se, desenvolver o domínio de habilidades que proporcionem “condições para se ler os documentos do mundo” e “ousar ler o mundo como um grande documento sobre o qual cumpre atuar” (CERRI, 2004, p. 68).
- 30. Referências CERRI, Luis Fernando. Direto à fonte. Nossa história, maio 2004. _____________. A Cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução de Eloá Jacobina. 5ª Ed. – RJ. – Bertrand Brasil, 2001. SEFFNER, Fernando. Teoria, metodologia de ensino de História. Em: GUAZELLI, Cezar A. B. (org.). Questões de teoria e metodologia da História. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRES, 2000. MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. 3. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. 177p. ARAÚJO, Ulisses F. Temas transversais e a estratégia de projetos. São Paulo: Moderna, 2003 – Coleção Cotidiano Escolar.
- 31. • Material adaptado do Prof. Carlos Augusto Mistraud - MAGISTRA
- 32. Oficina Fontes
- 33. Grupo 1 – Deuses Gregos
- 34. Grupo 1 – Entidades Indígenas
- 35. Grupo 1 – Orixás
- 36. Grupo 1 1.3. Conceituar cultura, mestiçagem e hibridismo. Histórias de Vida, Diversidade Populacional e Migrações 1.2. Identificar a diversidade populacional presente em sala de aula, na escola e na localidade do aluno, em termos sociais, étnico culturais e de procedência regional; analisar e interpretar fontes que evidenciem essa diversidade. 1. População mineira e brasileira: várias origens, várias histórias
- 37. Grupo 2
- 38. Grupo 2
- 39. Grupo 2
- 40. Grupo 2 Histórias de Vida, Diversidade Populacional e Migrações 2. Primeiros povoadores: os ameríndios e suas origens 2.1. Caracterizar e diferenciar os povoadores de origem asiática (mongolóides) e de origem africana (negróides) e confrontar interpretações distintas sobre sua identidade. 2.2. Problematizar a distinção entre história e pré história. 2.3. Caracterizar e analisar a origem, evolução e diversidade da espécie humana.
- 41. Grupo 3 Oscar Pereira da Silva. Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, 1902.
- 42. Grupo 3 Victor Meirelles.Primeira Missa no Brasil, 1860.
- 43. Grupo 3 Subtema 2 - Transformações econômicas, diversidade populacional e colonização portuguesa no Brasil 7. Expansão econômica européia e descobrimentos marítimos nos séculos XV e XVI 7.1. Analisar o processo da expansão econômica e marítima européia nos séculos XV e XVI.
- 44. Grupo 3 8. O “sistema colonial” e a realidade efetiva da colonização: política metropolitana versus diversificação econômica e interesses locais Subtema 2 - Transformações econômicas, diversidade populacional e colonização portuguesa no Brasil 8.2. Analisar as contradições inerentes ao funcionamento do “sistema colonial” como projeto metropolitano que foi constantemente frustrado pelas especificidades e diversidade da América Portuguesa.
- 46. Grupo 4 D. Pedro II, 1851, 25 anos D. Pedro II, 1887, 61 anos
- 47. Grupo 4 Pedro Américo .D. Pedro II na abertura da Assembleia Geral, 1872.
- 48. Grupo 4 Construção do Brasil: Território, Estado e Nação 15. Mudanças sócioeconômicas, crise política e fim da monarquia 15.3. Analisar as tensões no interior do Estado: a Coroa em conflito com os militares e a igreja. VI. O Imperador e a Constituição de 1824: fundamentos jurídicos e políticos da monarquia • Compreender e analisar o processo de implantação da monarquia no Brasil e sua singularidade.
- 49. Grupo 4 14. Bases do estado monárquico e limites da cidadania: patrimonialismo, escravidão e grande propriedade 14.1. Analisar e compreender as bases socioeconômicas da monarquia brasileira, identificando continuidades e mudanças em relação à era colonial e à época atual. 12. Inconfidências e Brasil Joanino: movimentos de contestação e reorganização da relação metrópole/colônia 12.3. Identificar as decorrências da instalação da corte no Rio de Janeiro: centralização administrativa na Colônia, constituição de grupos de interesse no Sudeste brasileiro em torno da monarquia (a chamada “interiorização da metrópole”).
- 50. Grupo 5 Nação, Trabalho e Cidadania no Brasil 18. A Era Vargas: autoritarismo, estado e nação Subtema 1 – A Revolução de 1930, Estado e Industrialização: os avanços e recuos da cidadania, extensão dos direitos sociais X cerceamento dos direitos políticos e civis 18.2. Identificar as ambigüidades da política econômica nacionalista do governo Vargas. 18.5. Analisar e compreender o processo de constituição de uma nova identidade nacional ligada à industrialização e à centralização do poder.
- 51. Grupo 5 18.6. Analisar o papel da propaganda oficial para difusão do novo ideário nacional, utilizando os meios de comunicação (rádio) e as expressões artísticas (música, literatura, cinema). Nação, Trabalho e Cidadania no Brasil 18. A Era Vargas: autoritarismo, estado e nação Subtema 1 – A Revolução de 1930, Estado e Industrialização: os avanços e recuos da cidadania, extensão dos direitos sociais X cerceamento dos direitos políticos e civis
- 52. Grupo 5 XII. O rádio, o cinema, o carnaval e o futebol: a cultura de massas no Brasil Nação, Trabalho e Cidadania no Brasil Subtema 1 – A Revolução de 1930, Estado e Industrialização: os avanços e recuos da cidadania, extensão dos direitos sociais X cerceamento dos direitos políticos e civis • Compreender a constituição e difusão de uma cultura popular e, ao mesmo tempo, de uma cultura de massas, no Brasil da Era Vargas. • Conceituar cultura de massas e cultura popular.
- 53. Grupo 6 Nação, Trabalho e Cidadania no Brasil Subtema 1 – A Revolução de 1930, Estado e Industrialização: os avanços e recuos da cidadania, extensão dos direitos sociais X cerceamento dos direitos políticos e civis XII. O rádio, o cinema, o carnaval e o futebol: a cultura de massas no Brasil • Compreender a constituição e difusão de uma cultura popular e, ao mesmo tempo, de uma cultura de massas, no Brasil da Era Vargas. • Conceituar cultura de massas e cultura popular.
- 54. Grupo 6 Nação, Trabalho e Cidadania no Brasil 18. A Era Vargas: autoritarismo, estado e nação Subtema 1 – A Revolução de 1930, Estado e Industrialização: os avanços e recuos da cidadania, extensão dos direitos sociais X cerceamento dos direitos políticos e civis 18.6. Analisar o papel da propaganda oficial para difusão do novo ideário nacional, utilizando os meios de comunicação (rádio) e as expressões artísticas (música, literatura, cinema).
- 55. Grupo 6 Tema 2: A República Democrático-Populista (1945-1964): Avanços e Recuos da Cidadania, Guerra Fria e Internacionalização Econômica Subtema 1 – A Guerra Fria, a internacionalização da economia e a industrialização do Brasil 20. Avanços do capital estrangeiro e crise do populismo 20.2. Conceituar populismo. 20.1. Analisar a influência do capital estrangeiro na industrialização do Brasil e os embates internos entre “entreguistas” e “nacionalistas”.
